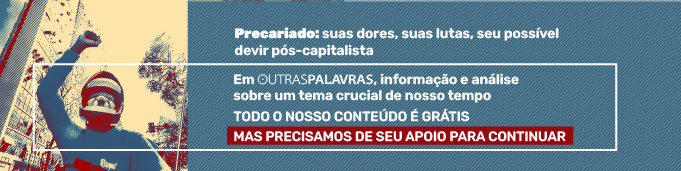O cinema singular de Lucrecia Martel
Obra da argentina, considerada uma das maiores cineastas da atualidade, é exibida em mostra em SP e Rio, com seu “método sutil, seu olhar oblíquo, sua estética da ambiguidade”
Publicado 29/03/2018 às 17:26

Mateus Nachtergaele em “Zama”, coprodução brasileira
Obra da argentina, considerada uma das maiores cineastas da atualidade, é exibida em mostra em SP e Rio, com seu “método sutil, seu olhar oblíquo, sua estética da ambiguidade”
Por José Geraldo Couto, no Blog do IMS
Entre os cineastas mais fortes e originais da atualidade está a argentina Lucrecia Martel, ainda que sua obra se resuma por enquanto a apenas quatro longas-metragens. Todos os quatro serão exibidos na mostra dedicada à diretora pelo Instituto Moreira Salles em São Paulo e no Rio.
Mais do que propriamente um estilo, o que unifica esses quatro filmes tão diferentes entre si em termos de enredo e ambientação é antes um método: um modo oblíquo e fragmentado de encarar os seres e as ações, como quem os colhe em pleno andamento e ainda busca os nexos que lhes deem sentido. Pois esse sentido não está dado de antemão, e o filme não se limita a ilustrar uma realidade já conhecida, ou uma história que poderia ser contada por outros meios. Ao contrário: cria, ele próprio, uma realidade possível (ou várias), em que tudo é esquivo e ambíguo, solicitando a inteligência e a sensibilidade do espectador a ligar pontos e fazer seu próprio desenho.
Algo que escapa
Em O pântano (2001), seu surpreendente longa-metragem de estreia, cruzam-se numa localidade do noroeste argentino personagens de duas famílias de uma classe média que já viveu dias melhores. É verão e boa parte do tempo é passada à beira da piscina do sítio de uma delas. Ruidosas crianças em férias, adolescentes inquietos e adultos atolados no tédio ou na embriaguez formam esse ambiente instável, em que nada parece muito firme ou muito claro.
Tudo é filmado de maneira a deixar de fora do quadro uma parte do que acontece, seja porque a câmera está próxima demais, captando fragmentos de corpos e de objetos, seja porque o espaço está obstruído por portas entreabertas, janelas, espelhos, móveis, paredes, árvores, ou ainda porque não ouvimos o que se fala ao longe. A par das bruscas elipses temporais, esse procedimento cria a sensação de que algo nos escapa, de que pegamos a conversa pela metade e de que saímos antes da conclusão do acontecimento.
Produz-se assim um mundo movediço, marcado pela ambiguidade nas relações pessoais, incluindo uma tensão erótica difusa – e ocasionalmente incestuosa – que permeia os contatos familiares e sociais. Há uma sensação geral de prisão invisível (como no Anjo exterminador de Buñuel), de gosmenta teia de aranha da qual não escapam nem mesmo as crianças em sua inquietude.
Duas figuras parecem desestabilizar essa paralisia geral: José (Juan Cruz Bordeu), o filho adulto da dona do sítio (Graciela Borges), e a criada adolescente Isabel (Andrea López), uma quase agregada da família. José mora em Buenos Aires com uma mulher mais velha, ex-colega de escola de sua mãe, e sua chegada ao sítio desperta desejos e sentimentos dúbios em pelo menos uma irmã (ou meia-irmã). Isabel, que tem uma origem marcadamente indígena (como todos os empregados à vista), agita os hormônios de outra das filhas, além de atiçar a avidez de macho de José.
Mas não é o suficiente para suscitar uma transformação, como faz por exemplo a chegada do estranho à família burguesa de Teorema, de Pasolini. Aqui tudo, até mesmo a tragédia final, parece ser tragado pelo pântano, como a vaca que se atola perto do início do filme e não consegue mais sair, sob os latidos histéricos dos cães – numa das cenas mais fortes de toda a filmografia da diretora.
Na Argentina e no exterior, a crítica não tardou em ver no filme um retrato da decadente classe média argentina enredada em seu próprio marasmo e falta de perspectivas. Pode ser, claro. Mas não há como aprisionar o significado de uma obra assim, reduzindo-a à ilustração de uma tese.
Santidade e perversão
Depois dessa estreia esplêndida, Lucrecia Martel enfrentou um desafio ainda mais delicado em seu segundo longa, A menina santa (2004), ao explorar a seu modo as frágeis fronteiras entre a inocência e a malícia, a santidade e a perversão. A “ação” se concentra no espaço – quase tudo se passa num hotel decadente da província de Salta, no noroeste argentino, ou em seu entorno – e no tempo, durante os poucos dias de um congresso de medicina.
Definem-se logo três núcleos dramáticos: a família dona do hotel, os médicos que participam do congresso e um grupo de catequese de garotas adolescentes. Amalia (María Alche), a menina do título, realiza o curto-circuito entre esses três núcleos. Filha da dona do hotel (Mercedes Morán), ela é fascinada pelo tema da vocação religiosa e acaba se envolvendo de modo torto com um dos médicos (Carlos Belloso), um homem casado, a quem ela quer salvar da luxúria. Os temas candentes do assédio sexual e da pedofilia ganham aqui uma abordagem que foge da espetacularização e do moralismo fácil.
Mais uma vez, a diretora mais mostra – e esconde – do que propriamente “narra”. Tudo é apresentado de modo fragmentário, indireto, esparso. A atenção ao corpo e suas partes, tão flagrante em O pântano (em que as pessoas são vistas deitadas durante boa parte do tempo), ganha um novo desenvolvimento aqui, com especial atenção à audição: os sussurros, o canto, os ecos, os ruídos. O som, de modo geral, ganha protagonismo, até porque o médico em questão é um audiologista.
Há um lugar-comum muito difundido segundo o qual “o cinema argentino é melhor que o brasileiro porque tem bons roteiros, histórias bem contadas”. Desconfio que quem pensa assim provavelmente não gosta dos filmes de Lucrecia Martel, nos quais, do ponto de vista de uma dramaturgia convencional, quase nada “acontece”, quase nenhum enredo se pode traduzir em palavras.
A diretora radicaliza essa sua recusa de um entrecho pré-existente em seu terceiro longa-metragem, A mulher sem cabeça (2008), em que tudo gira em torno de um não-acontecimento, um quase-acontecimento, ou um talvez-acontecimento. Uma mulher burguesa e madura (María Onetto), sozinha em seu carro numa estrada modorrenta do interior, atropela alguma coisa que ela não vê e que julga inicialmente ser um cachorro. A partir daí ela passará a se comportar quase como uma sonâmbula ou um zumbi em todos os seus círculos: a família, o trabalho, os amigos. Domina-a a ideia obsessiva, ora certeza, ora dúvida, de que atropelou e matou uma pessoa.
Assim como ela, o espectador também não sabe – e a realizadora transmite a sensação de não saber, tampouco. O que interessa ali não é o fato em si, mas sua construção mental, suas reconfigurações, suas reverberações na vida da protagonista e de seus próximos.
Do pântano ao pantanal
Se a radicalidade de A mulher sem cabeça não obteve o mesmo êxito crítico que os dois primeiros filmes da diretora, o que talvez explique em parte o longo jejum que se seguiu (nove anos sem um longa de ficção), o passo seguinte de Lucrecia Martel não foi bem um passo, foi um salto: levar às telas o romance histórico-existencial Zama (1956), do escritor argentino Antonio Di Benedetto.
Ao contrário de seus longas anteriores, feitos a partir de roteiros originais seus, aqui a diretora se defrontou com um material já existente, considerado um marco da literatura moderna hispano-americana. Ainda que o livro esteja longe de ser uma narrativa épica convencional, o desafio de Lucrecia era o de abandonar seu tempo e lugar e aventurar-se por um universo desconhecido e traiçoeiro – um pouco como o protagonista Don Diego de Zama, funcionário da cora espanhola que quer escapar da desolação do pantanal paraguaio.
A dúvida era se ela conseguiria aplicar o seu método sutil, seu olhar oblíquo, sua estética da ambiguidade, a um terreno aparentemente nada familiar. A meu ver, como escrevi aqui no Blog do IMS na época da exibição de Zama na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ela foi parcialmente bem-sucedida. Não é uma epopeia, é um estudo poético sobre a espera, sobre o medo do outro e a construção imaginária desse outro. Querendo extrapolar, é também, claro, uma visão do continente como um imenso e insidioso pântano no qual chafurdamos sem conseguir sair.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras