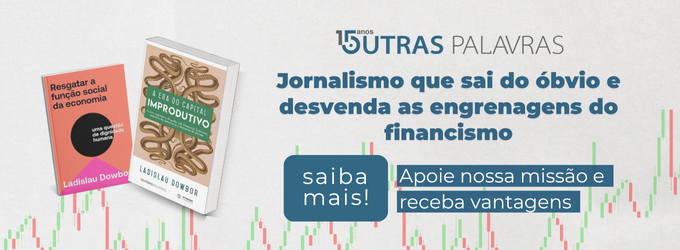Tzvetan Todorov: do estruturalismo ao humanismo
A curiosa trajetória de um linguista búlgaro de relevo internacional. Em Paris, encantou-se a princípio com a suposta autonomia da arte em relação a seu autor. Para, em seguida, compreender as determinações sociais e políticas da criação e a responsabilidade ética irrenunciável de quem produz
Publicado 17/10/2025 às 20:10
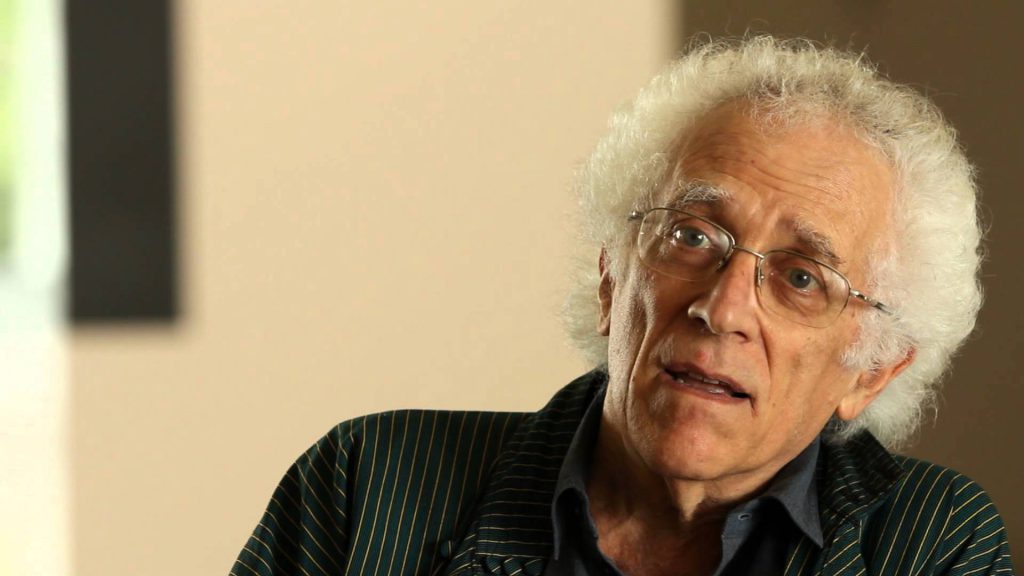
Tzvetan Todorov foi um linguista, crítico literário e historiador do pensamento, nascido na capital da Bulgária, Sófia, em 1939, que, aproveitando a oportunidade de estudar no exterior por um ano, viveu em Paris de 1963 até sua morte, em 7 de fevereiro de 2017. Com o passar do tempo, essa viagem geográfica também representou uma transição intelectual. Todorov foi um dos principais especialistas na primeira teoria literária do século XX, o formalismo russo, do qual editou e publicou uma coletânea de textos em francês. A escola formalista, com Roman Jakobson à frente, revolucionou a crítica literária, deu origem à linguística estrutural e ainda hoje exerce grande influência no pensamento científico. Já no século XIX, o romantismo alemão havia transformado a maneira de pensar a arte, abandonando a perspectiva da imitação para situar a própria arte como um dos grandes logros humanos e considerar a obra como um fim em si mesma. Essa virada abriu caminho para o estudo da arte como forma e estrutura. O resultado disso, cem anos depois, foram o formalismo e o estruturalismo. Com a ajuda de Roland Barthes, que orientou seus primeiros estudos, Todorov se consolidou na década de 1960 como um dos maiores expoentes do estruturalismo. No entanto, aos poucos, passou a desconfiar do que Jakobson chamou de “função poética”, ou seja, a ideia de que, na poesia, a linguagem é um fim em si mesma, o repositório da verdade absoluta e não um elemento historicamente determinado.
Entre 1972 e 1979, Todorov, que o contou em 2002 à jornalista cultural Catherine Portevin, numa série de entrevistas publicadas em Deveres e deleites (Unesp, 2019), realizou uma mutação inconsciente que o guiou para uma nova forma de abordar e pensar a linguagem, que a partir de então voltaria a ser um caminho aberto ao mundo no qual o significado ganharia importância sobre a forma. “Antes, meus trabalhos eram sobre as potências da linguagem e sobre as formas literárias, sobre a arte da narrativa e sobre as variedades do símbolo; depois, me vi levado a falar de ética e de política, colocando-me numa perspectiva histórica e antropológica. Mas era uma modificação progressiva, não uma saída em sentido inverso.” Para Todorov, existe um caminho estreito que acredita que no discurso há apenas discurso, sem qualquer relação com o exterior. O caminho largo, por outro lado, reconhece a presença significativa do mundo no discurso. O caminho estreito nega o autor, só a linguagem é válida; O caminho amplo reconhece que o discurso impõe restrições, mas que à frente ou atrás há um sujeito que pensa e se expressa com vontade. Este segundo caminho é aquele que Tzvetan Todorov, desde os anos 1970, seguiu até o fim: “Foi muito bom ter descoberto as restrições advindas da linguagem ou da própria forma da arte, que se exercem ao lado das determinações sociais ou psíquicas; contudo, isso não suprime a liberdade do indivíduo – nem, por conseguinte, o interesse que podemos dedicar a esse indivíduo. A tentação estruturalista de estudar a obra, e somente ela, estava destinada ao fracasso: a obra sempre transborda por todos os lados. Na prática, somos obrigados a isolar segmentos ou perspectivas, mas se reificarmos essa necessidade prática num postulado teórico, ela se torna nociva.”
Em 1972, Tzvetan Todorov foi visitar e teve uma longa conversa com Isaiah Berlin, o filósofo político e historiador de ideias, na sua residência em Oxford. Berlin, cujos interesses ficavam longe da linguística e da semiótica, contou-lhe histórias de seus encontros com os poetas russos, Anna Akhmatova e Boris Pasternak, sobre política e história. Todorov, que não queria lidar com questões sociais e políticas desde que deixara a Bulgária totalitária, ficou profundamente tocado e sentiu que não podia mais ignorar essa parte de si mesmo. Dez anos depois, em um encontro com o crítico e historiador literário Paul Bénichou, Todorov testemunhou alguém capaz de cruzar a porta do passado e interrogar autores antigos como se fossem seus contemporâneos, sempre partindo da base de uma humanidade comum. Essas duas conversas foram transcendentais para Todorov, que em retrospectiva destacou a importância de deixar os outros entrarem em nossas vidas para poderem quebrar nosso esquema de interpretação do mundo e nos forçarem a forjar um novo: “Se não formos capazes de acolher o novo, o imprevisto, e de nos transformar na relação com ele, isso significa que o espírito se petrificou. O encontro com os indivíduos provoca a agitação das categorias: é preciso que os seres humanos prevaleçam!”
Que os seres humanos prevaleçam significa, a partir de Crítica da Crítica (1984), defender que a literatura não é feita apenas de estruturas, mas também de ideias e história, e que a verdade e a moral não lhe são estranhas. Essa mudança transformou Tzvetan Todorov em um dos mais interessantes embaixadores do humanismo contemporâneo, expresso em livros como Nós e os Outros (1989), A Vida em Comum (1995) ou O Jardim Imperfeito (1998). O humanismo de Todorov não consiste na onipotência do homem sobre a natureza, mas no reconhecimento da parte que lhe é própria. O humanismo é uma forma de compreender os seres humanos, mas isso não significa que acredite que exista uma essência ou uma natureza humana fixa. O humanismo não é um otimismo, mas também não pode se basear em uma antropologia radicalmente pessimista. Sua ideia do ser humano é a de um ser moralmente indeterminado no plano moral, isto é, que necessitado dos outros como sempre está para afirmar a própria existência, pode contribuir tanto para a felicidade do vizinho quanto para a sua adversidade, pois a margem de liberdade que possui em suas escolhas o torna, no mínimo, corresponsável por suas ações. O humanismo não é uma religião que implique um ato de fé ou uma teoria científica, mas uma maneira de ver e compreender para julgar com mais precisão tudo o que diz respeito aos assuntos humanos.
Ao lado de Montaigne, Rousseau e Benjamin Constant, entre outros modernos que o inspiraram, Todorov em sua obra reivindica que os humanistas são aqueles que não aceitam que para preservar a liberdade individual seja preciso renunciar à sociabilidade, que a dimensão social do homem pode ser transformada, mas nunca erradicada, e defende a preservação dos valores comuns sem necessidade de uma força divina que os valide. Os humanistas não acreditam nem pensam que o ser humano seja um problema que exija uma solução ou uma etapa a ser superada. Eles o aceitam como ele é. O humanismo de Todorov é uma proposta renovada e uma aposta desiludida na perfectibilidade dos homens, que nada tem a ver com a salvação final em outro mundo ou com o progresso linear dentro deste. Ele foi lúcido o suficiente para afirmar, com um inconfundível gosto arendtiano, que “meu conhecimento e meu trabalho [intelectual] me permitem – espero! – compreender o mundo melhor, mas eles não fornecem nenhuma garantia de meu comportamento diante do extremo. Talvez, em meu medo, eu traísse minhas convicções. Não creio que a firmeza de alma requerida [diante do horror] dependa então dos livros que lemos ou escrevemos; no entanto, o que pensamos do mundo, sim”. A vida do espírito torna o mundo melhor, mas não necessariamente o indivíduo que participa dele. “O homem é um ser constitutivamente social, a multiplicidade das culturas e o contato entre elas são o primeiro traço característico da humanidade, mas somente a defesa da universalidade permite respeitar as diferenças. Sem ela, nossos particularismos podem se tornar mortíferos”.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras