Susuné e Boi de piranha
Crônica noturna no centro do Rio, entre teatro, mulheres negras, ficção amalgamada a realidade, instalações impactantes, bandeira e piranhas
Publicado 09/03/2012 às 16:17 - Atualizado 15/01/2019 às 17:41
Por Theotonio de Paiva*
Naquele final de semana anterior ao carnaval o centro do Rio de Janeiro anunciava uma grande festa. Foliões, sambistas, ambulantes, mulheres, homens, velhos, crianças de colo, mendigos, artistas populares, regados a muita música, bebidas, choros, risos e sensualidades. Era como se um clima dionisíaco pudesse invadir os tristes trópicos nessa época do ano.
Como era ainda muito cedo, minha mulher e eu cruzamos, com calma, aquele entorno do Theatro Municipal. Na verdade, nos dirigíamos ao Centro Cultural da Justiça Federal, ali mesmo na Rio Branco, a fim de assistir Susuné: contos de mulheres negras. Eram os últimos dias do espetáculo e, particularmente, me deixava guiar por uma série de circunstâncias. Em especial, havia os relatos de amigos meus: não foram poucos os que ficaram impressionados com a qualidade e a delicadeza daquele trabalho. Em cena, Carolina Virguëz e um percussionista.
Estava com saudades de rever Carolina no palco. As lembranças que tenho das suas atuações são geralmente muito gratas. Fomos apresentados, já faz algum tempo, por um amigo comum, um ator que trabalha comigo há bastante tempo. Eles estudaram na mesma época na escola de teatro e fizeram juntos um Molière.
Originalmente, a proposta da atriz, segundo contou num bate-papo após o espetáculo, era narrar contos da escritora colombiana Amalialú Posso Figueroa. E só. Na sequência, convidou o diretor Antonio Karnewale para dirigi-la. E aí tudo o mais começa. Karnewale não a conhecia mais profundamente. Assim, ao se aproximarem, era natural que quisesse saber mais da sua história de vida, experiências e por quais caminhos escolhera aquele projeto. Alguns aspectos bastante curiosos da longa trajetória dessa artista o impressionaram vivamente. Foi quando teve a feliz ideia de “costurar” aqueles contos com passagens da própria vida de Carolina – esta mulher, meio colombiana, meio brasileira, que guarda uma meiguice e uma ingenuidade de outros tempos. Mas não se engane, leitor distraído, ambos são atravessados por um humor sutilíssimo, cuja inteligência transparece na graça apresentada pela situação representada e não através daquele arremedo de ator – ainda muito comum em nossos palcos – jocosamente empinado em si mesmo no firme propósito de tirar assim todo o riso da cena.
Ainda naquela conversa, Carolina relatou que convidaram o escritor Emanuel Aragão para dar um tratamento literário e dramatúrgico às suas impressões e vivências construindo, desse modo, um diálogo interessante com a obra de Figueroa. Por conseguinte, Emanuel ficaria encarregado de cuidar do texto, cujo resultado iria se evidenciar de uma maneira especialíssima. A ficção e a realidade seriam, a princípio, apresentadas distintamente ao longo da narrativa. Somente depois seriam amalgamadas, misturadas, a ponto de não percebermos mais o que aconteceu de fato e aquilo que não passaria do caminho de uma invenção. E seria importante levar isso às últimas consequências até que nada mais tivesse sentido em ser visto de tal ou qual maneira.
Assim, a memória das próprias histórias é conduzida em seus termos menos doutrinários e se estrutura como uma construção ambígua e delicada do pensamento humano na sua ânsia de aprisionar as formas e momentos pretéritos numa busca desenfreada por aquilo que se imagina ser a própria identidade.
Diria mais: em Susuné, vemos elaborado algo mais sinuoso e instigante. As singularidades dos olhares, a dimensão do outro, as buscas desenfreadas por estabelecimentos de territórios, pertencimentos, organizações de mundos, classes, etnias e outros quejandos que a mente humana não parou de formular desde quando se embruteceu e passou a reconhecer invariavelmente no outro um possível inimigo.
Encantamento. Não há outra palavra para descrever Susuné. O espetáculo é absolutamente comovente. Teatro puro em sua sensibilidade e capacidade de solução dos mais diversos problemas cênicos. Ao que tudo indica, eles devem retornar no segundo semestre. Que os deuses do teatro nos ajudem a assisti-los novamente.
Pois bem, dizia lá em cima que tinha ido ao Centro Cultural da Justiça. Trata-se de mais um prédio centenário no centro do Rio. Durante meio século foi sede do Supremo Tribunal Federal. Coisas de uma cidade que, embora tenha demorado tanto, começou a compreender melhor os seus talentos. Nada de caprichos. Precisava efetivamente aprender a preservar um dos seus mais significativos bens: a sua própria memória. Esqueçamos, caro leitor, aquela disjunção perniciosa, que até bem pouco tempo, separava o patrimônio entre material e imaterial, como se fosse possível separar o corpo daquilo que um dia alguém ousou chamar de espírito.
Mas, eu dizia, a memória é um dos mais significativos bens dessa cidade. E qual seria o outro? Mais importante que todos, não há dúvida, é o seu próprio povo. Sem nenhuma demagogia, basta ver as suas duras expressões de sofrimento e renúncia, assim como as de orgulho e força na volta ao trabalho, os risos desbragados e puros, bem como a criatividade nas grandes comemorações e nas festas monumentais que sabe fazer como poucos.
Parêntesis: há anos, quando trabalhei com Paulo Afonso Grisolli, ele, de uma geração anterior à minha, num testemunho profundamente emocionado me falava do homem brasileiro em sua encarnação heróica. À época, sinceramente, aquilo me parecia um exagero, diria mesmo que soava como uma representação algo populista do povo. Não via nesse povo nenhum traço de herói. Não conseguia compreender naquele sofrimento uma dimensão próxima ao sublime kantiano. Ao contrário, leitora, havia em mim uma incapacidade de compreender esse mundo em suas sutilezas e discórdias. É infinito o desespero causado pela ignorância. Fecho o já longo parêntesis.
Pois bem, dizia que chegamos muito cedo. E, enquanto esperávamos, ficara entretido pela arquitetura daquele prédio de quatro pavimentos. E procurava alguma coisa que me reconfortasse naquela espera. A espera é sempre algo terrível. Por isso, alguns se especializaram em deixar os outros na expectativa do provável. Há uma crônica antiga do Affonso Romano de Santana que trata exatamente desse tema com grande maestria. O jogo que assim se estabelece é provocador e normativo. Deixa o outro na dependência da sua presença ou ausência.
Num dado momento, cruzo uma sala e me vejo em meio a uma mostra, cuja série de peças em cerâmica foi produzida pelos artistas Denize Torbes, Edineusa Bezerril e Fábio Borges, em comemoração aos dez anos do Grupo PeRiGo. Embora com trajetórias individuais, há uma década se reúnem para produzir alguns trabalhos. Acho interessante. Chamo a minha mulher para dividir aquilo com ela. Os artistas, na maioria das vezes, parecem ter em comum uma efetiva ligação com as nossas manifestações culturais mais profundas.
E aí acontece algo inesperado. Num outro aposento, há uma instalação emblemática, de autoria de Fábio Borges: trata-se de uma construção de pequenas cerâmicas, cuja disposição forma a bandeira nacional. Confesso que cada uma das partes ainda não estava resolvida nas minhas retinas distraídas. Assim, não há para mim nada de inusitado naquilo. É bonito, até impactante. Plasticamente sensível. Mas é só. Inevitavelmente me aproximo um pouco mais e noto que as pequenas peças são piranhas – seiscentas ao todo! – amarelas, verdes, azuis, organizadas num fundo branco.
No local do dístico da bandeira podíamos ler “Mordem o progresso”. Em baixíssimo relevo, é possível distinguir nomes e mais nomes de determinada representação política. Não aquela que se aplica mecanicamente ao figurino partidário, mas diversa. No caso, o brado retumbante era outro.
Mas, bolas, que representação seria essa? – estaria a se perguntar o imaginoso leitor. Deixo, pois, a ele a tarefa de cobrir com estilo aquele sereníssimo jogo. Caso tenha senso, empregará com cuidado a sua arte provocadora. De qualquer maneira, é importante não se descuidar, pois se trata de animais bem vorazes capazes de pôr em risco um projeto nação. Está lá na obra. E nos são apresentados numa simbologia cristalina como predadores. Lembro o movimento que aqueles animais travam, a partir do quanto sugere a experiência cultural do boi de piranha: atraídas pelo cheiro do sangue, são capazes de destruir aquele cuja importância na vida brasileira lhe confere o caráter hegemônico de animal-símbolo da nossa civilização invadindo inclusive a dimensão do sagrado, através das danças e manifestações populares. Não é pouca coisa.
_
* Theotonio de Paiva é colaborador do Outras Palavras e editor do Caderno Ensaios
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



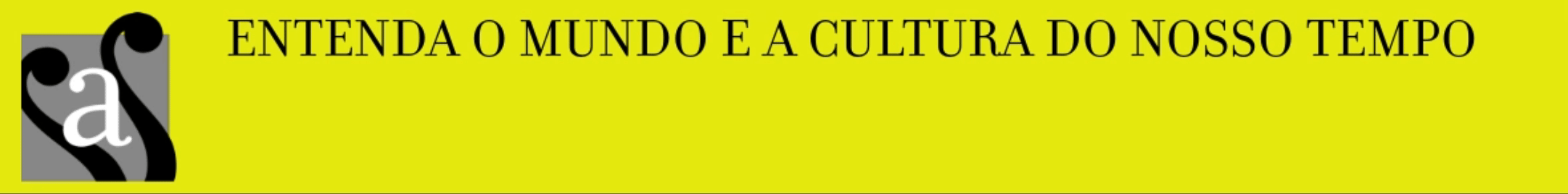
Prezado amigo Theotonio de Paiva, como lamentei o fato de não mantermos um contato mais estreito, a ponto de garantir suas orientações culturais antecipadamente! Gostaria muito de haver assistido a “Susuné”…
Infelizmente, como digo no último texto que coloquei lá no “Cinema e Letras: Impressões” dias antes de ler a sua crônica, grande parte de nossos atores parece vendida ao capital, misturando os duvidosos valores abraçados em sua vida pessoal – e “globalmente” divulgados – às mensagens que passam ao representarem textos respeitáveis. Tipo de coisa que não parece acontecer em “Susuné”…
Não é pouca coisa.
Tanto na criação como na multiplicação de uma idéia, esse meu amigo dispensa comentários.