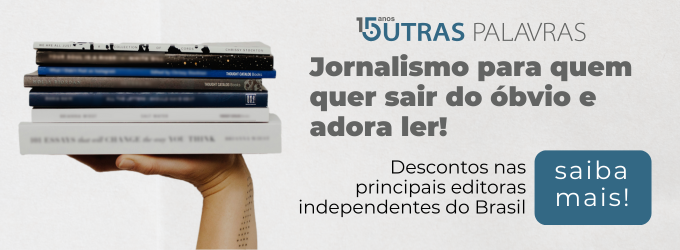Proust: um olhar arguto sobre o esnobismo das elites
Escritor francês mostrou, sem arroubos, a moralidade burguesa que tenta ocultar o ódio de classe. E, para adentrar salões chiques, sugere, até pessoas de talento, como escritores, abdicam de si. Mas a hipocrisia sempre é revelada pelos detalhes…
Publicado 17/05/2024 às 16:56
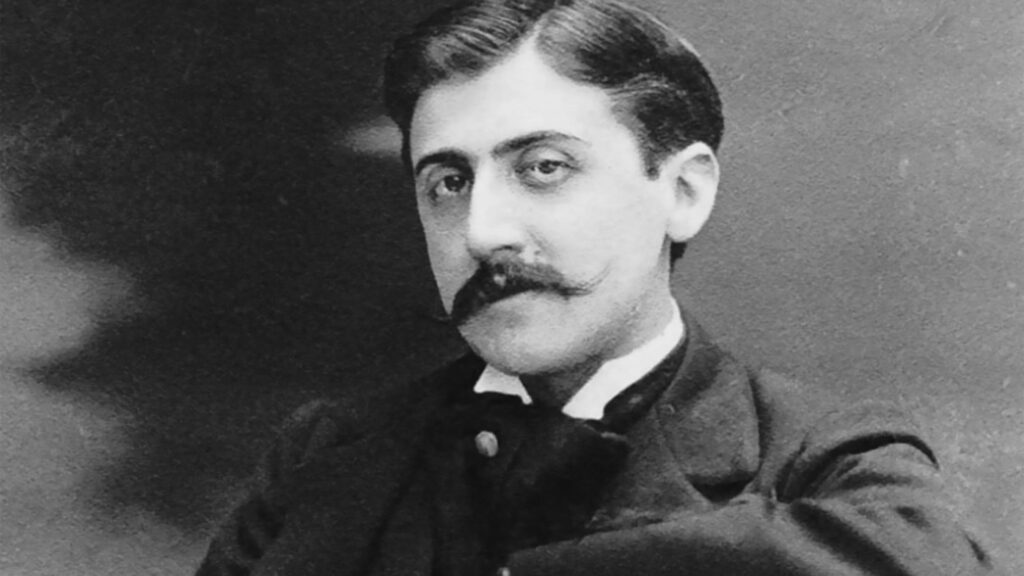
Em situações como as que estamos atravessando de incertezas políticas, especialmente daquelas referidas à esquerda, uma das principais questões apresentadas no debate público é: o se que pode fazer? É o mais conveniente a ação prática, ainda que essa formulação seja de difícil compreensão, significado e delineamento efetivo? A resignação contemplativa pode por vezes ser boa conselheira quando o horizonte de transformação está distante? Na história intelectual da esquerda, tanto aquela indagação geral, quanto essas indagações particulares estiveram a circundar todos e todas desejosos de mudar o mundo. Foi assim com Marx no refluxo das revoluções de 1848, com Lênin no interregno de 1905 a 1917, com a assim chamada Escola de Frankfurt (Teoria Crítica) na fundação do Instituto de Pesquisas Sociais em 1923 e após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, com os franceses após impasses das rebeliões de 1968. Nesses momentos, portanto, é que o exercício da crítica cáustica e intransigente à ordem social vigente, mais se faz necessário: ela é uma maneira de agirmos, desde que seja radical (e imaginativa). Marx na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, afirmava que a filosofia e outras ciências humanas por consequência (desde que crítica das coisas pela raiz) poderia ser uma das armas empunhadas na busca pela emancipação humana – na busca pela libertação da classe trabalhadora. Uma das formas de exercício do pensamento e do agir de esquerda ao longo do século XX, foi a crítica literária materialista; no aspecto criativo é uma esplendida modalidade para se lançar artefatos que curto-circuitem a realidade dominada pelo capital. Além dos nomes consagrados da teoria literária marxista como Walter Benjamin, George Lukács, Theodor Adorno, Anton Lunacharsky, Antonio Gramsci, Fredric Jameson, Terry Eagleton e Roberto Schwarz (esse de há muito do mundo, e não mais nacional), o Brasil possui uma tradição de crítica empenhada que remonta a Antonio Candido; e passa por Walnice Nogueira Galvão, Luiz Costa Lima, João Cezar de Castro Rocha, Alfredo Bosi e Silviano Santiago (evidente que nem todos são críticos materialistas). Eles recusam a ordem social vigente, o establishment, com o artifício da ensaística e dos estudos literários que produzem. Nem de longe me ponho nesse patamar. É somente uma licença singela para dizer que vou ensaiar um comentário sobre O Caminho de Guermantes, o terceiro volume do Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, de sorte a fazer emergir dali indícios para a crítica social. Não se trata de apropriação realista da obra proustiana; nem da posição mediata ancorada em sociologismos desmedidos. O que se quer é uma elegia na qual seu teor imanente de realidade constitua a armação de uma linguagem de sorte a dar forma a tramas que enredam o esnobismo, quase sempre de classe. Pois, o arranjo aqui é eminentemente literário; são circunstâncias a serem desveladas na abrangência do mundo interior do personagem-narrador de Proust (Marcel) o ponto constitutivo que abordo no Em Busca do Tempo Perdido. (Antonio Candido sugeriu que a realidade da obra proustiana está no âmago das subjetividades elaboradas dos personagens que compõem a armação da prosa romanesca do francês (ver Candido, 2004.)
***
Assim, O Caminho de Guermantes é o 3º volume da obra maior proustiana – ele segue o No Caminho de Swann, 1º volume (o despertar de Marcel à memória pela multiplicidade contingente das outridades) e o À Sombra das Raparigas em Flor, 2º volume (de quando Marcel se descobre atravessado pelo desejo fático de reconhecimento por sua paixão eterna, Albertine será sempre a exterioridade de si, exigente para tornar-se quem se é); após ele, na sequência está o Sodoma e Gomorra, 4º volume (a irrupção da sexualidade como constitutiva dos vários eus atravessam o périplo do narrador), o A Prisioneira, 5º volume (o laço de significados da vivência com o que se deseja, Marcel e Albertine moram juntos e o ciúme passa a compor a forma do reconhecimento de-si); completando, específica e estruturalmente, a narrativa de A Prisioneira, A Fugitiva, 6º volume (de quando Albertine não só abandona o desejo intenso do personagem como se esvaia na completude da vivência com ele, pois ela morre no decorrer da rememoração de Marcel, e ele então busca o reconhecimento de-si, o tornar-se quem se é, em múltiplas circunstâncias: com as amigas dela, imaginando outros amores, pela arte em Veneza); O Tempo Redescoberto, 7º volume (de quando nos defrontamos com a frase reveladora, “então, menos brilhante sem dúvida do que a que me fizera vislumbrar na obra de arte o único meio de reaver o Tempo perdido, nova luz se fez em mim. E compreendi que a matéria da obra literária era, afinal, minha vida passada […]” (ver Proust, 1998) –, nele está representado, literariamente, o esnobismo de classe. Vale dizer; a crítica de Proust aos salões frequentados pelo escol que impõe seus “objetivos políticos” (formas sociais, culturais, simbólicas e comportamentais) às Françoises de então. Dessa maneira, ele (Proust e Marcel, esse o personagem-narrador) sempre temeu os esnobes e a sociedade forjada por eles (ver André Maurois, 1995); o esnobismo permeia todas as sociedades humanas divididas em grupos e classes, em hierarquias e alicerces estamentais: orgulho, desprezo, arrogância e repugnância estão entre as disposições constitutivas das altas-rodas. Por outras palavras, o esnobismo, que Marcel encontrará na vida social de Guermantes, “tem dois aspectos: por um lado é a consecução de uma posição social, fazendo com que o mundo saiba o que se tem; e por outro [é] o erguimento […] de uma defesa [para si] e do meio a que pertence” (ver Derwent May, 2001). O que importa para os esnobes é a revelação, por vezes bem arquitetada, de serem dotados e certas prerrogativas materiais, morais e espirituais de modo a diferir dos demais. Esse excelir arrebata todas as possíveis fissuras de cultura autêntica que eventualmente possam existir nesses ambientes. Daí Derwent May asseverar que nos círculos aos quais o esnobismo mais está, piegasmente, arraigado há uma degeneração do ego. No convívio hipócrita com os Guermantes, homens e mulheres de talento abdicam de si com o intuito de pertencimento ao lugar fino e elegante; juristas eruditos, diplomatas bem formados, escritores promissores, artistas plásticos consagrados, belas cocotes de corpo atraente, políticos (parlamentares) de vocação – vão desbastar suas subjetividades com vistas a receberem um balançar da cabeça, mesmo que seja já no adiantado das horas, da princesa de Guermantes. É um “mundo” em que o menear das sobrancelhas em direção a si dos anfitriões dos salões: merece as mais variadas estratégias para ser notado. (Ademais, submete-se sem mais, às coações sarcásticas pelos sorrisos dos Guermantes.)
Em um ensaio de 1997 (tradução para o português, 2005, editora Jorge Zahar), Proust e a Fotografia, Brassaï, sugere da pertinência de comparar o Em Busca do Tempo Perdido com a arte fotográfica – “Proust era muito afeito às […] [suas] coleções de fotos” (ver Brassaï, 2005). Ora, nelas ele percebeu um dos traços delineadores do esnobismo de classe – a gestualidade (padrão). No fulgor das imagens percebidas, Proust apreendeu o pequeno tremor do semblante conveniente de “um governador e sua família”; e a atenção desmedida da esposa desse por suas joias e indumentária a ser vista pelo lume atento do cerimonial – enquanto a guerra mundial envolve cruelmente multidões. O arranjo de significados das poses, a armação intencional das mãos a oscilar, os nós displicentes das gravatas, a maneira de portar o chapéu de palha despretensiosamente (mas que quer impor elegância…), formam tantos retratos a circular na interioridade estrutural da forma narrativa de Proust e do périplo de Marcel. No entanto, Brassaï nos diz que elas – as imagens, os retratos, os quadros comportamentais dos salões franceses e, particularmente, dos Guermantes – contrastavam com o modo que o autor do Em Busca… se lançava ele mesmo na existência. Por isso Proust, que sempre teve furiosa repulsa pelas frivolidades da elite francesa; por vezes, como “distinção” às avessas, se portava com descaso pela sua própria aparência – a descontinuidade entre o traje e as exigências “da vida cotidiana”, a desatenção proposital com o “corte de cabelo” eram recorrências de uma postura que recusava a aquiescência bem tramada à convivência nos salões. (Sua mãe, em viagem fora de Paris é avisada de conduta desafiadora: “não cortei o cabelo […], enveredei pelos meus negócios no exato minuto em que saí da cama […]” (ver Brassaï, 2005).) Em choque impulsivo diante de seu tempo (de teor esnobista), Proust (e Marcel…) cultivavam outras modalidades de representação figurada – também proporcionadas pela fotografia. Eles seduziram-se, arrebatadoramente, pelas “belezas ocultas das obras arquitetônicas”, pela Florença de Ruskin, pelas imagens descritas pelo crítico de arte Bernard Berenson. Além disso, as imagéticas da fotografia permitiam a Proust a observação detalhada do mundo e da sociedade de seu tempo; eram alegorias singulares dos hábitos que passavam despercebidos no dia-a-dia: o elogio proustiano da fotografia (dessa construção técnico-subjetiva da realidade moderna) ocorria porque ela exibia a peculiaridade verdadeira do esnobismo de classe.
Ora, Proust era um insultador da ordem petulante de então. A afetação no andar pelos salões, a vaidade irradiada pelo bambolear dos braços a segurar o leque e o amaneiramento pérfido da conversação tiveram na narrativa do Em Busca do Tempo Perdido um elegante – e radical – contendor literário. Não foi sem razão o aspecto de profanação que muitos leram em Proust. Nos périplos sociais realizados por Marcel, a descoberta de que a moralidade refinada burguesa ocultava um “verdadeiro ódio” (ver Bataille, 1977) pelos de baixo, teve no olhar transgressor do personagem-narrador um efeito de crítica rebelde. Necessário para frequentadores de salão a ânsia de exibirem vida elevada, era a avidez bem-pensada, bem-tramada mesmo, com o formalismo da linguagem – nessa os padrões de virtuosismo ético adquiriam desempenho de reputação fina. Pretendiam a deificação das normas sociais que forjavam no salão dos Guermantes; o fundamento para se encerrar essa sobrevivência, pretensiosamente briosa, foi a fidelidade a si que a Duquesa de Guermantes, a Madame de Villeparisis, o Barão de Charlus e a Sra. Verdurin urdiram ao longo de O Caminho de Guermantes. Leais com a gramática culta; viris carrascos diante do despojamento da linguagem; soberanos corretos com as letras; escrupulosos na repulsa ao verbo excêntrico mal conjugado – de modo a que eles e elas não podiam suportar figuras de generosidade revolucionária como Françoise. É ela quem acompanha, exalando um fascinante cosmo poético, Marcel no decurso da narrativa. Metaforicamente, o trajeto da “funcionária” eterna dos Prousts postulava a aquiescência transcendente aos círculos civilizatórios supostos; na verdade, havia na estrutura sentimental dessa personagem do Em Busca… um elo mágico entre a afeição autêntica pelo outro, a relação dela com Marcel exprimia o valor radical de uma existência de negatividade ao mundo dos Guermantes, e a recusa imanente aos ritos de funcionamento correto da língua presunçosa. Françoise difundiu por todo o enredo do romance o eco incontido de um desejo pujante de reconhecimento de si-com-o-outro. Por outras palavras – a única que sempre esteve com Marcel diante da crueldade do esnobismo de classe dos Guermantes, nela figurava em enunciações simples do dia-a-dia a ânsia incandescente por justiça, verdade e paixão reconciliadora com o mundo (ver Bataille, 1977). Françoise era o entrecho de contraface (e contradicção) ao universo guermantiano.
***
De modo que a passagem da Sra. de Guermantes por qualquer espaço de convivência era o código latente que emergia como poção ácida a enternecer arcabouços maciços autopretendidos de ordenação moral; não se podia manter intrépido ao andar da “princesa […], linda, leve como Diana, deixando arrastar empós de si uma capa incomparável, fazendo com que se voltassem todas as cabeças e seguida por totós os olhos” (p.50) [as citações a seguir são de O Caminho de Guermantes, edição da Editora Globo de 2000, tradução Mário Quintana, 12ª edição revista por Olgária Matos]. Havia nos Guermantes o ímpeto de articular ambientações que não se mostrassem infensos aos mais variados tipos de frequentadores (desde que, agressivamente, bem polidos), daí ao narrador-personagem o esnobismo se transfigurar em teias ocultas de sentimentalidade – pois, independente do novo vestido, da nova joia, da maquiagem inusitada, “da nova gola, da face desconhecida […], o que [Marcel] amava era a pessoa invisível que punha em movimento tudo aquilo […], ela podia arvorar uma pluma geral ou mostrar uma pele em brasa, sem que suas ações perdessem para mim [e para os outros] a sua importância” (p. 57). Desse modo, o contraste profundo entre Françoise e os Guermantes (duquesa, princesa e duque) designava momentos disruptivos de “alterações de caráter” (p. 58) no andamento elaborado de cada personagem a compor o enredo – para aquela “era talvez inevitável” (p. 59) socialmente comporta-se por conveniência dado exigências materiais, enquanto a “pluma azul” (p. 57) do chapéu espiritualizava o si dessa, mesmo assim a alma daquela (Françoise) constituía um monumento sólido de sacrilégio das reuniões, o interior dessas (as sras. Guermantes) metamorfoseava-se e deixava de ter sentido em-si na próxima conversação frívola –; mas, as multifacéticas espelhações da subjetividade de Marcel provocadas pela comunhão com as duas, cedia por fim ao universo guermantiano. Após as lassidões no enfrentamento de afetações tramadas, o manejo cultural da duquesa de Guermantes recebia atenção (ingênua) bondosa, compassiva, serena e religiosa: “sua presença […] na casa era como o ar do campo” (p. 57). Um boa tarde dela era como um sopro sagrado convertido em mitologização bem valorizada – por costume, um parco “movimento de cabeça” (p. 179) exigia-se para não desapontar as padronizadas idiossincrasias envaidecidas, consubstanciadas nos gestos que atravessavam os salões. Ora, a agradável perplexidade ao ouvir os lábios de enleio dos Guermantes, impunha maneiras de ser por decoro – o “nunca o autorizei a vir” (p. 179) representava a força sentimental mobilizadora da disposição esnobe. Eruditos, portando já formas de consagração, também prestavam condescendência raciocinada. Seja o filósofo da Fronda ou o mero filósofo, artista ou músico, diplomata ou ministro, a ninguém era outorgado não se inclinar diante da duquesa. Exorbitavam, por vezes, na saudação. Se permitiam a cortesia arrogante. Autofelicitavam no olhar avaliativo, de cômputo terno (porém ainda cômputo de aferição de pertencimento…), do grupo guermantiano; é que o “aspecto da sra. de Guermantes […], seu torso para lançá-la avante com exagerada cortesia […], seu semblante e seu olhar […], um leve suspiro […], manifesta[vam] a nulidade da impressão que lhe causava a vista do historiador e a minha” (p. 179) – conquanto tornava-se peça de louvação enternecida para todos que ali conviviam.
Com efeito; exceção benfazeja de Françoise, ninguém estava eximido das constelações vocabulares do cultivo inautêntico dos salões – no esforço obstinada pelo refinamento distinto dos Guermantes, Em Busca do Tempo Perdido, entrevê a obscuridade de juízo a construir o andaime vivencial a firmar interações amaneiradas. É uma fatuidade engendrada e recebida com graça, diante dela (da duquesa), não se ousa postar negações com feixes de bravura, mesmo frágeis e indeterminadas nos fins; são congraçamentos a dizeres imodestos; à sra. Basin se a concedia raciocinar livremente para a admirar, “como não! Conheço-a até muito bem […] Ou melhor não a conheço; mas não sei que veneta deu no Basin, que encontra o marido dela Deus sabe onde, e diz [para que] a essa mulherona que venha visitar-me. Nem queira saber o que foi a sua visita” (p. 181); ouvir um tal dizer (em grupo) constituía a asseveração do vínculo. Havia traços bem forjados para se adentrar a vida de Guermantes, a vocação do atinar com copiosas apreciações das externalidades humanas se convertia em código inaudito de convivência; a ninguém que frequentasse os círculos guermantiano era permitido desfazer da cautela em ver qual “face escamava […]” (p. 181) e qual dos “narizes[es] [era] nobremente [mais] curvo” (181). As madames e senhoras Guermantes tinham em-si o atrevimento autoinstituído pela observância do costume, era um encrostamento civilizacional que o narrador de Proust teve de se convencer que “o nome dela era seguido do título, acrescentava-lhe à pessoa física o seu ducado, que se projetava em redor e fazia reinar a frescura umbrosa e dourada dos bosques no meio do salão, em torno do tamborete em que ela se achava sentada” (p. 183) – e prostrado pelo ambiente (violentamente admirado), Marcel extasiava-se com os lumes e a voz da Duquesa, transfigurado para os que os viam e ouviam em um “omo preguiçoso e denso de um sol de província” (p. 183). Ela, a Sra. de Guermantes e seu salão sabiam das estruturas de ascendência que disseminavam por aqueles e aquelas que eram agraciados com a evocação de participar das reuniões, dos chás, das conversações sobre arte, música e política. Entretanto, Proust foi bem-afortunado ao conceber seus personagens circundados pelas brumas de petulância do duque a duquesa, como pessoas cientes do sentido de existir naqueles arranjos de interações graciosos. Um “ar de perspicácia” (p. 184) raciocinada – atravessava todos os homens e suas esposas que cercavam a moralidade singular guermantiana. Somente as Françoises não passavam pelo caminho dos Guermantes – “[os] grandes homens [e mulheres]” que se persuadiam a ir à “casa dos Guermantes [sabiam encontrar ali] a princesa de Parma, a princesa de Sagan (que Françoise, ouvindo sempre falar nela, acabou por chamar, por julgar esse feminino exigido pela gramática, a Sagana) […] (p. 185) –, compreendiam o significado da face, da gestualidade típica e visceral, “oculta ou inexplorada” (ver Benjamin , 2010) dessa classe e de como elas se revelariam na “luta final […] em seus traços fisionômicos mais fortes [e impiedosos]” (ver Benjamin , 2010). Em um tempo de esfuziantes celebrações fechadas com Macron e de posturas eucarísticas diante da ABL-Academia Brasileira de Letras: é sugestivo apreciar a crítica social aos Guermantes que Marcel Proust nos legou no seu monumental e incomparável Em Busca do Tempo Perdido1.
Nota:
1 Ver: Georges Bataille – Proust. In: La Literatura y el Mal, ed. Taurus, 1977; Walter Benjamin – A Imagem de Proust. In: Obras Escolhidas, v. 1, ed. Brasiliense, 2010; Gilberte Brassaï – Proust e a Fotografia, ed. Jorge Zahar, 2005; Antonio Candido – Realidade e Realismo (via Marcel Proust). In: Recortes, ed. Ouro sobre Azul, 2004; André Maurois – Em Busca de Marcel Proust, ed. Siciliano, 1995; Derwent May – Proust, ed. Fondo de Cultura Económica, 2001; Marcel Proust – O Tempo Redescoberto, ed. Globo, 1998. Conf. Marcel Proust – O Caminho de Guermantes, ed. Globo, 2000.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras