O que nos faz trilhar as bordas de vulcões
Caso Juliana Marins para além do luto coletivo. O que leva tantas pessoas a se arriscarem em precipícios? Talvez por certa pulsão de vida em que deixamos de ser espectadores de nossa própria existência. A coragem tem preço, mas também é permeada de sentidos
Publicado 03/07/2025 às 18:02

Estamos todos em Rinjani
Juliana Marins, ao escalar o Monte do Vulcão Rinjani, não mediu forças para gerar sentido para sua própria vida. A vida passa. Disso sabemos. Passa como um filme. Às vezes assistimos a ele como se não estivéssemos nele. Outras vezes, tomamos parte. É o que se pode distinguir entre o ser existente e o ser vivente. Há pessoas que apenas existem, outras que, além de existir, escolhem viver. E viver é sobre gerar sentido, para além do significado, não importa onde você esteja. Sim, sentido e significado são coisas tão diferentes como existir e viver podem ser. Gerar sentido requer criatividade e inventividade. Por isso, muitas pessoas sucumbem, porque acham que o sentido da vida é algo a ser recebido ou descoberto. Ledo engano. Quando perguntam “qual o sentido da vida?”, demonstram que não estão trabalhando nele, laçam essa pergunta desde seu vazio de sentido. E é no sentido que se toma a vida. Ela precisa de ingredientes, e eles são toda a nossa guerra e toda a nossa paz. Outro possível erro é achar que o sentido da vida dispensa a nossa guerra interna. Não, é preciso de muitos ingredientes e a nossa guerra é um deles. É por isso que Juliana declarava na sua última viagem: “nunca me senti tão viva!”, ao falar de como ela se sentia bem em alguns momentos e mal em outros. Ao subir no Monte Rinjani, ela levou tudo com ela: sua paz e sua guerra, sua disposição e seu cansaço, para acrescentar algo na jornada do sentido de sua vida: conhecer mais o mundo, admirá-lo e aprender com ele. Mas eis que, no meio do seu percurso, houve o acidente: sua queda fatal no penhasco solitário do vulcão.
Muitas vezes, na hora em que acontece o que chamamos de morte, é como se estivéssemos assistindo ao fracasso da vida. Como se pudéssemos, ainda, de alguma maneira permanecer, mas não conseguíssemos. Ainda que tenhamos a certeza de que a morte é o destino biológico do ser vivo, agimos como se ela fosse evitável de algum modo. Nossa inquietação metafísica recusa as certezas da física. Quando reconhecemos uma partida fatal, recorremos ao “poderia” isso, “e se aquilo”, como se o caminho para ela pudesse ter sido reajustado antes e postergado sua chegada. Assim, a morte fica lida como tragédia, fatalidade, má notícia, na maioria das vezes. E aí nos abalamos. Por que ficamos tão abalados com o acidente de Juliana? Por que o impacto disso reverberou muito mais do que outros tantos acidentes, incluindo desaparecimento e mortes, que acontecem entre trekkers e montanhistas? Guerras acontecendo no mundo, milhares de mortes notificadas, situações de violência extrema ocorrendo dentro e fora do Brasil, feminicídios em efeito cascata noticiados… Mas, o acidente de Juliana se destaca no abalo internacional. Por quê?
Outras tragédias que ocorrem entre trekkers e montanhistas nos chegam de modo muito remoto, sem precisão de informação, sem registro. O acidente de Juliana trouxe à tona o fato de que outras pessoas já haviam se acidentado fatalmente no lugar. Mas nunca, jamais, tivemos notícias precisas e partilhadas mundialmente sobre isso até então. O acidente de Juliana escancarou uma realidade que estava, por assim dizer, camuflada, no universo do turismo de risco da Indonésia.
O abalo mundial se reforça pelo fator de que 1. Acompanhamos a notícia com detalhes da queda, com o registro de que ela estava viva; 2. Esperamos o resgate e ele não aconteceu em tempo. 3. O engajamento dos brasileiros, levando o caso a patamares mundiais. Aqui estamos diante do dilema do “deveria” e do “e se”. Termos acompanhado o caso, com registro de Juliana viva e passível de resgate que não ocorreu, aponta para o sentimento inevitável que gera o pensamento: “deveria ter ocorrido”, e “se tivesse ocorrido?” Mas esse pensamento não vem de modo flutuante. Está ancorado na partilha de um sentimento de pesar que, direcionado à outra pessoa, insufla a experiência da empatia, da tomada da dor do outro como a nossa e, acima de tudo, do sentimento humano de estranhamento sobre a fatalidade da morte, ainda que saibamos que esse seja o fim quando nosso corpo não resiste. Constatar isso e não ver revogação da fatalidade, traz o peso do sentimento de “perda”, que gera o luto.
A humanidade necessita de arquétipos para pensar sua própria condição. O inconsciente coletivo, segundo Carl Jung, está cheio deles. Arquétipos que simbolizam a transformação, a sabedoria, a alegria, o amor e assim por diante existem desde os primórdios. Mas, indo um pouco além disso, também geramos constantemente novos arquétipos, muitos deles de dimensão espiritual, política, social. Agora Juliana não é mais apenas Juliana. Ela é um arquétipo, um modelo, que passa a representar muitos outros e tantos outros seres, os que já se acidentaram e os que correm esse risco, não só em uma montanha ou um vulcão, mas em qualquer lugar na vida. Não estamos falando ou lamentando um caso específico em detrimento de outros. Quando recorremos à Juliana, recorremos a uma imensidão de referenciais: outros seres, diversas situações, condenssados na representatividade que ela expressa. Passa a nos representar, humanamente, em nossa força e vulnerabilidade. Em suma, é um sinal sobre a vulnerabilidade à qual nós nos lançamos, paradoxalmente graças a nossa força, em situações de limite e risco, sem amparo, seja físico, moral ou emocional, sem segurança e, em último caso, sem possibilidade de reverter o fatal. São esses elementos que contornam o caso de Juliana, e os levam para um patamar muito além do que uma mera seleção flutuante de luto coletivo. Com isso, não podemos deixar de também frisar: em um momento de guerras étnicas e geopolíticas, com avanços dos neofascismos, uma mulher negra, latino-americana e defensora da democracia ficou no centro de uma empatia partilhada mundialmente.
No meio deste cenário há um dilema de discursos que alegam que ela facilitou a morte, por se arriscar. Sabemos que há caminhos que sugerem ser mais arriscados à morte, mas também sabemos que não há como definir e precisar onde não há risco. Em outras palavras, difícil é dizer onde não há risco de morte a nós no mundo. Não é sobre diminuir o fato da periculosidade altíssima do Monte Rinjani, mas, reconhecer também, como diria Jorge Luís Borges, que “todos os caminhos levam à morte”. Enquanto isso, na Psicanálise, Freud fala que a vida é movida por dois tipos de pulsão. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Ambas buscam, de alguma maneira, se realizarem gerando prazer. Por qual pulsão Juliana era movida? Porque tantas pessoas arriscam suas vidas para subirem altas montanhas, vulcões e afins? Há lugares que sequer o resgate pode chegar, de tão perigosos e humanamente inviáveis. É o exemplo do Monte Everst. Lá existe um lema: “morreu na montanha, fica na montanha”. Por que o Monte Everest, apesar de ter mais de trezentos corpos abandonados, atrai as pessoas para desafiá-lo? Seria a pulsão de vida ou a pulsão de morte? Vamos ao nosso arquétipo: o que Juliana Marins carregava consigo, por trás de seu sorriso e desejo de desbravar assumindo riscos? Muitas vezes a pulsão de vida está em desafiar a própria possibilidade de morte e recusar a potência do seu risco. Então, a potência de vida pode se confundir com potência de morte, quando ela se arrisca a ponto de fracassar. As pulsões não trabalham sozinhas, se entrelaçam numa teia complexa. Da mesma forma, isso justifica o dilema que impressiona as pessoas diante da coragem que muitos indivíduos possuem de desafiar o risco da morte.
Desçamos das montanhas. Voltemos para nossas casas, lugares comuns, parques e jardins. Lugares de riscos confortáveis. Ainda assim não estamos diante da segurança completa. Nada impede o nosso fim. A vida é por um triz. Estamos em constante experiência de risco. O avião, para ser mais seguro hoje, precisou ser muito arriscado um dia. Poderíamos aplicar esse exemplo ao Monte Rinjani? Ele poderia ser seguro? Certamente, suas condições naturais não o permitem. Mas poderia ser seguro o modo de pensar, refazer ou desfazer o tipo de turismo de risco, no quesito das limitações ambientais que se oferecem para as condições humanas. Juliana nos aponta para a urgência de repensarmos esses fatores. Juliana aponta para o fato de que não podemos simplesmente manter um tipo de turismo que permite acidentes com mortes e desaparecimentos sem que isso seja julgado, analisado e transmutado. Não é sobre uma busca por segurança e a negação do risco como parte da vida, é sobre uma possibilidade de equilíbrio.
Estamos todos em Rinjani. Repito, a vida é por um triz. Rinjani não é apenas mais um vulcão. É agora também, como Juliana, um arquétipo existencial. Como Juliana no Rinjani, a gente se anima e se cansa na jornada, a gente se desafia e assume muitos riscos no caminho para gerar algum sentido de vida. Qualquer movimento em desacordo por nos fazer cair fundo. E, qual o sentido disso? Podemos olhar, novamente, para Juliana e o Rinjani, e pensar.
Que alguns escolhem viver para além de existir é um fato. Os que apenas existem ficam assistindo sua existência como um filme distante numa sala de cinema, sem tomar parte. Se não tomam sua própria vida, alguém tomará por eles. E, para que se tome parte da vida, é preciso assumir algum risco. Como diria a filósofa Anne Duffoumantelle, no livro Elogio do risco (2011), “só arriscando-nos é que deixamos de ser espectadores da nossa própria existência”. Tudo é risco. Mesmo o café que você bebe numa bela manhã pode chegar de um lote errado. O nível de risco nós contamos pela probabilidade e pelo nível de convencionalidade ou conforto. É mais provável que o risco seja maior em outros contextos. Risco de quê? De perder a vida?
A vida não é apenas sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade também. A garantia de segurança da vida não está em multiplicar a quantidade dos anos de existência, mas a qualidade de vida dentro dessa quantidade. Paga-se um preço pra isso: a coragem de gerar sentido. Juliana estava gerando seu sentido, realizando seu direito a isso.
Não importa se apenas existindo ou realmente vivos, nós estamos todos em Rinjani. Ao que vem com isso, ainda que se tente evitar, pode ser fatal. Às vezes salvos, outras não, seguimos atravessando, abandonados e condenados, como diria Jean-Paul Sartre, à nossa condição de liberdade. Pensar em “e se” e “deveria” nos faz até entender como agir melhor entre nós próprios, mas não muda a rota do que, fatalmente, possa ter ocorrido. O acidente pode ser um relevo na terra, mas pode ser também um acontecimento. Na terra lançamos nossa existência, nossa vida. E, como diria a poeta Adília Lopes: “a vida diária é um acidente permanente”. Estamos todos em Rinjani. Estamos numa existência vulnerável, nos equilibrando, recuando e avançando diante, de um lado, do potencial vazio de sentido e, do outro, da potencial germinação de sentido. No entanto, é preciso, como Juliana, nos sentirmos vivos, com nossa paz e nossa guerra, apesar do que virá, ou exatamente por causa do que virá, para todos nós!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

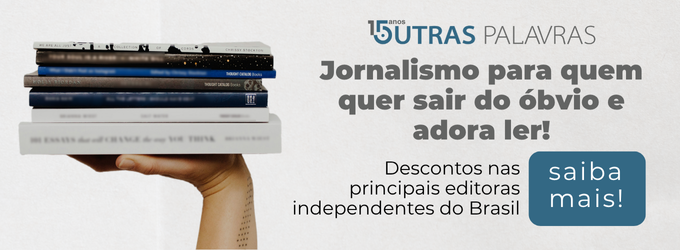
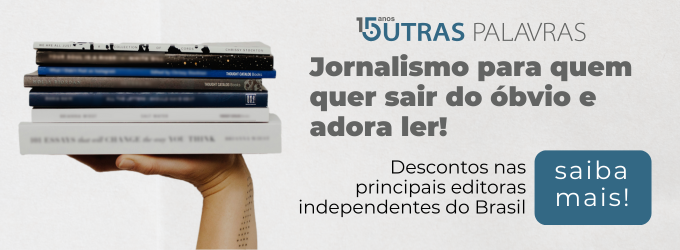
Gostei muito da reflexão do seu texto, já fui como Juliana ,hoje estou com 59 anos e tive meus momentos de quase rsrs. Posso dizer que vivi e estou passando pela vida com meus desafios ,msis vitórias que derrotas e sigo, agora, com mais cautela mas não crítico quem está buscando seus limites só lamento quando o imprevisto se torna um fato tão triste como o da Juliana. Parabéns pelo lindo texto.
Olá Acauan, compartilho desta reflexão. Sendo mais precisa você expressou em palavras os meus sentimentos e compreensão em relação ao ocorrido com a Juliana, e sobre todas as pessoas desbravadoras e destemidas. Muito obrigada por isto.
“Porque tantas pessoas arriscam suas vidas para subirem altas montanhas, vulcões e afins?”
Por que, em uma pergunta é separado.
A palavra “condenssados” está errada, três consoantes juntas é impossível.
Ao iniciar a leitura, tive esperança que seria uma leitura significativa, mas do meio para o final, o texto é cheio de conjecturas e não diz nada de novo, só enrolação.
Descansas em paz, Juliana Marins, voaste alto, leve, macio, firme, teus passos, teu rastro, teu cheiro, alegro-me, pela tua coragem, fortaleza, bravura, deixastes, alegrias, sonhos realizados, sorrisos, paissagens, estás agora, no plano espiritual, luz divina, estrela eterna, paz infinita, teu sorriso sempre brilhará…Liana, traveler✈️😍♥️