Expediente e Pobreza
O amor entre os desgraçados em A Serpentina nunca desenrola até o fim, livro mais recente de Heyk Pimenta
Publicado 03/03/2016 às 18:33 - Atualizado 15/01/2019 às 17:36

Crianças ameaçadas de despejo, no RJ. No poema de abertura do livro, Heyk escreve: “desmontam você à noite | perdeu as carenagens | sozinha onde outros tantos | montes de areia | avisavam de outras casas | que não vieram”
Por Rafael Zacca
As remoções marcam a história da reforma urbana nas metrópoles desde o século XIX. O Barão Haussmann, conhecido como o “artista demolidor”, desponta como ancestral mítico dessa tradição que sustenta os prefeitos modernizadores das grandes cidades. A propósito do prefeito do Sena, Dubech e D’Espezel contam, na sua História de Paris, que “a megalomania criou uma cidade artificial onde o parisiense, traço essencial, não se sente mais em casa. (…) O parisiense, na cidade transformada em encruzilhada cosmopolita, sente-se desenraizado.” Basta lembrar, diante deste sentimento de estranheza urbana, que Haussmann teve de enfrentar milhares de barricadas que tentavam impedir o avanço do progresso. No Rio de Janeiro, conhecemos uma linhagem de prefeitos que têm o Barão como totem; ela vai de Pereira Passos a Eduardo Paes, fazendo da cidade um raro caso de trabalho e movimento sem descanso.
Um novo elemento de resistência surgiu recentemente, porém, diante da modernização destruidora. Ele atende pelo nome de “ocupai”, ou ainda, “ocupação”. Não é uma resistência nova na história dos movimentos sociais: no caso do Brasil, basta lembrar as demandas dos movimentos rurais e dos movimentos étnicos, como os dos Sem Terra, dos quilombolas e dos indígenas. No entanto, a incorporação dessa estratégia em espaço urbano não tinha conhecido, ainda, tamanha força, à exceção talvez dos Sem Teto e das experiências de autogestão de trabalhadores anarquistas. É significativo que nos chamados movimentos “ocupai”, com quaisquer limitações políticas que possam ter tido, tenha-se tentado criar as condições de subsistência durante a ocupação das praças (isto é, de espaços públicos da cidade, em contraposição à ocupação de edifícios abandonados ou de fábricas), com geradores de energia que se alimentavam de bicicletas suspensas, bibliotecas comunitárias e pequenas cozinhas. Também a ocupação de escolas, desde 2015, por estudantes da rede pública em São Paulo, faz parte desse conjunto. Não se trata mais de apenas paralisar algum aspecto da vida urbana, mas modificar o uso de um determinado território. Não mais apenas a paralisação do tempo modernizador; a proposição de outro uso do espaço.
Heyk Pimenta, poeta residente no Rio de Janeiro, passou a sua primeira infância na Zona da Mata Mineira, e a segunda em Artur Nogueira, no interior de São Paulo. Em seus poemas, o ponto de vista oscila entre estar misturado às obras de construção e demolição de edifícios e a visão por trás de uma janela ou coisa que o valha. Como se vivesse entre a roça e o elevador, sem poder se decidir entre uma coisa ou outra, às vezes ocupa a segurança das varandas, outras vezes leva a cidade colada ao corpo. Foi esse olhar desigual que lhe garantiu perceber aquela característica do espaço urbano que Milton Santos chamou um dia de “acumulação desigual de tempos”. Essa percepção não é simples. No Heyk, ela vem às custas de uma espacialização do tempo. Em a serpentina nunca se desenrola até o fim (7Letras, 2015), o poema sobre as “Maritacas” fixa essa estranha acumulação em uma imagem. Ela ocorre enquanto as maritacas “procedem sua engenharia” de apanhar pétalas de uma “primavera prematura”:
O retorno do tempo ao seu índice espacial é graficamente recuperado nos recuos explorados por Heyk, criando espécies de dobraduras em seus poemas. Na estrofe destacada, as colunas formam poemas superpostos, que podem ser lidos separadamente, de acordo com a sua verticalidade; de modo que há, no mínimo, três estrofes (as duas colunas lidas separadamente, ou intercalando os versos como fazemos na leitura habitual). O poema, imagem estática, paira entre as palavras, de pernas cruzadas: as maritacas são o voo livre dos significantes que, libertos de seus significados imediatos, se tornam temporalidade suspensa. Como se as reencontrássemos, assim como seus múltiplos sentidos, sons e densidades, carregados, qual bolhas de sabão, prenhes de magia e fraqueza de estouro.

Como se vivesse entre a roça e o elevador, sem poder se decidir entre uma coisa ou outra, às vezes Heyk ocupa a segurança das varandas; outras vezes, leva a cidade colada ao corpo.
O poema “Densidade 45”, que fala de um colchão que apodrece junto com o envelhecimento de um amor, também explora essa costura espaço-temporal. Os versos “toda a imundície do mundo / acumulando gordura / no canto das coisas” é a exposição espacial da temporalidade posta em “5 anos de mofo e desleixo / 5 anos de fervor / 5 anos de medo”. As estrofes se subordinam, são impossíveis uma sem a outra. Tal disposição, no entanto, faz mais do que abrir uma percepção específica: ela inaugura o mundo como ação de coisas sobre coisas. Existem, em a serpentina nunca se desenrola até o fim, estratégias subjetivas – Heyk aparece constantemente como personagem de seus poemas, e amigos e amigas, pessoas que passaram por sua vida em tantas cidades, e sua companheira figuram como interlocutores –; no entanto, estão a serviço da dessubjetivação, exibindo uma articulação em que os objetos estão livres do sujeito, como na inversão lógica nos versos que habitualmente escreveríamos em outra ordenação:
“Densidade 45”, como quase todos os poemas do livro, é um testemunho da precariedade. Ao mesmo tempo, é a fixação do momento em que a tarefa se apresenta ao poeta: “– Levanta caroll o colchão pra respirar / – Vamos comprar um estrado / – Temos que fazer outra capa”. Tarefa e precariedade são duas sombras que acompanham a verdadeira arquitetura de a serpentina nunca se desenrola até o fim. Embora o poeta tenha organizado o livro em torno de três eixos temáticos (e seria fácil partir destas divisões para estabelecer uma legibilidade: “Casulo” seria uma má preparação para as coisas, “Monturos” um excremento que sempre sobra das atividades, e “Veios” o fracasso como único nutriente), é função da crítica mortificar as obras para fazê-las de adubo.
No Banquete de Platão a sacerdotisa Diotima de Mantinea nos dá a saber a origem de Eros. No dia em que nascera Afrodite, houve um banquete entre os deuses. A Pobreza aproveitara a ocasião para mendigar ao pé da porta, ao passo que Expediente (Poros), filho da Invenção (Métis), embriagado de néctar, desmaiou no jardim de Zeus. “Então, Pobreza, espicaçada por sua própria indigência, pensou na possibilidade de ter um filho com Expediente: deitou-se-lhe ao lado e concebeu Eros.” (na tradução de Carlos Alberto Nunes) Entre as consequências desse conúbio, dá-se a saber que Eros: por ser filho da Pobreza “é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo (…) é áspero, esquálido e sem calçado nem domicílio certo; só dorme sem agasalho e ao ar livre, no chão duro, pelas portas das casas e nas estradas”; e por ser filho do Expediente “é bravo, audaz, expedito, excelente caçador de homens, fértil em ardis, amigo da sabedoria, sagacíssimo, filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista”.
Também de uma tal mitologia poderia ter nascido o ímpeto de Heyk Pimenta. Não é à toa que o amor permeia não apenas a temática de muitos poemas, como alguns de seus recursos. Em “Penso agora como vamos nos virar”, não apenas Heyk e a companheira Marianna estão sem saída e pobres, como as funções eróticas permeiam os verbos escolhidos: “e andamos mexemos / por dentro das bocas de bicho / que nos demos”; “é você quem me come e guarda / meus restos na mochila pra depois”; “a flor fodida onde põe minhocas e cascas de cebola”. No poema “Agora”, a implosão da estrutura sintática tem efeitos eróticos:
“Como” toma a forma de advérbio, conjunção e verbo comer, tudo no mesmo significante. A função erótica, nestes casos, se desdobra em intervenção, ligação, e ação devoradora, respectivamente.
“Agora” é o poema de abertura do livro. Já em seus primeiros versos anuncia que “hoje não tem beleza nenhuma na casa / nem potência nos retalhos da carne”. O fracasso está exposto como condição primeva dos poemas. Ele atravessa todo o material de serpentina, e conhece uma pequena interrupção em “464”, que não é suficiente para retirar o gosto amargo da boca. No poema “Loteamento”, ele se fixa na imagem de uma casa que não chegou a ser concluída. Serve apenas como trincheira de crianças. De resto, é vergonha por não estar pronta. Sua demolição traz carregado o acúmulo de outros projetos fracassados:
O erotismo na poesia de Heyk é também temporal. Ele aproxima os desgraçados. Não estão unidos pelo que têm ou são, mas pelo que perderam. Nesse sentido, a criação de imagens faz parte de um sentimento coletivo que atravessa outras impossibilidades. A injustiça social lampeja em seus poemas, não como tema, mas como forma interna, como nos versos do poema “Cigarra”:
O fracasso do verão em um bicho é análogo àquele que atravessa também a história das metrópoles. É por isso que a evocação de eventos recentes de resistência fadada ao fracasso, como o caso de Pinheirinho, em São Paulo, ou da Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, não pode ser descolada daquela dos movimentos que retomaram as ruas dessas cidades desde 2012, bem como o poema “Cigarra” evoca, invariavelmente, o poema “Caminhão Pipa”. Nele, as imagens de carnaval e de passeata se alternam, não sabemos se se trata de festa ou de resistência. Temos apenas a rua como “mesa de dissecação barroca”, “nossa treva / sem qualquer centímetro de recuo”, e “as barricadas do carnaval”. A mistura de festa e comício tem retornado como alternativa aos movimentos sociais, principalmente o estudantil. O caminhão-pipa, que encerra a noite e é motivo do alvorecer, que avança sobre os manifestantes/foliões, se torna um enigma: não sabemos que motivo o conduz; dessa forma, ele nos convida a tomar também outra máquina de interrupções como enigma, aquela que age na história das cidades.
Essa memória coletiva, pertencente aos povos oprimidos, à horda de vagabundxs, trabalhadorxs, mulheres, negrxs e índixs, encontra-se em estado bruto no poema “Vagões”. Nele, o poeta contempla vagões abandonados na estrada de Mangaratiba. Se os versos se revelam uma potência avassaladora na criação de imagens, os vagões à deriva podem ser compreendidos como pura memória dos eventos sociais de espoliação. Como isso acontece? Os vagões são um médium através do qual Heyk acessa outras imagens, que são invocadas para explicar os vagões, enquanto o seu duro minério resiste à razão. São convocados os flagelados, os velhos, os sem-terra, os ciganos, os fiéis de procissões… Cada uma dessas imagens puxa outras, como se a própria memória fosse uma locomotiva cujo brilho põe em motor a imaginação, impossível de ser capturada. É o exato oposto da célebre cena de Possessed (1931), de Clarence Brown: somos nós quem passamos ainda vívidos diante dos vagões, que aprendem a sonhar conosco – um sonho breve, irrealizável. Nessa impossibilidade de captura, a formulação analógica permite, ao menos, dizer a propósito de outra coisa. A analogia revela muito mais a propósito da imagem invocada do que daquilo de que se quer, aparentemente, dar conta. Seja como for, nas últimas linhas de “Vagões”, a memória se converte finalmente na imagem de soldados assustados. Talvez porque se saiba que, diante da pobreza ancestral que evoca, haverá guerra desigual, se se quiser qualquer coisa que pareça ainda digna. Nas palavras de Heyk:
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



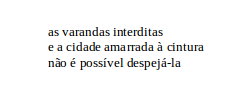

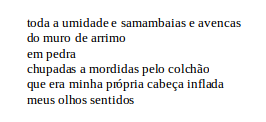


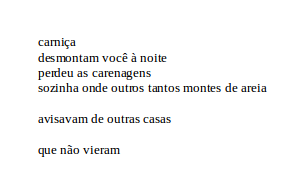


Muito massa. Valeu a dica também…