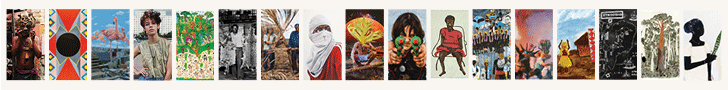Brasília, Capital dos Manos?
Um dos pioneiros do hip hop no Brasil afiança: o gênero é afrobetização, dando voz (e palco) a quem antes só escutava. Abençoado por James Brown e Fanon, ele narra sua trajetória para “apertar a tecla SAP da poesia para traduzir o dia a dia”
Publicado 29/07/2024 às 19:50

Gog em entrevista a Joaquim Barroncas e Antônio Carlos Queiroz

Sai nesta terça-feira, 30, mais uma edição do Guia Musical de Brasília, periódico impresso dedicado à cadeia de produção da música no Distrito Federal, com um catálogo de endereços dos profissionais e dos espaços onde a música acontece, além de entrevistas com os principais artistas atuantes na Capital Federal.
O brasiliense Gog, o Poeta do Rap Nacional, é a capa da 12ª edição do Guia. Orgulhoso de fazer parte da “geração James Brown”, Gog disserta sobre o hip hop, gênero de origem jamaicana aclimatada no Brasil há 41 anos, e fala de conceitos quase vez mais usuais nas lutas da população negra, como a afrobetização, o pretoguês e a literatura divergente.
A publicação traz a última entrevista concedida pelo professor, cantor e compositor Clodo Ferreira, falecido no dia 17 de julho, coautor da célebre Revelação, imortalizada na voz de Fagner. Ex-professor da Faculdade de Comunicação da UnB e pesquisador da produção musical brasileira, Clodo deixa um amplo legado, compartilhado em parte com os irmãos, os três nascidos no Piauí, Clésio e Climério. O show de lançamento do Guia nesta terça-feira, no Clube do Choro de Brasília, será dedicado à sua memória.
A nova edição do Guia publica também uma entrevista com o maestro Jorge Antunes, precursor da música eletroacústica no Brasil, para lembrar os 40 anos da Sinfonia das Diretas, que Antunes compôs e regeu no comício da Torre de Televisão, com a presença do Dr. Ulysses Guimarães, o então comandante das lutas contra a ditadura militar. A Sinfonia da Diretas foi executada pelas buzinas de 300 automóveis e um coral que entoou versos do poeta Tetê Catalão, comparando o buzinaço de Brasília às trompetas bíblicas que derrubaram as muralhas de Jericó. Realizado no dia 1º de junho de 1984, mais de um mês depois da derrota da Emenda Dante de Oliveira, o comício marcou a retomada da campanha por eleições livres, com a consigna da convocação da Assembleia Nacional Constituinte.
Por fim, comparecem nesta edição um trio de músicos do Ceará, o violoncelista Ocelo Mendonça, o violonista João Marinho Junior e a cantora Myrlla Muniz, que retratam a formação do caldeirão cultural de Brasília, composto por artistas oriundos de todas as partes do País.
Cultura e turismo – Concebido pelo músico e publicitário Joaquim Barroncas e editado pelo jornalista Antônio Carlos Queiroz (ACQ), o Guia Musical de Brasília é o único veículo do DF dedicado ao fazer musical.
Além de contar a história musical da cidade, sem discriminação de gênero, a publicação traz informações sobre os artistas, escolas, professores, alunos, luthiers, corais, bandas, livrarias, lojas e outros espaços onde a música é produzida e executada.
Impressa, a publicação tem duplo caráter: cultural, por enfatizar o amálgama das expressões musicais do Distrito Federal, e turístico, por oferecer dicas dos locais onde os visitantes da Capital podem fruir essa riqueza: bares, restaurantes, teatros, o Clube do Choro, a Casa do Cantador, os CTGs, as batalhas de hip hop etc.
Distribuído gratuitamente, o Guia atinge um público muito amplo, de músicos amadores e profissionais, produtores musicais, gente do teatro e amantes da música em suas diversas manifestações, nos principais espaços culturais e turísticos, entre eles o Clube do Choro, o Departamento de Música da UnB, o Teatro dos Bancários, o Teatro da Caixa, a Casa Thomas Jefferson, o Instituto Cervantes, o CCBB, o Catetinho, as autarquias da Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional etc.
Leia abaixo a entrevista com Gog, que estampa a capa do Guia.
O DJ Eugênio Lima, pesquisador, garante que o hip hop tornou-se a maior cultura urbana da história da Humanidade. Nascida no Bronx, Nova York, há 50 anos, com presença no Brasil há 40, o hip hop já é também uma das maiores manifestações culturais no Distrito Federal. Genival Oliveira Gonçalves, o Gog, conhecido como o Poeta do Rap Nacional, não tem dúvida de que Brasília, que já foi considerada a Capital do Rock, hoje é a Capital dos Manos.
O Guia Musical de Brasília foi entrevistar o Gog no Guará, cidade onde ele mora há 51 anos. Vai aqui um resumo da conversa, de que participou também o publisher Joaquim Barroncas.
Ser considerado o Poeta do Rap Nacional é uma responsa, não é? Conte pra nós a sua história!
Eu sou filho de uma professora do ensino fundamental, a Dona Sebastiana. Eu nasci no ano de 65 na cidade de Sobradinho, mas quinze dias depois da chegada da minha mãe do Piauí. Então até dupla naturalidade eu posso exigir. Minha mãe era professora e meu pai trabalhava na TCB (Transporte Coletivo de Brasília) como recauchutador de pneus. Era um cara muito interessado em fazer os filhos estudarem. Então, eu fui alfabetizado muito cedo, com cinco anos. A mamãe me deu essa oportunidade, depois vou explicar por quê. Mamãe lia muito e o livro que mais usava e que me marcou foi um livro de crônicas da Cecília Meireles. Já o papai me levava pra feira de Sobradinho e me colocava em cima de uma caixa de banana, pra eu dizer as capitais do Brasil e várias do mundo. Com cinco, seis anos, foi o meu primeiro contato com o palco e com o público. A pessoas admiravam e as palmas eram um incentivo para mim, cada vez mais interessado em ser melhor. Eu também tinha uns primos com quem brincava de fazer ditados, pegando palavras no Dicionário Caldas Aulete. Eu acho que é daí que nasce o “Brasil com Pê” (um dos hits de Gog). O primeiro e o segundo graus foram tranquilos. Aos 17 anos, eu já estava na faculdade, curso de Economia, na AUEDF. Só que em paralelo a isso, desde os 12 anos, eu já estava envolvido em outro planeta. Faço parte da geração James Brown, o cara do soul. Tinha a geração Beatles, mais ampliada, e tinha a geração James Brown, que não se via na TV nem com aquele glamour todo. Estava na comunidade, fazendo o serviço na quebrada. Então, a partir dos 12 anos, eu comecei a frequentar na minha própria rua, no Conjunto E da 26 do Guará II, onde cheguei em 73, com oito anos, vindo de Sobradinho. A gente dançava na rua, porque não tinha acesso aos bailes, mas tinha o som, que ficava nas casas mesmo. Era o tempo da fumaça e do estroboscópio. Eu tenho até uma música que fala disso, assim:
Sou tão antigo que o rap era só periferia
Papai veio do Sul, do Sul do Piauí
Pra morar no Morro do Urubu aqui
Querosene, IAPI, juntou nasceu CEI
Hélio Prates, presidente Médici
Fumaça, estroboscópio na casa da dona Zefinha
Giroflex no Fusca, PM vinha na joaninha
No bacu, se não tivesse com os doc em cima
Hum, ih, passear na Veraneio Vascaína
O que é bacu?
Levar bacu é ser abordado pela polícia. Essa música fala do tempo da casa da Dona Zefinha, onde aconteciam as festas toda semana. Foi quando eu montei o meu primeiro grupo, Os Magrellos, que veio a ser o primeiro grupo de rap a gravar um disco em Brasília, já com o DJ Raffa, filho do maestro Cláudio Santoro e da Dona Gisele Santoro. No início dos anos 80, o Raffa entra e eu saio do grupo, indo para um circuito mais profissional, com o DJ Leandronic. Eu continuei a manter contato com os Magrellos e conheci o Raffa. A primeira pergunta que ele me fez quando cantei a minha letra, sem que eu soubesse o intuito dele, foi “Quem escreveu isso pra você?” E eu falei, fui eu que escrevi. O Raffa era um cara que viajava para os Estados Unidos, tinha equipamento, videocassete etc. A pergunta dele era a cara estampada de como o hip hop era visto. As pessoas não acreditavam num movimento que vinha de quatro elementos que não significavam nada no eixo cultural: o break não era dança, o grafite não era arte visual, o DJ não era músico, e o B-Boy não era dançarino. Quer dizer, éramos um movimento de nada.
E a oportunidade que a sua mãe te deu?
Ah, ela possibilitou, com a leitura, a minha contribuição diferenciada para o hip hop, a palavra um pouquinho mais sofisticada. Isso causou tanto estranhamento quanto uma definição do meu trabalho. As pessoas comentavam, “o Gog tem uma letra diferente; eu gosto do rap do Gog porque não tem palavrão”. Eu respondia, “Gente, esse clique foi a oportunidade que a minha mãe me deu lá atrás, me dando acesso ao livro”. O livro me livrou de várias fitas, foi um livramento entre cenas desse discurso
Mas você é claro no que diz!
Isso é muito louco porque, no meu processo criativo, eu tento desconstruir para trazer o máximo de simplicidade, apertar a tecla SAP da poesia para traduzir o dia a dia ali. Por exemplo, em “Brasil Com Pê”:
Pesquisa publicada prova
Preferencialmente preto, pobre, prostituta
Pra polícia prender
Pare, pense, por quê?…
Esse processo me deu uma responsabilidade diante do movimento cultural que estava nascendo nos anos 90, que não tinha credibilidade no setor cultural, junto aos outros estilos musicais. Um exemplo foi o maestro Júlio Medaglia, que deu várias declarações falando que o hip hop é um lixo musical. O hip hop veio para quebrar a impossibilidade do jovem de periferia ter acesso ao palco, a ser o artista, a ser o provedor da sua ideia. Não ficar só ouvindo. Se você pegar lideranças como o Mano Brown, Dexter, Rubia R.P.W., Rebeca Realeza, sem o hip hop eles não teriam qualquer chance. Foi o hip hop que abriu a possibilidade da seguinte fala: “Olha, você pode cantar em cima de uma base, de um instrumental, e colocar a sua letra, mas você não precisa tonalizar, você não precisa ser lírico, você pode expressar apenas a sua cena que vai ter gente pra te ouvir”. Então o hip hop fez uma grande revolução com o novo formato, de consequências diretas para as gerações futuras. O hip hop nasce e floresce num período em que a cultura e a arte não são mais privilégios de “gente culta”, passam a ser expressões humanas mais amplas. Todos nós somos artistas, seres e bichos culturais.
O hip hop pega a palavra e se impõe, como um Dom Quixote de la Perifa, não é?
É quixotesco porque a primeira geração do hip hop é muito assim, periferia. Eu mesmo fui alfabetizado por papai e mamãe e pela escola, mas eu só fui afrobetizado pelo hip hop. Esse processo de afrobetização foi o que me salvou dessa máquina, desse rolo compressor. Percebe, por exemplo, “Vovô viu a uva”. Pô, eu nunca tinha visto uva, mas vovô, quem é o vovô que viu a uva? Meu vô não viu também. Então a possibilidade de reescrever isso vem com o hip hop lado a lado, dando espaço para o alicerce da literatura periférica. A gente já tinha os Cadernos Negros, a história do 20 de Novembro feriado, o poeta Oliveira da Silveira, mas literatura periférica divergente surge da possibilidade de você falar “Nós podemos escrever nossos livros”.
A Yeda de Castro, linguista baiana, escreveu um livro, Camões com Dendê, em que demonstra a influência das línguas africanas no português brasileiro, já bem diferente do português europeu. A língua brasileira é o pretoguês e não tem nada de periférica, está no centro do Brasil!
O cantor de rap Renan Inquérito, professor de geografia, muito inteligente, também fala desse conceito. O próprio Max Maciel (Deputado Distrital pelo PSOL) também faz essa discussão, de que a perifa é o centro, no sentido de inverter o fuso horário da cidade, para as pessoas irem conhecer a Ceilândia, o Riacho Fundo, Santa Maria. Brasília foi uma cidade feita para não ter tensão social. Não é por acaso que as quebradas são isoladas. Quem chora em Brazlândia não tem como ser ouvido em Samambaia.
O JK tinha horror ao povo, tinha medo do assédio das massas do Rio de Janeiro, organizadas pelo PTB e pelo PCB, ao Palácio do Catete, que fica no meio da rua. Por isso quis botar Brasília longe de tudo, sem indústrias, para evitar a pressão das classes populares.
Você falou do JK… Eu escrevi uma música para a deputada Benedita da Silva, que conheceu dois presidentes, um, o JK, deu pra ela roupas e sapatos usados; o outro, o Lula, alçou ela a ministra de Estado. A mãe da Benedita foi governanta da Dona Sarah Kubitschek. Ricos em geral são assim, pessoas mal educadas, gostam de mandar, de gritar, de humilhar, mas são pobres, enfim. Eu fiz uma música falando disso, baseado num texto do Cristovam Buarque, em 2004, chamada “Talvez Seja Querer Demais”:
… Os ricos são tão pobres que não percebem a frieza,
a triste pobreza em que usufruem suas malditas riquezas…
A sua atuação na periferia é um trabalho de pedagogia, certo?
Pedagoginga! No país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do olho. O primeiro trabalho, a primeira busca que você faz é a do olho do menino e da menina. Eles não conseguem abrir os olhos a princípio, porque foram meio condicionados. Quando levantam os olhos, você fala, mano, agora é nóis! É a hora de reunir a turma numa tábua redonda, pra gente se olhar, sem aquela coisa da hierarquia do pessoal do fundão, dos caras da frente, de quem ouve melhor… Eu sou uma espécie de psicólogo da quebrada.
Mas não dá pra ficar só na periferia, né?
Não, temos a necessidade de romper o território, não dá pra ficar mais só na quebrada. A gente tem que fazer a disputa. A eleição do Max Maciel foi um conquista nossa.
Sair do gueto!
O Edi Rock dos Racionais completa isso aí: “Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você!” Na música África Tática, eu e o Nelson Maca temos uma frase muito louca: “Não desviar da reta, do fim, as vozes do início”.
Uma curiosidade, que relação existe entre a poesia do rap e o repente nordestino?
É meio parecido, principalmente nas batalhas do hip hop. Mas o hip hop vem do toast, na década de 70, uma manifestação jamaicana, através daqueles caminhões equipados com som pesado. Ali surgem os primeiros DJs e a ideia do MC, o Mestre de Cerimônia, que se apresentava em cima do caminhão. Não tinha ainda o rapper, que foi uma evolução do MC e do seu canto falado. No ano passado, o hip hop completou 50 anos. Aconteceu no Bronx, em Nova York, numa black party organizada por Cindy Campbell e por seu irmão, o DJ Kool Herc, um dos mentores do hip hop. Isso foi no dia 11 de agosto de 1973. Nesse mesmo ano, no dia 12 de novembro, é fundada a primeira crew de hip hop chamada Zulu Nation, que tem como mentor principal o Afrika Bambaata. Então são duas datas de 73 que dão o marco do hip hop.
Qual a relação com o James Brown?
O soul. O hip hop traz a característica de trabalhar com o sample. O que descobre o DJ, que é o mentor intelectual do hip hop? O que é o groove? O groove é o beat, a entrada, a virada do som. Então o DJ pegou o groove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aquele tempo de entrada. É do ser humano, quando começa uma música, dar um grito, “Olha o som!” O DJ sacou isso, “Cara, se eu pegar esses oito tempos que as pessoas gritam e fizer um looping disso para que dure mais, vai demorar mais essa euforia da galera”. O DJ descobre então o looping. E aí o James Brown foi o artista mais sampleado e mais lupado do hip hop, principalmente nos anos 90. O James Brown é o pai da black music, mas também foi o mais sampleado do hip hop.
Sampleado e lupado, que ótimo!
Para muitos, “Pô, o cara usou aquela base lá e cantou, é um plágio… Na realidade, é uma homenagem! Eu mesmo, quando escrevi “Quando o Pai se Vai” e a “Lei de Gerson”, eu peguei samples, ou seja, referências, retoquei, e isso depois me possibilitou conhecer o Paulo Diniz pessoalmente, e também o Gerson King Combo. Gerson fez turnê, gravou um DVD comigo, e o Paulo Diniz voltou a fazer shows. Do ponto de vista artístico, você resgata muita coisa que está esquecida e dá nova roupagem.
Quais são as suas principais referências teóricas?
Eu li O Capital, não todo, porque era muita coisa para mim. Depois mergulhei em autores ligados à África, o Amílcar Cabral, o Nkrumah, o Aimé Césaire…
E o Fanon?
O Fanon, então, toda a minha fonética é fanônica! Eu conheci esses caras muito através do Nelson Maca, um gênio, professor de literatura da Universidade Católica de Salvador, de onde saiu para trabalhar com poesia. Ele criou um conceito de literatura divergente.
E o Martin Luther King, o Malcolm X?
Também! E os Black Panthers, a Angela Davis… Essas são as minhas referências, coisas que eu li, e como sou um TDAHzão, eu fuço aqui e ali, e brinco com a minha esposa, “Meu amor, eu peguei isso e aquilo ali, deixa eu traduzir em dia a dia pros moleques”. É o caso do “Buquê de Espertirina”, uma batalha trabalhista do início do século 20, e uma música que escrevo baseada na fala do Júlio Medaglia tascando o rap como lixo musical:
Condições de trabalho: as piores possíveis
Fábricas não tinham janelas, abusos horríveis
Acidentes de trabalho sem indenização
Engordando mais e mais o bolso do patrão…
Para finalizar, como vai o projeto da Casa do Gog que você está montando no Guará?
Eu sou um guaraense desde os oito anos de idade, e aos doze entro no mundo black. São praticamente 48 anos da minha vida dentro desse universo. O hip hop me ajudou a conquistar tudo o que eu tenho, mas principalmente a minha persona. Essa coisa que eu falo da afrobetização, de me me colocar primeiramente como homem negro, depois periférico, depois brasileiro. A minha nacionalidade é o terceiro ponto. Isso facilitou muito as minhas andanças pelo planeta nesses quarenta e tantos anos. A cultura é algo que realmente multiplica, te proporciona a possibilidade de descobrir num ser humano mais maduro que a saída é pra dentro. A saída da crise do mundo que as pessoas estão procurando é pra fora. Aí vai o rivotril, os probleminhas. Pensando nisso, a Casa Gog será um presente para a comunidade. Será uma Casa de Cultura, uma Casa de Manifestação, assumindo os problemas e os méritos da quebrada. Vai ser mais um espaço de afrobetização, com mais conversas, mais diálogos. Vai ter um podcast para que as próprias pessoas da quebrada possam produzir. A gente vai montar um estúdio e uma sala com 30 cadeiras para cursos. A Casa do Gog será um espaço de contraponto ao que está acontecendo na parte espiritual, religiosa mesmo, senão o problema vai ficar maior para nós.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.