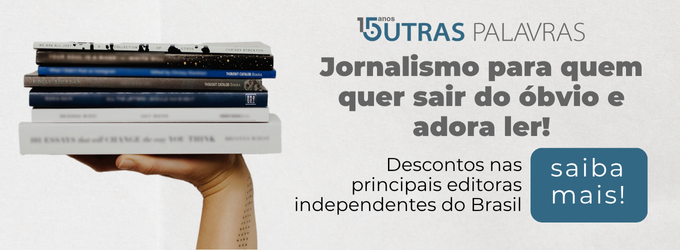Adolescência: “O outro precisa perder”
Série é ponto de partida para refletir sobre a subjetividade neoliberal em que está imersa parte de uma juventude hiperconectada. Com a erosão de espaços coletivos e o imperativo de ganhar – dinheiro, mulher, poder –, vem o ressentimento: “alguém deve pagar pelo meu fracasso”
Publicado 07/04/2025 às 14:20 - Atualizado 07/04/2025 às 18:26

A série Adolescência, na Netflix, é uma excepcional realização, não apenas por sua produção, ou por sua direção primorosa e pelas atuações magníficas do elenco – com destaque para o adolescente Owen Cooper, o Jamie -, mas principalmente por abrir uma chance interessante de tocar numa ferida que raramente merece atenção da grande mídia em geral: a falência absoluta da sociedade neoliberal ou, se preferirem, a sociedade do cansaço, como bem define o filósofo sul-coreano naturalizado alemão Byung-Chul Han, além, é claro, da misoginia em que deságuam o ódio e as frustrações germinadas em seu interior. A bem da verdade, a série parece dar ênfase à esta última questão, e deixa ao espectador a grande oportunidade de refletir sobre os demais aspectos que emanam de todo o contexto exposto com a atenção milimétrica de uma câmera que acompanha os passos de todas as personagens em sequências sem nenhuma edição aparente. Ah, e estamos aqui falando da matriz da sociedade capitalista, a sociedade britânica: um excelente exemplo de uma sociedade do cansaço.
Essa sociedade definida por Han é aquela determinada por um “ritmo acelerado, uma pressão constante e uma cultura que valoriza a produtividade e o sucesso a qualquer custo”. Nesse contexto, os indivíduos enfrentam um conjunto de desafios que contribuem para o esgotamento físico e mental, afetando sua saúde e bem-estar. Um dos fatores que contribuem para a sociedade do cansaço é a pressão constante por resultados e a competição acirrada em diversos aspectos da vida. As expectativas sociais e profissionais de alto desempenho colocam os indivíduos em um estado de constante demanda, levando a um esforço contínuo para atingir metas e cumprir responsabilidades (site Revista FT). Eis aí o perfil que servirá de pano de fundo para a tragédia dos Miller.
No primeiro episódio da série, vemos a polícia invadindo logo cedo a casa de uma família de classe média baixa, residente em alguma cidade do interior inglês, procurando um adolescente de 13 anos acusado de matar uma colega de escola na noite anterior. Conseguem prendê-lo dentro de seu quarto, supostamente um lugar seguro onde os pais acreditam deixar seus filhos entretidos com a internet enquanto saem para o trabalho exaustivo que ocupa mais da metade de seus dias. O paradoxo dos jovens criminosos da internet: mesmo sendo capaz de tamanha atrocidade ao tirar a vida de alguém, o menino faz xixi nas calças diante da abordagem barulhenta e invasiva dos policiais. Depois dos procedimentos burocráticos numa delegacia de polícia no primeiro episódio, no segundo temos uma visita dos dois investigadores – um policial negro (Luke, interpretado por Ashley Walters) e uma policial (Misha, interpretada por Faye Marsay) – à escola onde ele estudava; e é nesse ambiente escolar que percebemos a crueldade com que os jovens se relacionam diante da passividade de alguns professores e da impaciência de outros, que parecem responder com o mesmo ódio às demandas (insuportáveis, é verdade) dos seus alunos. Percebemos aí que a disciplina já é tática superada, e que os jovens parecem se guiar mesmo por “regras” codificadas nas redes sociais. Isso inclui, claro, o bullying e a humilhação imposta aos colegas, principalmente às mulheres, aos negros, aos estrangeiros e aos considerados fisicamente “feios”.
O filho do policial Luke estuda na mesma escola, o que o faz refletir também sobre o tempo que dedica ao menino, que por sua vez revela ao pai como decifrar os códigos usados por Jamie e seus colegas de classe nas redes sociais.
Creio ser um consenso entre os pesquisadores da sociologia o fato de a internet ser o instrumento que difunde com a velocidade da luz práticas neoliberais que já vêm caminhando há mais de 50 anos, quando passaram a ganhar espaço junto aos aparelhos de Estado e a se transformar num modelo de vida que extrapola os limites dos procedimentos puramente econômicos: o cultivo das aparências, da competição, do distanciamento dos corpos, do individualismo, da fragmentação social, da formação de identidades marginais agrupadas em gangues digitais. As falsas notícias propagadas pelos jornalões na ditadura militar do Brasil nos anos 1970 e pelos eufemismos midiáticos norte-americanos acerca das guerras que a indústria bélica estadunidense promoveu (e ainda promove) globalmente apenas ganharam novo nome: fake news. Agora existe maior dimensão da desinformação e a rapidez supersônica de sua propagação. Tudo isso cai como adubo numa terra arrasada, carente de representações ou instituições fortes que possam promover discussões éticas em espaços escolares e públicos e combater esse tipo de crime.
Toda essa vulnerabilidade abre espaços para a voracidade do lucro dos grandes capitalistas, hoje representados não só pelos bancos e pelo sistema financeiro rentista, mas pelas propagadoras-mor de desinformação: as Big Techs. Tudo o que o grande capital quer é que nada disso seja discutido e que essas empresas gigantescas continuem lucrando sem quaisquer limites. Tudo sob o mantra da “liberdade de expressão”. Tudo a ver com a fragmentação da sociedade em indivíduos sedentos por consumir e se destacar. Não há mais cidadãos, mas consumidores e empreendedores incansáveis.
Margareth Tatcher, a rainha do neoliberalismo britânico, costumava dizer nos anos 80 que “não existe essa coisa de sociedade. Existem indivíduos, homens e mulheres, e existem as famílias (…) As pessoas acham que no topo não há muito espaço. Elas tendem a pensar no topo como um pico do Everest. Minha mensagem é que há uma imensidão de espaço no topo”. Esse conjunto notável de mentiras e ilusões contaminou o corpo político e econômico do país e do mundo ocidental em sua quase totalidade. Todos sabemos, por exemplo, que o indivíduo hoje é considerado o principal objetivo da propaganda ideológica da extrema direita, que o estimula em alto grau a ser empreendedor de si mesmo, bem como principal responsável por seus fracassos no mercado de trabalho, quando na verdade é apenas vítima da necessidade do grande capital para que trabalhe com mais rigor e dedicação do que nunca, sem limites de horas, sem a devida proteção social e sem a defesa de seus direitos trabalhistas; o ambiente escolar – e aqui existem as idiossincrasias pertinentes a cada tipo de escola diante de suas respectivas classes sociais – é desde sempre um espaço onde o coletivo já não é mais valorizado e a competição e demais lógicas do mercado começam a operar com a crueldade e com a aspereza que lhes são característicos. Todos são inimigos até segunda ordem e a individualidade de um só será vencedora diante da aniquilação do outro ao seu lado, a não ser que ele se junte a um grupo ou gangue com interesses previamente definidos, geralmente com teor agressivo e de aniquilação desse outro.
Na série, trata-se da prática dos “incels”, grupos de garotos que se declaram celibatários involuntários porque se consideram desprezados pelas meninas, organizando-se nas redes sociais para difundir o ódio contra elas. O que temos aqui senão a lógica que transforma a mulher numa mercadoria, com o objetivo final de consumo deste desejo previamente sepultado pela suposta impossibilidade de conquistá-las afetivamente através do diálogo? Afinal de contas, quando você é considerado um garoto feio em comparação com os modelos de beleza difundidos pela propaganda massiva dos meios midiáticos, o que lhe resta senão unir-se aos outros rejeitados? Mas não nos enganemos: essa lógica perpassa toda a sociedade e ganha notório impulso através de um marketing intenso criado pelos poderes econômicos e midiáticos que lhe estimulam a crer que todos os seus desejos podem ser realizados, desde que você seja positivo e determinado a conquistar o que quiser e consumir aquilo que lhe é vendido como meio de realização pessoal. Só não te contam que, no final, quando o pior acontecer, a culpa será só sua.
No terceiro episódio, temos o diálogo entre Jamie e a psicóloga, interpretada pela excelente Erin Doherty, que aos poucos vai tirando do menino os ingredientes de sua formação que podem identificar fatores que o fizeram cometer um crime. Jamie é inteligente e em muitos momentos ameaçador, o que contrasta com sua aparência frágil e insegura; e finalmente explode de ódio quando se vê acossado pela conversa com a profissional. Desde cedo, Jamie fora induzido pelo pai a assumir o papel reservado aos homens: jogar bola no fim de semana, por exemplo; tentar algum esporte que tenha competição e exija força. Mas Jamie não gostava de esportes –preferia desenhar – e percebia que o pai ficava desapontado com ele, o que lhe provocava uma dor insuportável, mas que ele sublimava colocando-se como um perdedor, aquele que não tem a única competência considerada importante para um homem “de verdade”: ganhar. Ganhar dinheiro, ganhar mulheres. Ser forte física e emocionalmente. Superar-se em todos os sentidos. Jamie diz que o outro psicólogo, um homem, lhe faz perguntas mais “normais”, porque dentro de sua zona de conforto, por isso se descontrola, grita e ameaça a psicóloga porque ela lhe faz indagações mais desafiadoras; mente ao dizer que já havia tido uma experiência sexual com uma menina, porque, do contrário, seria considerado um fraco; a psicóloga insiste em trazer à tona o machismo que cerca a fragilidade do garoto.
Como se isso não bastasse, ela tem que lidar com outra situação no local: o assédio de um dos guardas da instituição onde está o garoto. Lá está o sujeito, fazendo o papel de macho que lhe cabe, tentando mostrar que é mais importante que a função que desempenha. O que fica no final desse encontro é a decepção de Jamie ao notar que a psicóloga ali estava para cumprir uma função profissional. Ao se abrir a ela, o garoto esperava ser gostado, esperava algum tipo de afetividade por parte dela, que afinal de contas, não vem. Numa rotina onde as pessoas não conversam mais profundamente e nem se interessam de verdade pelos sentimentos do outro, essa reação é perfeitamente compreensível.
Por fim, temos um dia na vida da família Miller, que sai para um passeio pela vizinhança após a van do pai de Jamie, Eddie (o brilhante Stephan Graham) ter sido pichada com a palavra “pervertido”. No entanto, Eddie é um bom sujeito, o típico trabalhador inglês de baixa renda que se desdobra em vários trabalhos para sustentar a família. Ele, como um bom homem mediano, não gosta de se aprofundar em nenhuma discussão que lhe exija alguma reflexão – Jamie, o filho, aprendeu direitinho este comportamento -, o que faz com que o acúmulo de tensão exploda em momentos pontuais, como o dia em que Eddie furiosamente quebrou todo o galpão da casa. Ele é o típico trabalhador subjugado pela racionalidade neoliberal e vítima exemplar da sociedade do cansaço. É um autônomo que não tem com quem compartilhar seus dissabores laborais e que não tem tempo para demonstrar fraquezas afetivas. Nos dizeres dos filósofos Artur Junior Cardoso, Lucas Rocha e Victoria Gutiérrez, em seu ensaio Neoliberalês: Um Ensaio Filosófico Sobre o Idioma do Desempenho, “o sujeito forjado pelo ideário neoliberal não tem ninguém para restringir suas ações, mas também não tem ninguém, além de si mesmo, para responsabilizar por seus fracassos ou sucessos. Abandonado aos seus próprios cuidados, esse sujeito logo percebe que depende apenas de suas próprias iniciativas se quiser alcançar algum triunfo – representado de maneira muito forte em nossa sociedade como uma boa condição financeira. A solução que esse indivíduo encontra – ou é levado a encontrar – para sobreviver é através de uma vontade de produtividade e desempenho. Na medida em que os resultados satisfatórios não chegam e o fracasso desponta no horizonte de visão, o indivíduo – já totalmente tomado pela racionalidade neoliberal – se lança numa busca cada vez maior por produtividade e desempenho. É assim que esse indivíduo se transforma em sujeito do desempenho: aquele que confunde autoexploração com autorrealização”.
Não por acaso, são esses desafios – ainda que travestidos de mazelas adolescentes – que atormentam precocemente Jamie. É a mesma racionalidade que servirá de base no campo do trabalho aos jovens criados sob essa tensão. Discutir sobre isso e outras situações da vida cotidiana seria um “mimimi”, como costumam ser rotulados aqueles que buscam dialogar sobre um cenário mais complexo que envolve sofrimentos psíquicos. Seria simplesmente um sinal de derrota, seria evidência de fracasso puramente individual. Essa mesma lógica precipitou a ação fatal do garoto: se eu não ganho conquistando a menina, preciso eliminar a causa do meu fracasso. Ou seja: onde o indivíduo não se sustenta, o outro que lhe rejeita tem que desaparecer. O garoto ainda não desenvolveu uma couraça necessária e que só um adulto possui para suportar reveses que essa rotina caótica exige. Se Jamie tivesse no futuro uma vida adulta convencional como a do pai, com muita resiliência, talvez ele apenas quebrasse o galpão de sua casa. O azar é que ele nasceu em tempos de internet onde o estímulo à destruição é bem mais intenso.
Sua mãe, a passiva Manda (Christine Tremarco) tenta às vezes o diálogo com o marido, mas parece temer a explosão nervosa dele, que diz não aguentar discutir mais nada. A filha mais velha, Lisa (Amelie Pease), ainda que timidamente, esboça ser um pouco mais ousada que a mãe, mas não sabemos até que ponto. Ao chegar em casa e entrar no quarto do filho, Eddie chora copiosamente, e diz: “Eu devia ter feito mais por ele”. Mas de novo: em nenhum momento ele parece refletir sobre o contexto em que está inserido; não há nenhum comentário sobre a crueldade na escola, sobre a violência institucionalizada pelo mercado de trabalho e as horas que teria para se relacionar mais e melhor com o filho se pudesse trabalhar menos. Tudo isso é invisibilizado pela aparente liberdade que a racionalidade neoliberal lhe oferece.
É como se essa entidade invisível dissesse: “Nós insistimos que você pode fazer tudo o que quiser, porque afinal, como falou Thatcher, ‘há espaço suficiente no topo’ se você concordar em dedicar seu tempo a trabalhar insanamente para nós. No final (?), o ganho será só seu. Por isso, seja livre: seguramos o bastão com a salsicha pendurada na ponta. Você é livre para correr atrás dela se quiser comê-la no fim do dia. Se falhar, não fomos nós que corremos rápido demais, pois você não nos vê atrás e nada pode dizer sobre isso; mas foi você mesmo quem tropeçou. Não há, portanto, algozes, não há ninguém a não ser você mesmo no seu raio de visão”. Essa pequena metáfora de uma ideologia ajuda a esconder os operadores principais do caos em que estamos mergulhados nestas décadas de neoliberalismo exacerbado. E, muito provavelmente por isso, boa parte dos espectadores deverá ver em Adolescência apenas uma história trágica, surpreendente e inexplicável que aconteceu em uma família inglesa comum.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.