WhatsApp: a nova ameaça das fake news em massa
Revertendo compromissos anteriores, empresa criou mecanismo para enviar mensagens não rastreáveis a centenas de milhares de pessoas – em segundos. A pedido do TSE, recurso está apenas suspenso. Riscos à democracia não foram extintos
Publicado 26/04/2022 às 16:54 - Atualizado 26/04/2022 às 16:55
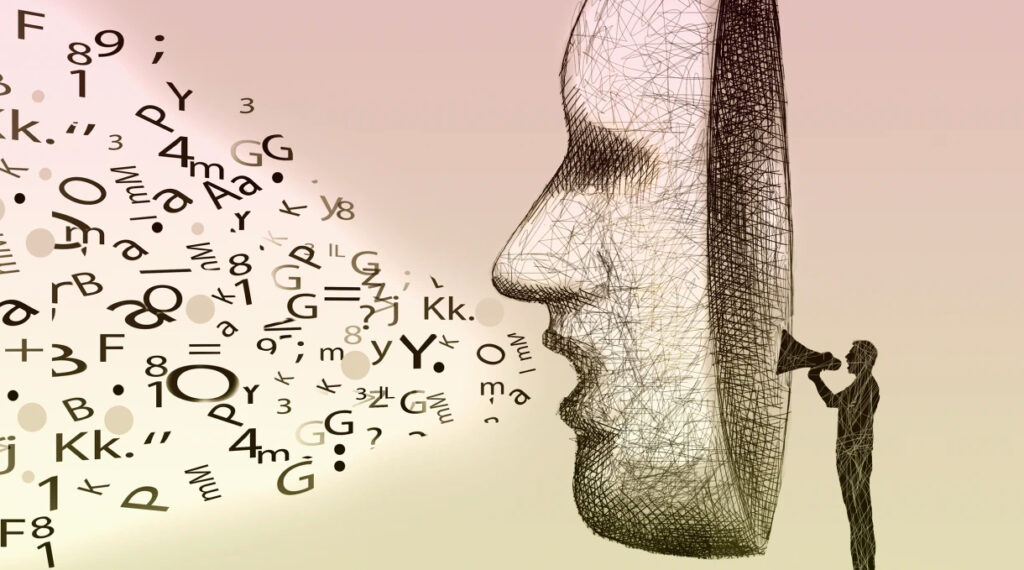
Por Rafael Mafei na Piauí
Em meados de 2019, o então Facebook, hoje Meta, enviou ao Brasil um recém-contratado medalhão, o ex-vice-premiê do Reino Unido Nick Clegg, para uma conversa com acadêmicos, jornalistas e lideranças da sociedade civil. As eleições de 2018, em que o WhatsApp funcionou como espinha dorsal de uma rede de desinformação que enlameou o debate público, eram ainda uma memória muito recente. O fenômeno não era novidade para Clegg, um experiente político britânico que assistira in loco ao referendo do Brexit, cuja campanha ocorreu sob a mesma lama de fake news, viabilizada por aplicativos de comunicação digital.
Naquela conversa com Clegg, boa parte dos convidados, entre os quais eu me encontrava, tinha uma pergunta bastante clara a fazer: como a empresa pretendia lidar com o fato de que seu serviço de mensagens privadas, dominante no Brasil, havia se transformado no principal fio condutor de desinformação política irrastreável, garantindo eficácia e impunidade a quem se dispusesse a utilizá-lo para sabotar a esfera pública e jogar sujo em eleições? Clegg fez que não entendeu: insistiu que o WhatsApp era um aplicativo para conversas entre famílias, amigos, vizinhos e colegas de trabalho ou de escola, e não um serviço de comunicação política em massa. Só faltou um “na volta a gente combate a desinformação, filho”.
Para qualquer brasileiro que viveu 2018, que tinha um celular e que participava de grupos de WhatsApp, aquela postura soava simplesmente cínica. Grupos de família, de trabalho, de colegas e de vizinhos não eram garantia contra espalhamento de desinformação. Ao contrário, eram caminhos incrivelmente eficazes para difundi-la, inclusive garantindo sobrevida a conteúdos derrubados em outras plataformas. Grupos de parentes, do pessoal da firma e da turma do futebol foram as incubadoras dos “tios” e “tias do zap”, figuras mitológicas deste tempo de irracionalidade política.
A própria empresa, é claro, percebeu que sua posição era insustentável e correu para se autorregular antes que parlamentos mundo afora o fizessem: depois de ter aumentado, em 2016, o tamanho de grupos de 100 para até 256 participantes, o WhatsApp decidiu limitar o encaminhamento de mensagens a cinco destinatários por vez (2019) e, na sequência, identificar e limitar ainda mais o compartilhamento de conteúdos muito compartilhados, para apenas um usuário por vez (2020). Agora, porém, a companhia parece ter dado meia volta, marchando no sentido oposto.
A julgar pelo anúncio feito na última semana, de que o aplicativo admitirá a criação de “comunidades” – isto é, grupos de grupos, contendo milhares de membros –, o discurso de que “somos apenas um aplicativo para conversas entre avós e netinhos” foi abandonado de vez. Com o WhatsApp assumindo a opção por uma arquitetura propícia à viralização, é esperado que as autoridades de todos os países, inclusive o Brasil, passem a tratar o aplicativo como uma ferramenta de comunicação em massa. É dentro desse contexto que devemos analisar o recente acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que definiu que as tais “comunidades” só poderão ser disponibilizadas aos usuários brasileiros após o segundo turno das eleições deste ano.
Para entender a atuação do TSE nesse caso, é preciso ter em mente que a matéria eleitoral é, há muito tempo, um ramo sui generis da atuação do Poder Judiciário no Brasil. Por um lado, a Justiça Eleitoral exerce o papel que é próprio de qualquer braço do Judiciário: receber denúncias, apurar violações à lei, ouvir as partes envolvidas e impor sanções quando necessário.
Mas, ao lado dessa função jurisdicional, a Justiça Eleitoral é responsável também por administrar e regular as próprias eleições. Funciona assim há muitos anos, desde antes da Constituição de 1988. O Judiciário cuida não apenas do alistamento de eleitores e transferências de domicílios eleitorais, como também da própria estrutura que viabiliza o voto. Cabe a ele ações como providenciar as urnas eletrônicas e garantir disponibilidade de locais de votação para todos os brasileiros.
No campo regulatório, a Justiça Eleitoral atua por meio de resoluções que detalham a execução das leis eleitorais. Sua função, aqui, é como a de qualquer autoridade regulatória: garantir que o fim último da atividade regulada – neste caso, eleições limpas, livres e equilibradas, das quais participem todos os eleitores – seja atingido, e não frustrado pela ação de atores poderosos.
Para garantir equilíbrio e equidade, a autoridade reguladora tem o dever de impedir abusos de poder. Isso é assim não só nas eleições, mas em qualquer atividade na qual figuras poderosas possam controlar processos, capturar instituições e subjugar o restante da sociedade. No campo eleitoral, regras contra o abuso de poder econômico, político e comunicacional têm justamente o propósito de evitar que partidos, candidatos e setores muito influentes possam abusar de suas posições para desequilibrar injustamente a disputa. Onde quer que haja um potencial abuso de poder, é esperado que a Justiça Eleitoral atue para coibi-lo. Na seara da comunicação digital, isso já vem sendo feito há algum tempo, como atestam as muitas reuniões já realizadas entre o TSE e os representantes de empresas do setor.
É lógico que essa atuação regulatória prejudica quem tem a possibilidade de cometer abusos desse tipo. Na disputa presidencial deste ano, o candidato poderoso é obviamente Jair Bolsonaro. Não apenas pelo fato de ser ele o incumbente, dispondo de todo tipo de vantagens – inclusive orçamentárias – que lhe permitem conseguir apoio político. No universo da comunicação política pela internet, Bolsonaro é o grande poderoso: se já nadava de braçadas nesse campo em 2018, hoje sua vantagem é ainda maior, em razão da visibilidade natural de quem ocupa a Presidência da República. O cargo o fez crescer nas redes, junto de seus familiares e aliados mais próximos. Qualquer ação da Justiça Eleitoral que vise a conter abusos de poder na comunicação política digital vai impor limitações a Bolsonaro, que é quem está em melhor posição para se beneficiar de uma internet onde não há lei. Não surpreende, portanto, que o presidente tenha esbravejado contra a promessa feita pelo WhatsApp de habilitar as “comunidades” somente após o segundo turno das eleições.
O papel da Justiça Eleitoral não é agradar Bolsonaro, e sim garantir as condições para uma eleição limpa e equilibrada. Prefeitos, governadores, ministros e secretários de Estado, radialistas e apresentadores de tevê: todos um dia já reclamaram quando a Justiça Eleitoral agiu para conter seus possíveis abusos de poder em campanhas. Jair Bolsonaro é só mais um nessa fila.
As “comunidades” do WhatsApp suscitam um debate importante no Brasil sobre como o aplicativo deve ser classificado dentro das leis e da Constituição. Aqui, é importante a distinção entre dois tipos de comunicação previstos em lei: a comunicação individual (ainda que ocorra por meio de estruturas de interesse público, como por telefone ou pelos Correios) e a comunicação social. Quando, em 2019, Nick Clegg reagiu às preocupações dos observadores brasileiros dizendo que o WhatsApp era um aplicativo destinado à simples troca de mensagens entre familiares e amigos, ficou clara sua tentativa de enquadrá-lo na primeira categoria: um serviço de comunicação à disposição de qualquer pessoa, cuja tecnologia viabiliza a troca segura de mensagens entre destinatários que se conhecem. É cada vez mais claro que as coisas não são tão simples assim.
Convém lembrar que a grande batalha jurídica até aqui travada pelo WhatsApp diz respeito à integridade de seu sistema de encriptação de ponta a ponta, que assegura que o teor das mensagens não possa ser interceptado no meio do caminho nem por autoridades públicas nem por invasores privados. Se a comunicação via WhatsApp é individual, faz sentido que ela possa ser encriptada, pois a Constituição garante a inviolabilidade dessa forma de comunicação. Logo, a posição manifestada pelo WhatsApp em relação à criptografia – que atualmente tem sua legalidade contestada na Justiça – é tão mais defensável quanto mais clara for a caracterização do aplicativo como um local para troca de mensagens realmente privadas.
O recurso das “comunidades”, porém, caminha em sentido oposto. Ele realça o caráter de comunicação social do WhatsApp, pois permite que uma quantidade enorme de pessoas indeterminadas seja alcançável por uma mesma mensagem. A nova ferramenta permitirá o acesso imediato a 2.560 usuários com um único envio – no caso, uma comunidade com dez grupos de 256 membros cada. Além disso, cada usuário poderá encaminhar a mensagem a outro grupo de até 256 membros que não esteja na comunidade. Somando tudo, estamos falando de mais de 650 mil usuários alcançáveis em segundos, e com poucos cliques. Basta montar direitinho a rede, e a viralização do conteúdo é certa.
Não tenhamos dúvidas: essa matemática já foi feita por agentes que espalham desinformação profissionalmente e que se aproveitarão da nova função tão logo ela esteja disponível. O Ministério Público Federal em São Paulo, que vem conduzindo investigação sobre políticas de enfrentamento à desinformação, também já fez as contas. Por isso, oficiou o WhatsApp para que seja adiada a nova funcionalidade não para depois do segundo turno, como prometido pela empresa, mas sim para 2023, já no próximo mandato presidencial. A preocupação do MPF tem fundamento: caso Bolsonaro seja derrotado nas urnas, não é difícil imaginar o que farão as redes de comunicação bolsonaristas na reta final de seu mandato. Possivelmente, à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos, vão incitar todo tipo de ação que dificulte ou impossibilite a posse do novo presidente eleito. Se, para isso, tiverem à disposição o recurso das “comunidades”, tanto melhor. O perigo, é claro, não vai embora em 2023 e, ao que tudo indica, ainda vamos conviver com as fake news por muitos anos. Mas essas medidas paliativas ao menos podem conter um estrago maior e definitivo num momento de crise aguda.
O WhatsApp, portanto, precisa decidir o que quer ser daqui em diante: ou opera como um serviço de mensagens privadas entre um número controlável de emissores e receptores, com proteção robusta da integridade de suas mensagens, ou como um serviço de comunicação social, com canais estruturados para a rápida viralização de informações – o que, no entanto, exige uma regulação condizente com esse status. É insustentável querer para si o melhor dos dois mundos.
* Rafael Mafei é professor da Faculdade de Direito da USP e autor de Como remover um presidente (Zahar, 2021).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

