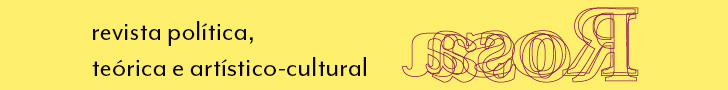Um antídoto ao teatro político da ultradireita
Carente de propostas, os conservadores triunfam através da performance troglodita. Como superá-la? Sociólogo propõe: resgatar o Comum nas cidades – ou seja, a vida pública nas ruas – a partir dos territórios e do encontro das diferenças
Publicado 10/10/2024 às 18:12 - Atualizado 10/10/2024 às 18:13

Richard Sennett em entrevista a Rafa de Miguel, com tradução no IHU
“Sempre pensei que as cidades podem fazer o que os Estados-nação não conseguem, que é juntar pessoas diferentes. Um exemplo muito claro são as escolas públicas de uma cidade como Londres, que são verdadeiros laboratórios onde convivem pessoas muito distintas”.
Richard Sennett, de 81 anos, nasceu em Chicago e cresceu em um projeto de habitação social, Cabrini Green, onde conviviam trabalhadores humildes de diferentes raças. Filho de pais comunistas, de ascendência russa, sua primeira vocação foi a música. Ele ia se tornar intérprete solo de violoncelo quando uma lesão interrompeu sua carreira. Ele então se voltou para a Sociologia, tornando-se um dos intelectuais mais influentes e lidos das últimas décadas. Foi consultor da Organização das Nações Unidas e escreveu obras seminais, como o clássico O declínio do homem público (publicado em 2003), que aborda a esfera pública, o mundo do trabalho, as classes sociais e a família. Também é autor de O artesão, onde analisa nosso conhecimento e habilidade para fazer as coisas bem.
Professor emérito da London School of Economics, Sennett passa mais tempo na capital britânica do que nos Estados Unidos, embora acompanhe de perto a realidade política e social de sua terra natal. Recebe o EL PAÍS em um apartamento austero, de paredes brancas e escassamente decorado. Oferece chá ou café a seus visitantes, com uma amabilidade requintada, e logo começa a falar, apoiado na mesa da sala de jantar, sobre seu novo livro, O intérprete (editora Anagrama), um ensaio repleto de dados, reflexões, histórias, anedotas e sabedoria, sobre a relação das artes cênicas, a vida e a política. Todos somos atores que utilizamos a ferramenta da interpretação. Em alguns casos, surgem a arte e a civilização. Em outros, a teatralidade gera destruição e rejeição ao outro.
Eis a entrevista
Donald Trump e Boris Johnson. O senhor os apresenta como mestres da interpretação, do teatro político. Suas ideias podem ser pouco originais, mas seduzem com sua linguagem não verbal.
As pessoas zombam do fato de Trump repetir os mesmos clichês inúmeras vezes. O que não entendem é que ele é um grande intérprete, um grande performer, que consegue transmitir a sensação de que tudo o que diz é novo, algo que acabou de lhe ocorrer. Ele é um mestre em transformar todos esses tópicos em algo que acaba criando uma relação aparentemente espontânea com seu público.
Todos os autocratas do nosso tempo utilizam essa teatralidade que apela às emoções, em oposição à racionalidade das democracias liberais?
Mas os poderes expressivos que eu analiso são simplesmente ferramentas. Não são a causa de comportamentos autoritários. Essa causa deve ser buscada em razões econômicas ou sociais. No caso de Putin, por exemplo, seu sucesso deriva do fracasso do neoliberalismo. Seu autoritarismo não se deve à sua teatralidade.
Mas vemos mais essas performances na extrema-direita…
Tudo isso é uma ferramenta expressiva, mas é verdade que a extrema-direita a usa mais do que a extrema-esquerda. O mesmo acontece com Trump, que tem um poder expressivo que seduz as pessoas, mas que não está a serviço da arte. Por isso, digo que são apenas ferramentas usadas para revelar algo mais profundo.
Isso é frustrante para a esquerda política…
Vimos isso na França. A esquerda está confusa, está certa de que venceu a batalha contra a extrema-direita com os melhores argumentos, mas é a extrema-direita que triunfa.
Qual deveria ser a resposta, então?
Mudando o quadro em que pensamos para nos expressar. Não pode ser um quadro de expressão dominado pelas paixões das pessoas. Deve ser outro tipo de teatro. O teatro do nosso comportamento nas ruas, todos os dias, com estranhos. É por isso que me interesso tanto por tudo o que envolve a cortesia, o civismo.
O senhor propõe então um tipo de convivência direta com nossos concidadãos como antídoto a esse teatro político.
Precisamos recuperar a experiência da vida pública, o reencontro direto com pessoas que não são como nós. É um aspecto social da performance, a ideia de se expor, de se deixar ver pelos outros. Isso não vai solucionar a política irracional que sofremos atualmente, mas dará às pessoas uma visão diferente dos outros.
Não se deve, então, responder com um discurso ideológico a esse tipo de política…
A maior parte do teatro político se concentra na eliminação do rival. A representação, a performance, busca o repúdio daqueles que são diferentes de nós, de qualquer tipo de solidariedade. É assim que a realidade desaparece. Tudo se resume a nós mesmos e nossos sentimentos. A resposta a uma experiência como essa, que é mais social do que ideológica, consiste em buscar lugares e espaços onde você não seja tanto um espectador, mas um indivíduo presente, em contato com outros que são diferentes de você.
Onde está esse espaço alternativo?
Sempre pensei que as cidades podem fazer o que os Estados-nação não conseguem, que é juntar pessoas diferentes. Um exemplo muito claro são as escolas públicas de uma cidade como Londres, que são verdadeiros laboratórios onde convivem pessoas muito distintas.
O senhor recorda em seu livro um episódio dos anos 60 em Nova York: os estivadores sem trabalho, hipnotizados pelo discurso racista na televisão do governador sulista George Wallace.
Ele era capaz de usar a ferramenta da interpretação para excitá-los de maneira temporária. A chave aqui está na palavra “temporária”. Porque ele não conseguia de modo algum resolver a situação dessas pessoas. A expressão desses sentimentos racistas não fazia com que elas conseguissem trabalho.
Isso lembra, por exemplo, os surtos violentos de racismo e distúrbios vividos neste verão no Reino Unido.
O mesmo. O resultado desses tumultos não foi a deportação de estrangeiros para seus países de origem. A forma como esse poder de expressão desses cidadãos se configura é como se fosse uma libertação, mas uma libertação que os deixa igualmente ou mais impotentes do que estavam antes.
O senhor leva sua ideia de performance, de interpretação, para o mundo do trabalho. E acredita que essa era, em que o trabalhador desempenhava um papel que lhe dava segurança, já acabou.
Isso acabou. Em parte por causa da tecnologia, porque o tipo de habilidade que os trabalhadores tinham adquirido e podiam apresentar de forma pessoal agora é realizada online. Tornou-se desmaterializada. E em parte pela forma como o capitalismo mudou, que não depende mais da presença física dos trabalhadores. Antes, você podia parar uma linha de montagem com uma greve. Agora, se 100.000 trabalhadores de um call center entram em greve, podem ser substituídos por outros 100.000 em outro lugar. E tudo vai piorar ainda mais com a inteligência artificial.
O senhor é filho de dois membros do Partido Comunista, uma verdadeira raridade nos Estados Unidos. O senhor se afastou do dogmatismo comunista, mas com o tempo afirma que se tornou mais à esquerda.
À medida que a economia foi se desenvolvendo e evoluindo, e eu fui envelhecendo enquanto a via evoluir década após década, entendi que essa tentativa de implementar as ideias socialistas de forma mínima não vai funcionar. Precisamos encontrar outra maneira de fazer isso. Não sei qual será, mas essa tem sido até agora a minha trajetória política.
A resposta virá de algum tipo de expressão coletiva…
Uma das razões pelas quais me aproximei da esquerda foi meu interesse pelo movimento sindical. A ideia de funcionar como um ator/intérprete isolado, individual, que é o que o capitalismo moderno está conseguindo nas pessoas, as torna absolutamente impotentes. Cada vez mais fracas.
O senhor vê o perigo desse individualismo na tendência atual da esquerda em apresentar uma política de identidades.
Sim, isso acontece com questões de raça e também com tudo que está relacionado às identidades sexuais. Acaba se tornando uma apresentação do que Erving Goffman chamou de “a apresentação de si mesmo”. Você dramatiza sua própria identidade à custa das relações com os outros.
E nessa constante teatralidade da política, o senhor diria que o constante aviso de uma catástrofe climática não pôde ser interpretado como uma exageração afetada?
Isso podia ser verdade há cinco anos, quando o discurso era muito catastrofista, sim, mas não acredito que hoje encontremos alguém na Grécia, por exemplo, que não se importe que a temperatura suba a 42°C, ou que diga: ‘tanto faz, de algo temos que morrer’. As pessoas já não falam assim.
O senhor é judeu e professa sua admiração por quem foi sua mestra, Hannah Arendt. Acredita que a filósofa alemã teria rejeitado os ataques de Israel em Gaza. Que sentimento isso lhe provoca?
Um ato maligno foi cometido por parte do Hamas [com os ataques de 7 de outubro], mas a resposta a isso não pode ser a realização de outro ato maligno. Como judeu, me sinto horrorizado diante da ideia de que esse segundo ato maligno tenha sido cometido.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras