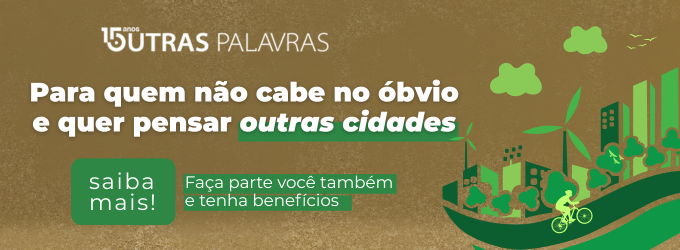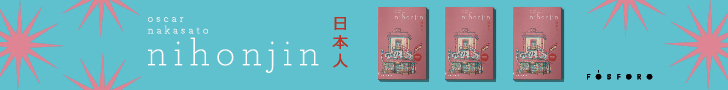Tecnociência solidária: caminho para valorizar o Brasil
Incubadoras, startups e patentes revelam a captura do saber público por empresas privadas. Subutilizados, cientistas abrem mão do conhecimento para reproduzir economia obsoleta. O que aprender com as empresas públicas de ponta?
Publicado 29/07/2025 às 16:21 - Atualizado 29/07/2025 às 16:58

Por Renato Dagnino, em A Terra é Redonda
Embora o lema da 77ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência recém realizada tenha sido “Progresso é Ciência”, seguiu nela imperando sua intenção de atuar para o progresso da ciência. Persistiu, coerentemente, a preocupação acerca de como a ciência, ou a pesquisa realizada nas instituições de ensino e pesquisa, deve atuar para promover o progresso, ou o desenvolvimento.
Preocupação que se expressa, inclusive, pela insistência com que seus líderes têm demandado do governo um Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). Segundo alegam, é ele que orienta a pesquisa nessas intuições (que em benefício da brevidade vou me referir daqui em diante como universidade). Aquela que, como eles também declaram, é imprescindível para satisfazer as demandas tecnocientíficas embutidas nos objetivos nacionais e nas necessidades materiais da maioria da população.
O propósito deste texto é seguir conversando com colegas que participaram da Reunião e que querem tornar mais eficaz nossa política cognitiva, conceito que uso para enfeixar a Política de CTI e a Política de Educação.
Para tanto, vou examinar como essa política interatua com a relação entre a universidade (ou a pesquisa nela realizada), e a empresa. Ator que, no capitalismo, funciona como o vetor do desenvolvimento produzindo bens de melhor qualidade, preço cadente, salários crescentes e pagando impostos que geram a competitividade sistêmica que beneficia a sociedade. E que, por isso, tem sido desde o surgimento da universidade o ator com o qual ela tem buscado se relacionar de modo a alcançar seu objetivo de promover o desenvolvimento nacional.
Inicio, no momento descritivo da análise, com uma inédita tipologia de três modalidades da relação universidade-empresa que concebi para me comunicar com esses colegas. Ela permite, avançando para o momento explicativo, avaliá-las comparando como elas tipicamente ocorrem nos países centrais e periféricos e apontando as causas que explicam o caso brasileiro.
A partir daí, na quarta seção, abandono a postura organizada de analista de políticas públicas adotando o tom coloquial com que me expressei na Mesa Redonda em que participei na Reunião: “Tecnologia Social e Solidariedade”. Ali, a partir da constatação da ineficácia da busca de uma aliança com a empresa, que ainda preside nossa política cognitiva, e apoiando-me em casos icônicos em que a universidade foi exitosa em conectar sua pesquisa com resultados econômicos (embora nem sempre desejáveis), indago sobre fatos portadores de futuro que poderiam configurar um cenário desejável.
É com esse tom bem menos acadêmico, e resumindo ideias que tenho abordado em outras oportunidades, que defendi a pertinência da proposta da Tecnociência Solidária de modo a capacitar a universidade para, substituindo o ator empresa pelas redes solidárias, enfrentar os desafios que lhe assombram.
Uma taxonomia da relação universidade-empresa
Tendo por base análises de pesquisadores da nossa política cognitiva é possível produzir este quadro sinóptico.
| modalidade | quando e como ocorre a relação universidade-empresa? |
| transferencista | adotando o modelo de oferta e demanda, inadequado para tratar o conhecimento, supõe que o resultado desincorporado da pesquisa universitária deve ser transferido para a empresa |
| empreendedorista | lançando mão do conhecimento, professores ou estudantes que adquiriram com experiência de pesquisa na universidade, e por ela apoiados, se transformam em empreendedores ou empresários |
| contratista | pessoas dotadas de conhecimento incorporado adquirido na atividade de pesquisa na universidade são contratados para realizar a P&D que assegura o lucro da empresa |
É importante ressaltar que a modalidade transferencista, ao contrário da contratista, não se dá via contratação dos egressos que detêm um conhecimento advindo de sua experiência com a pesquisa universitária. Ela se dá via a transferência para a empresa dos resultados desincorporados gerados pela pesquisa na universidade e não do conhecimento incorporado em pessoas.
E que, diferentemente da modalidade empreendedorista, a transferencista não tem uma empresa como ator beneficiário do resultado da pesquisa universitária. É um pesquisador-empreendedor (que não contrata ninguém, não extrai mais-valia), cujo objetivo é mediante incubação universitária criar uma startup, o ator apoiado.
Em favor da brevidade, e devido a que o país tomado pelos responsáveis pela elaboração de nossa política cognitiva são os EUA, limito a ele o quadro que compara informação empírica cujas fontes são citadas nas análises recém referidas.
| modalidade | EUA | Brasil |
| transferencista | a parcela do valor gasto da empresa em pesquisa orientado para, mediante parceria com a universidade, desenvolver o conhecimento que necessita é de apenas 1% | 7% das empresas inovadoras possuem relação com a universidade e destas, 70% a consideram de pouca relevância |
| empreendedorista | iniciativas como o Silicon Valley patrocinado pelo imperativo militar, embora pouco frequentes, catalisam empresas inovadoras | startups exitosas costumam ser adquiridas por empresas, frequentemente multinacionais, pouco propensas à pesquisa |
| contratista | 60% dos mestres e doutores formados em ciências duras são contratados por empresas para fazer pesquisa | entre 2006 e 2008, quando os empresários lucraram muito, e formamos 90 mil mestres e doutores em ciências duras, apenas 68 deles foram contratados para realizar pesquisa na empresa |
O quadro mostra, em ambos os casos, a escassa relevância da modalidade transferencista. O que já seria suficiente para, como fazem aquelas análises, questionar a orientação de nossa política cognitiva, uma vez que seu cujo núcleo foi, desde sempre, a intenção de produzir conhecimento para transferi-lo para a empresa e, com isso, promover o desenvolvimento que todos queremos.
Em relação a essa modalidade, é interessante mencionar que salvo casos excepcionais, como o do MIT onde aquela parcela é de 20%, este valor é, por coincidência, apenas 1% do custo da universidade estadunidense. E que no nosso MIT, a Unicamp, o recurso advindo de parcerias de pesquisa com empresas é inferior a essa média estadunidense. O que invalida a proposição dos que a consideram uma forma de diminuir o custo da universidade mediante a captação de recurso privado para realização de pesquisa.
Explicar a enorme diferença relativa à modalidade contratista exige uma menção à nossa condição periférica. E considerar seus dois condicionantes estruturais que, por isto, estão fora da governabilidade dos tomadores de decisão da política cognitiva.
Uma dependência cultural que condiciona um modelo de consumo imitativo, faz com que a satisfação da demanda que ele origina, a produção de bens e serviços já engenheirados no Norte. O que, como indicado no quadro anterior, limita a inovação, ao contrário do que ocorre no Norte, à atividade inovativa denominada “aquisição de máquinas e equipamentos”, sabidamente muito pouco intensiva em pesquisa.
Nosso salário mínimo, que indexa a remuneração do trabalho em geral, por ser um dos mais baixos do mundo num país dos países mais desiguais do mundo, adiciona outro elemento à irrepreensível racionalidade empresarial adversa à realização de pesquisa. Como digo sempre para os meus estudantes, quem gosta de fazer pesquisa é o pesquisador. Empresário precisa lucrar – senão, no dia seguinte, está fora do mercado. E, para lucrar, racionalmente, na periferia do capitalismo, não costuma fazer pesquisa. E por isso, não precisa contratar os pesquisadores que a universidade forma.
A modalidade empreendedorista nasce amparada na ideia de que o empresário brasileiro – aquele que consegue desfrutar das mais altas taxas de lucro e de juro do mundo – é atrasado (como se as empresas estrangeiras que lá fazem pesquisa não dominassem nossos setores mais intensivos em conhecimento). Implicitamente e com muito cautela, ela critica a modalidade transferencista por não ter conseguido difundir na sociedade e espalhar no meio empresarial a importância da C&T e da pesquisa gerando um clima de inovação. Sua materialização são as incubadoras orientadas a permitir que professores e alunos desenvolvam startups etc.
Derivada da pressão corporativa dos pesquisadores-empreendedores que se manifesta a partir da década de 1980, ela tem crescido rapidamente desde então. Convive, entretanto, por conveniência e por ser ela indispensável à sua existência, com a modalidade transferencista. A qual, por sua aderência à noção oriunda do modelo, concebido pela elite científica para descrever a realidade dos países centrais, que legitima a atividade da maioria dos integrantes da universidade, segue influenciando fortemente nossa política cognitiva.
Uma retrospectiva sobre nossos êxitos
A essa altura, quem me lê deve estar se preguntando como se explicam então, face à baixa propensão à P&D da empresa local, os êxitos que alcançou a universidade. Fazendo uma retrospectiva histórica, vamos constatar que quando tivemos a praga do café, no fim do século 19, quem é que sabia disto? Ninguém. Então, criamos o Instituto Agronômico. E quando apareceu a febre amarela? Idem: criamos o que hoje é a Fiocruz. Quando os militares voltaram da Segunda Guerra querendo um avião quando nem fabricávamos carros? Criamos o CTA, o ITA e a Embraer. Quando o agronegócio queria plantar soja no cerrado, quem é que sabia disto? Criamos a Embrapa. Quando o petróleo brasileiro apareceu em água profunda, nós nos tornamos líderes mundiais nisto.
Minha explicação é que essas exceções, que também aparecem em outros países da periferia, confirmam a regra. Elas foram resultados singulares da emergência de atores com grande peso político ou econômico dotados de um projeto político que continha uma demanda cognitiva original ou de difícil obtenção. E que, para satisfazê-la lograram, por meio do Estado, os recursos necessários para gerar uma dinâmica inovadora capaz de mobilizar nosso potencial tecnocientífico cronicamente subutilizado pela empresa.
Com mais esta explicação é possível voltar à preocupação inicial que dominou o ambiente da Reunião acerca de como fazer para que a universidade possa contribuir efetivamente para o desenvolvimento nacional no momento que estamos vivendo?
Seria ocioso aqui falar desse momento, do nosso contexto econômico, social, ambiental etc., da crise sistêmica do capitaloceno. Ele é bem conhecido de todos. Tampouco vou me aprofundar falando da crise da universidade. Cito apenas um indicador para mostrar o tamanho do problema que temos, enquanto professores e pesquisadores, para bem orientar o nosso trabalho: como engenheiro, me causa estranheza ver que hoje existem escolas de engenharia, em universidades públicas, com mais vagas do que candidatos.
Depois de sintetizar a maneira como usei o instrumental de análise de política pública para comunicar a colegas presentes na Reunião a problemática da política cognitiva, me animo a começar esta conclusão, marcadamente coloquial e francamente normativa, com uma afirmação: a Mesa Redonda em que participei “Tecnologia Social e Solidariedade”, ao mencionar a expressão solidariedade, remete a um outro tipo de economia, que não é a economia capitalista das empresas.
Ela supõe, no caso brasileiro ou latino-americano, o chamamos economia social e solidária; tema que está sendo cada vez mais discutido nos fóruns internacionais. A OIT, a OCDE, etc. estão cada vez mais dizendo que o mundo precisa de outros arranjos econômicos, produtivos, de consumo e de finanças que não sejam aqueles tradicionais. Eu decodifico a palavra tradicional como fazendo referência à propriedade privada dos meios de produção, à extração de mais-valia e ao controle.
Junto com muitas companheiras e companheiros, eu entendo que a alternativa seria o fortalecimento de arranjos alternativos que estão brotando no interior do capitalismo. A gente não gosta da propriedade privada, e a gente também não gosta da propriedade estatal “à la” soviética, que gerou o que foi o socialismo real, com grandes déficits de democracia, de participação etc.
A gente quer propriedade coletiva dos meios de produção. E a gente quer autogestão: a gente é humanista. A gente acha que a nossa capacidade intelectual nos diferencia – para o bem e para o mal – dos outros seres vivos. E nós temos que aproveitar essa capacidade intelectual que todos nós temos para prolongar, como diz Airton Krenak, muito sabiamente, nossa vida neste planeta.
Então, o que significa solidariedade dentro desse contexto da pesquisa universitária? Significa trazer os valores e interesses da economia solidária, da propriedade coletiva dos meios de produção, da solidariedade (e não da competição), da autogestão (e não da gestão centralizada e autoritária) para dentro da universidade, contaminando o nosso espaço de ensino, pesquisa e extensão com outros valores que não os do capital, que não os da empresa.
A pesquisa que a gente vem desenvolvendo nos levou a um conceito contra-hegemônico; nos levou ao conceito de tecnociência solidária. Provocativamente, nós dizemos que a tecnociência capitalista, que nós herdamos e que temos que reprojetar, possui sete pecados capitais, que faço questão de citar: deterioração programada, obsolescência planejada, desempenho ilusório, consumismo exacerbado, degradação ambiental, adoecimento sistêmico, sofrimento psíquico.
Achamos que a nossa universidade merece coisa melhor. Sabemos que quem paga com seu imposto o nosso ar-condicionado, nosso laboratório equipado, é o pobre; não é o rico. Não estamos na Finlândia. Portanto, a universidade tem que servir aos interesses da maioria da população. E nós temos que trazer os seus interesses, os seus valores, que estão materializados no programa estratégico da economia solidária, para dentro da universidade.
Nós temos que pensar em tecnociência solidária. Ninguém é louco e ninguém rasga dinheiro. Não vamos jogar a criança com a água do banho. Nós temos que submeter a tecnociência capitalista a processos de adequação sociotécnica que nos conduzam a outra tecnociência.
Uma tecnociência que sirva de plataforma cognitiva para o lançamento e que alavanque o desenvolvimento que nós queremos – não o aquele que oprime, que gera exclusão, que depreda. Não queremos o desenvolvimento capitalista periférico típico com o qual até hoje a universidade de modo pouco refletido tem tentado colaborar pela via da sua relação com empresa.
Enquanto buscamos nos relacionar com a empresa (que não nos quer, que não nos dá bola, que não precisa de nós), temos descuidado das demandas tecnocientíficas, extremamente originais e complexas, embutidas nas necessidades materiais coletivas da maioria da população. Demandas cognitivas que nós não vamos poder resolver com a tecnociência capitalista. Se formos aplicar seus métodos produtivos para resolver os que temos, vamos prejudicar nossa sociedade. Vamos gerar mais desemprego, mais efeitos nocivos no nosso meio ambiente etc.
Queria deixar com vocês mais esta provocação. Nós achamos que nossa universidade tem que fazer outro tipo de pesquisa, tem que formar outro tipo de aluno e, sobretudo, fazer outro tipo de extensão – que não seja a extensão empresarial, dos NITs, das incubadoras, startups, das patentes – aquelas do estilo de política cognitiva à qual estamos submetidos.
Quem me conhece já deve ter ouvido a referência que tenho feito aos quatro cavaleiros do apocalipse que estão invadindo a universidade e ao mantra que se ouve nos seus corredores entoado por zumbis, meio de olho fechado, dizendo: “Inovação, inovação, inovação…”.
O primeiro cavaleiro é o cientificismo, que diz que a ciência é boa, é verdadeira, é neutra, no sentido que serve para alavancar tecnologias que servem para construir qualquer tipo de sociedade. E conclui: vamos fazer a ciência como se faz no Norte reproduzindo essa normativa nas nossas agendas de ensino e pesquisa.
O segundo é o produtivismo, que diz que temos que publicar papers, temos que fazer projetos, submetendo até mesmo companheiros e companheiras de esquerda que afirmam que para retribuir algo ao povão que paga o seu laboratório equipado devem publicar no Journal of…
O terceiro é o inovacionismo, que dissemina a falácia que, como explicado antes, não se materializa em lugar nenhum, de que a universidade tem que produzir algo que cabe à empresa fazer. O quarto é o empreendedorismo, esta outra falácia que (deveríamos nos envergonhar) estamos contando aos nossos alunos, e que não trato aqui porque muita gente mais competente já a ataca.
É tendo essas provocações em mente que convido quem me lê a pensar se é aproximando a universidade de uma empresa, cuja classe proprietária está submetendo o País a um processo de desindustrialização, porque há décadas está perseguindo oportunidades de lucro no mercado financeiro, no mercado imobiliário, no agronegócio, na mineração e na grilagem legal e ilegal, que devemos seguir orientando nossa política cognitiva?
Renato Dagnino é professor titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Autor, entre outros livros, de A indústria de defesa no governo Lula (Expressão Popular) [https://amzn.to/4gmxKTr]
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras