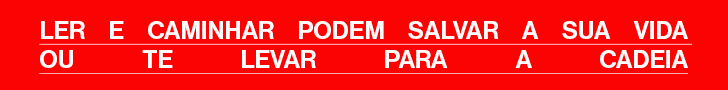Safatle: crise ecológica e fim do progresso
Dominar (e desencantar) a natureza norteou a noção de desenvolvimento. Porém, por trás dessa violência, sempre houve o instinto de sobreviver e a insubmissão ao presente – chaves para criar outro pacto psíquico e evitar a catástrofe
Publicado 01/03/2023 às 16:46 - Atualizado 01/03/2023 às 16:57

Por Vladimir Safatle, na Cult
Poderíamos contar esta como a história da maneira pela qual nosso desejo de emancipação se realizou paulatinamente como catástrofe. Ou poderíamos ser um pouco mais precisos e dizer que essa é também outra história, a saber, a história de como a emancipação efetiva começou quando entendemos que, até agora, nosso desejo de emancipação se realizou como catástrofe. Teríamos uma dupla história, então. Ou teríamos a história cujo verdadeiro começo começa quando ela enfim termina.
“O progresso acontece lá onde ele termina”, era uma frase de Adorno. Para quem passou à história como incapaz de pensar a dimensão prática da ação política, essa era a enunciação adequada de um horizonte fundamental de ação: parar o progresso, para que ele possa começar. Ou antes: parar o progresso, não para operar alguma forma de retorno à origem ou regressão, mas para realizar o desejo de que, assim, o progresso enfim comece. Todas essas seriam variações de um mesmo tema: o tema do colapso do progresso como o primeiro movimento real de seu início.
No início dos anos 1970 apareceram relatórios que mostravam a inevitabilidade da articulação entre progresso e catástrofe. Um deles, talvez o mais conhecido, chamava-se exatamente: “Os limites do crescimento”, de Dennis Meadows, Donella Meadows e Jorgen Randers. Relatórios como esses alertavam que a concepção de progresso que organiza o desenvolvimento de nossas sociedades terminaria em catástrofe ou, se quisermos ser mais precisos, em algo que poderíamos chamar de “catástrofe do crescimento exponencial em um mundo de recursos finitos”, com as sequências de crise econômica, social, ecológica e política que isso pode produzir.
Seria o caso então de explorar mais essa articulação entre progresso e catástrofe, explorar sua inevitabilidade para tentar abordar a questão sobre o que fazer diante de uma dinâmica de progresso que conseguiu misturar, em um mesmo movimento, promessa de emancipação e devastação. Há de se colocar a questão nesses termos para expor mais claramente o fato de não podermos simplesmente abandonar a noção de progresso, da mesma forma que não podemos simplesmente preservá-la. Além do que, não é possível “limitar seus efeitos negativos” porque, até hoje, os “bons” resultados do progresso não puderam deixar de se apoiar no “lado ruim”. Por isso, é necessário inicialmente negar o progresso e ouvir o que tal negação denuncia. Só depois de negá-lo completamente podemos afirmá-lo.
Uma autocrítica do progresso começaria por lembrar que ele foi, até agora, o nome de um fracasso.
De fato, a associação entre progresso e catástrofe é muito mais presente do que gostaríamos de admitir. Essa catástrofe representada pelo crescimento, pela exaustão de recursos em um meio ambiente finito e crise ecológica, é apenas uma de suas figuras. Na verdade, as várias figuras da relação entre progresso e catástrofe apontam para uma articulação orgânica entre progresso e violência. Por exemplo, seria relevante explorar a articulação contínua entre progresso e guerra, a ponto de nos perguntarmos se a história do progresso, até agora, não foi a história da sua relação à guerra. Sabemos como passos fundamentais do desenvolvimento técnico são normalmente realizados dentro dos esforços de guerra. A guerra é um campo de aperfeiçoamento técnico. Essa é uma das mais dramáticas certezas de nossa experiência histórica, a saber, a de que as guerras não podem ser vistas simplesmente como momentos de destruição, mas como operadores de progresso, ao menos se pensarmos no que o progresso até agora significou.
Mas ainda há outro sentido para a relação entre guerra e progresso. Ele está presente no próprio conceito de “crescimento exponencial”: “O crescimento exponencial é um processo comum em sistemas biológicos, financeiros e em vários outros no mundo”. Esse era o tipo de frase que se lia nos anos setenta. Ela está no relatório acima citado. Mas seria possível criticar essa noção de crescimento exponencial como se fosse um fator biológico e, por isso, natural. Seria possível compreender a própria noção de “crescimento exponencial” como uma aberração social, e não como a expressão de um princípio natural. Pois devemos lembrar que crescimento exponencial é uma realidade totalmente dependente de um certo tipo muito específico de sociedade submetida ao processo de acumulação capitalista, da produção feita para gerar excedente e ampliar exponencialmente o consumo.
Etienne Balazs, em um livro sobre a China intitulado “A burocracia celeste” lembrava, mais ou menos à mesma época, que a China tinha todas as condições tecnológicas e científicas para inventar o capitalismo no século 13. Se não o fez é, entre outras coisas, porque o estado fechava as minas quando as reservas de metal eram suficientes. Ou seja, faltava-lhes a noção de crescimento exponencial como extração contínua de mais-valia.
Esse crescimento exponencial, quando aparecer, será indissociável do desenvolvimento de mercados mundiais cada vez maiores, da sujeição colonial, da exploração das condições de trabalho, do uso de trabalho não-pago, com toda a violência que isso implica. Isto nos explica porque as eras vistas como momentos históricos de aperfeiçoamento técnico e perfectibilidade humana foram compreendidas, por outros seres humanos, como momentos de espoliação e destruição. O que para uns é visto como crescimento exponencial, para outros significa destruição contínua, significa uma guerra contra eles, seus saberes e modos de produção.
Quando Celso Furtado leu “Os limites do crescimento” ele não pode deixar de salientar ainda outro ponto, a saber, que o relatório involuntariamente mostrava que o padrão de desenvolvimento e consumo dos países centrais do capitalismo não poderia ser generalizado para todo o mundo, o que mostrava como o progresso, além de estar até agora organicamente vinculado à guerra era, no fundo, um mito. Nunca houve e nunca poderia haver progresso para todos:
“Limites do crescimento” fornece uma clara demonstração de que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo desse estilo de vida em termos de degradação do mundo físico é tão alto que qualquer tentativa de generalizá-lo levaria necessária a civilização inteira ao colapso, colocando em risco a sobrevivência da espécie humana. Nós temos então a evidência clara de que desenvolvimento econômico – a ideia de que pessoas pobres podem um dia desfrutar do estilo de vida das atuais pessoas ricas – é simplesmente inalcançável. Sabemos de maneira incontroversa que as economias periféricas nunca serão desenvolvidas, no sentido de serem similares às economias que constituem o centro do sistema capitalista.
Ou seja, o progresso que conhecemos não apenas dependeu da violência da exploração e da conquista. Ele se mostrou um mito inalcançável, para além de limites geográficos muito estritos. Por isso, a maneira mais consequente de se livrar desse mito começa por negar o progresso, não mais procurar fechar os olhos para sua matriz violenta, recuperar aquilo que ele destruiu. Não há progresso sem a noção de atraso, sem a noção de que haveria não apenas sociedades atrasadas, mas sujeitos fora do progresso, presos a modos de relação a si arcaicos e não-livres. Para sair desse ponto morto da história, tais sujeitos deveriam se sujeitar a intervenções externas violentas que os transformassem, que os educassem, que os curassem. Nunca houve colonização que não tenha sido vendida como forma de vencer o atraso e abrir o caminho ao progresso. E esse progresso era também o fim da sujeição do humano a um pensamento pretensamente fetichista, animista, refratário ao desencantamento necessário do mundo. Desencantamento esse que seria a condição para sermos senhores da natureza e, claro, senhores de todos aqueles que ainda estavam próximos demais da natureza. Por isso, negar o progresso é uma estratégia para parar de pensar diferenças antropológicas sob a figura do atraso e do pensamento primitivo, condição fundamental para o progresso poder enfim começar.
No entanto, há ainda um ponto a ser abordado se quisermos efetivamente fazer uma autocrítica do progresso. Se o primeiro ponto consiste em expor toda a extensão da relação entre progresso e violência, o segundo consiste em uma consideração de ordem psíquica. Se a noção de progresso esteve até hoje tão vinculada à ideia de dominar a natureza, de desencantá-la pelo cálculo, pela mensuração e quantificação, de poder organizar previsões que nos imunizariam contra a escassez, de controlar o involuntário e o contingente, é porque o desejo de progresso sempre esteve fundado no medo de estarmos diante de forças que não controlamos, que colocam em risco nossa autopreservação. Ou seja, o progresso até agora foi fruto do medo, por isso ele pode e deve ser tão violento. E nessas reversões irônicas da história, o que foi feito em nome da autopreservação agora coloca em risco nossa própria autopreservação. Ou seja, ao tentar compulsivamente garantir nossa autopreservação criamos um processo de autodestruição.
Livrar-nos desse medo seria uma condição necessária para o progresso enfim começar. Pois isso significaria não mais justificar a violência contra tudo o que para nós aparece como insubmisso, involuntário e contingente. A crise ecológica, crise na relação entre sociedade e natureza, sempre será acompanhada de algo que poderíamos chamar de “crise psíquica”. Sua superação não exige apenas uma negação do desenvolvimento econômico, mas uma negação do tipo de sujeito que nos tornamos. Não há pacto ecológico possível sem algo como um outro pacto psíquico. A violência que fazemos contra a natureza nunca foi dissociável da violência que fazemos contra o que não é imagem da maturação em nós, contra aquilo que aparece como natureza em nós.
Por fim, tudo isso é questão de “autocrítica” porque no interior da ideia de progresso sempre houve um certo desejo de insubmissão ao presente, sempre houve a crença de que não necessitamos deificar o que atualmente somos ou o que já fomos. Eu diria, esse desejo, constituinte da trágica história do progresso, nunca foi tão necessário quanto agora, como se devêssemos então nos apoiar no progresso para livrar o progresso de seus próprios fantasmas.
Quando a noção de progresso apareceu no ocidente, ela apareceu inicialmente em um debate estético, a Querelle des anciens et modernes. Foi lá que pela primeira vez vimos a utilização de “moderno”, “modernidade” como conhecemos atualmente. A questão da querela era clara: devem as obras de arte se submeterem aos padrões de avaliação do passado ou elas trazem em si mesmas a recusa do que fomos até agora? Se uma obra de arte traz em si o seu próprio valor, se ela é sempre a instauração de um outro princípio de avaliação, é porque ela é a expressão de um tempo insubmisso, de uma insubmissão ao presente. Obras de arte mostram sempre como o presente não é idêntico a si mesmo, como o tempo não se esgotou. Há de nos apoiarmos nessa origem estética do progresso contra aquilo que o progresso se tornou, contra a maneira como ele moldou o que ainda somos e não queremos mais ser.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.