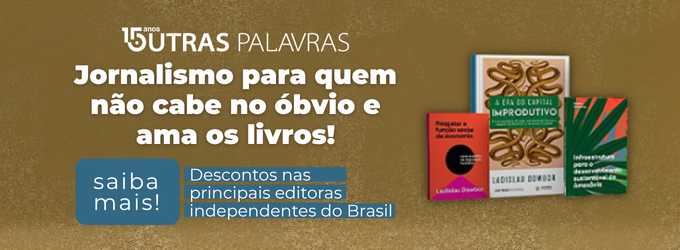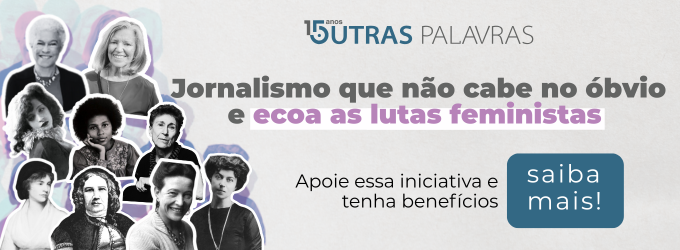Reagan e Trump: do excepcionalismo ao ressentimento
Forjados pelo show business e fachada de self made, ambos galgaram o ultraconservadorismo nos EUA. Hoje, atual presidente radicaliza o projeto republicano a partir dos cacos do passado: o neoliberalismo tornou o presente autoritário inevitável
Publicado 31/10/2025 às 17:17

Por Thiago Gama, no Blog da Boitempo
Duas biografias, uma trajetória conservadora
Os governos de Ronald Reagan (1981-1989) e Donald Trump (2017-2021 e 2025…) emergiram de mundos opostos para convergir no mesmo projeto político-ideológico: a reconfiguração hiperconservadora da sociedade estadunidense. Ronald Wilson Reagan, nascido em 1911 em Tampico, Illinois, construiu sua carreira no show business. Começou como locutor de rádio e saltou para Hollywood onde atuou em mais de cinquenta filmes, unanimemente tido pela crítica como um ator de mediano a medíocre, foi parar no único lugar que o acolheu: o “Sindicato dos Atores de Cinema”. Ali, sua expertise de locutor o fez brilhar, com seu porte espadaúdo e atlético, foi presidente do Sindicato entre 1947 e 1952. Foi durante esse período que operou em sua mente uma transformação política decisiva: de democrata adesista do New Deal do presidente Fraklin D. Roosevelt (1933-1945) a informante do FBI, numa das funções mais inglórias que um ser humano pode ter, de delator de colegas supostamente “comunistas” durante o período do macarthismo (1950-1957), promovida por um dos senadores mais canalhas da História norte-americana: Joseph McCarthy (1908-1957).
Essa biografia não foi acidental. A classe média, como os leitores bem sabem, compartilha certos valores universais, em quaisquer quadrantes do globo terrestre; Reagan personificou esses valores, ele acreditou ser um Self-made man. Em sua mente estreita, ele realizou o percurso do trabalhador americano do meio-oeste que, ao ascender economicamente, abandonava a política redistributiva de Roosevelt em favor do individualismo conservador — uma virada clássica de mentalidade.
Sua eleição como governador da Califórnia em 1966 consolidou esse perfil: o comunicador carismático prometeu “limpar a bagunça em Berkeley”, na Universidade da Califórnia, em pleno ápice da luta pelos Direitos Civis em todos os Estados Unidos, e restaurar a “lei e ordem”. Foi um golpe duríssimo para os liberais, mas Reagan se viu obrigado a recuar várias vezes, quando o Maio de 1968 ainda estava por vir em sua onda de choque juvenil mais poderosa. Quando chegou à presidência em 1981, aos 69 anos, Reagan havia aperfeiçoado sua persona pública — as presas haviam sido recolhidas, e as garras tinham sido escondidas sob os pelos; o que emergiu da sua imagem foi o avô benevolente da nação que, com sorrisos e anedotas de gosto duvidoso, administrava o amargo remédio do desmonte do New Deal. Os Estados Unidos e o mundo nunca mais seriam os mesmos, debaixo de um sorriso gentil, e de uma cabeleira preta, cuidadosamente pintada com L’Oréal et Clairol, ao custo mínimo de US$ 6,00.
Trump percorreu trajetória diversa, mas igualmente performática à níveis estratosféricos, se comparados a Reagan, a bem da verdade. Nascido em 1946 no Queens, Nova York, herdou do pai, Fred Trump (1905-1999) um império imobiliário construído sobre habitação popular subsidiada pelo governo federal. Transformou esse legado familiar em marca pessoal, migrando do mercado imobiliário para o entretenimento televisivo. O programa The Apprentice, exibido entre 2004 e 2017, foi fundamental para o reconhecimento público de Trump: ali, o personagem não apenas se tornou celebridade nacional, mas ensaiou a persona que levaria à Casa Branca — o empresário autoritário que demitia subordinados com prazer televisivo, e prometia resultados imediatos através de decisões unilaterais, assumindo riscos imensos e duvidosos. Em suma, tudo o que um empresário do ramo da construção civil não deve ser. Não se sabe ao certo quantas vezes Trump faliu, mas foram inúmeras. Tudo indica que aliados poderosos na imprensa seguram a barra quando o equilibrista do vazio ameaça despedaçar-se no chão. Afinal, como diz o mantra, a América tem que continuar — tudo pelo show business, e é exatamente isso que Trump entrega, catapultando uma indústria de entretenimento de revistas impressas (que já deveriam estar mortas) e portais de notícias como “TMZ”, que faturam alto com cada exibição ou escândalo público do homem de 2 metros de altura.
Reagan representava o excepcionalismo americano em sua versão otimista — a crença de que os Estados Unidos eram a “cidade no topo da colina” destinada a iluminar o mundo —; Trump personifica, ao contrário, o excepcionalismo em sua versão ressentida, magoada, da heteronormatividade castrada pelo empoderamento feminino. Quando declarou, em seu primeiro discurso de posse de 2017, que encontrava uma “carnificina americana”, estava invertendo a retórica de Reagan. Não se tratava mais do “amanhecer” prometido pelo presidente republicano de 1984 com o slogan “It’s morning again in America”, mas do reconhecimento calculado de uma crise que apenas ele, Trump, poderia resolver através do conflito e da ruptura.
Ambos chegaram ao poder em momentos de profunda crise de legitimidade: Reagan herdou a estagnação econômica dos anos 1970, o trauma do Vietnã e a humilhação da crise dos reféns no Irã; Trump emergiu do rescaldo da Grande Recessão de 2008 e de duas décadas de Guerra ao Terror que esvaziaram a confiança nas instituições, além da grande decepção que os dois mandatos de Barack Obama (2009-2017) representaram. Apesar da afirmativa “Yes, We Can”, seu governo não deixou legado duradouro em praticamente nenhum setor político e/ou econômico. A eleição de Trump representou uma resposta — não no sentido de reparar o pacto social, mas aprofundar sua fratura em benefício do capital e da hegemonia nacional branca, elitizada e protestante. O alvo de Trump, foi, como continua sendo neste ano de 2025, o imigrante, particularmente o latino-americano, que possui um contributo de construção inegável daquele país.
A cristianização da política conservadora
A aliança entre o Partido Republicano e o cristianismo evangélico não nasceu com Reagan, mas foi ele quem a institucionalizou como pilar estratégico permanente. A eleição de 1980 marcou a entrada em cena da “Maioria Moral e Silenciosa”, movimento liderado por Jerry Falwell (1933-2007); este pastor mobilizou milhões de evangélicos anteriormente alheios à política partidária, e Reagan compreendeu que esses eleitores não buscavam apenas representação de valores, mas a fusão entre fé religiosa e projeto político. Algo muito parecido com o que vimos em 2018 no Brasil. Qualquer seguimento social, quando toma consciência de que a mudança se dá somente pela política, se organiza para tomar a… política. É assim desde os babilônicos, e será assim até o sinal dos tempos. Os alheios votam em branco, e abrem espaço para uma avenida de pessoas com projeto político definido. Os gregos chamavam estas pessoas de idiṓtēs, termo que deu origem à palavra idiota. Vem a calhar.
Essa fusão foi cuidadosamente engendrada por grandes empresários conservadores desde a década de 1930, como reação ao New Deal. Ao longo de décadas, fundações e think tanks ultraconservadoras (uma praga norte-americana) financiadas por fortunas industriais trabalharam para associar o capitalismo desregulado à identidade cristã americana. Reagan colheu os frutos dessa estratégia de longo prazo, apresentando-se como defensor dos “valores familiares tradicionais”, enquanto implementava políticas econômicas que corroíam a base material dessas mesmas famílias. Alguém escutou algum eco das políticas econômicas de Fernando Collor (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)? A política econômica de Ronald Reagan deitou raízes profundíssimas nas sociedades latino-americanas, e pelo mundo afora — Reaganomics.
A religiosidade de Reagan era calculadamente ambígua. Raramente frequentava igrejas como presidente, mas dominava a linguagem bíblica e a retórica apocalíptica (ainda que de forma canhestra e pedestre). Referia-se à União Soviética como “Império do Mal” e à América como “cidade sobre a colina”, evocando a teologia puritana da nação eleita. Sua gestão nomeou conservadores religiosos para posições-chave e promoveu pautas como a oposição ao aborto, consolidando a base evangélica sem alienar moderados.
Donald Trump herdou essa base religiosa, mas transformou sua dinâmica. Diferentemente de Reagan, Trump não possuía fluência teológica nem histórico de participação religiosa (nem poderia ter — um homem que cresceu nas boates de Nova Iorque e no mundo cafona-Versace de Miami). Divorciado três vezes, proprietário de cassinos e protagonista de escândalos sexuais, sua biografia contradizia frontalmente os “valores familiares” que alegava defender. No entanto, líderes evangélicos como Samuel Rodriguez (1969) justificaram o apoio com base no “acesso” que Trump lhes concedia, repetindo pateticamente que Jesus era capaz de mudar qualquer pessoa, assim como, supostamente, mudaria Trump. O que se viu foi uma das mais sofisticadas máquinas de limpeza entre Trump e direita religiosa: de um lado, Trump abre portas então fechadas — dinheiro, carros, e até mulheres. De outro, para o público, pastores lhe conferem as bênçãos de que o homem precisava, e assim foi feito.
Trump não apenas cortejou evangélicos — ele os mobilizava como exército político numa guerra cultural permanente. Sua retórica sobre “retomar a América” ressoava em setores que viam na secularização crescente uma ameaça existencial. A nomeação de três juízes conservadores para a Suprema Corte, culminando na reversão de Roe vs. Wade em 2022, representou a concretização dessa aliança. Em 24 de junho do mesmo ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos não reconhecia mais o aborto como um direito da mulher, e isto gerou uma crise sem precedentes na Federação estadunidense. O termo Federação é levado muito a sério nos EUA — cada Estado que forma a federação goza de independência inimagináveis em relação a Washington que Estados brasileiros sequer sonhariam em ter em relação a Brasília.
A diferença fundamental residia no tom entre Reagan e Trump: o primeiro falava em “valores” com linguagem codificada e diplomática; o segundo utiliza linguagem violenta e excludente, mobilizando explicitamente os “ressentidos da modernidade” — aqueles que percebiam nas transformações sociais das últimas décadas uma perda de status e privilégio. A religiosidade deixava de ser estratégia eleitoral para se tornar identidade de combate. Todos sempre souberam que a religião é um componente que goza de muito prestígio nos EUA, o que ninguém pensou seria que sua instrumentalização levaria às raias do rompimento democrático. Donald Trump esteve disposto a isso, Ronald Reagan, com todas as suas idiossincrasias, jamais.
A transição do poder republicano: de Reagan a Trump
A trajetória do Partido Republicano entre 1981 e 2025 revela não uma ruptura abrupta, mas uma evolução gradual do pragmatismo institucional para o assalto às próprias instituições. Reagan, George H. W. Bush (o pai), George W. Bush (seu filho) e Donald Trump formam uma sequência que demonstra como o projeto conservador radicalizou-se.
Reagan governou como uma espécie de “presidente de fachada”, ou “Grandfather in service” — expressão que não denota incompetência, mas método e empatia. Delegava a gestão cotidiana à equipe, mantendo para si o papel de comunicador e definidor de rumos. Seu governo funcionava como arquipélago de poder, com centros de decisão relativamente autônomos, mas coordenados por uma ideologia comum. James Baker (1930), seu chefe de gabinete, era exemplo dessa estrutura: pragmático, negociava com democratas no Congresso mesmo quando a Casa Branca promovia a sua revolução conservadora. A normalidade imperou, a política sempre deu a última palavra. Mas este tipo de política de delegação absoluta, de certa forma, funcionou como uma armadilha quase fatal: o escândalo Irã-Contras de 1986, que foi baseado na venda de armas ao Irã, pela CIA, para combater os Contras que governavam a Nicarágua desde a queda de Anastasio Somoza Debayle (1979). Ronald Reagan não sofreu um processo de impeachment porque a sua retórica contra a União Soviética era de tal grandeza belicosa, que seria melhor mantê-lo do que retirá-lo. Mas não só, o governo Nixon (1969-1974) já tinha sido um trauma incomensurável ao país.
George H. W. Bush personificava o establishment republicano que Reagan utilizara: veterano da CIA, ex-embaixador na ONU e na China, Bush Sênior representava a elite WASP (branca, anglo-saxã, protestante) que historicamente controlava o partido. Sua presidência (1989-1993) foi marcada pelo pragmatismo que custaria sua reeleição: elevou impostos contrariando a ortodoxia de Reagan, de que não se mexia com os ricos, quando o déficit fiscal se tornou insustentável — era o tipo de governante que Trump desprezaria — um insider que acreditava nas instituições que Donald Trump queria e quer demolir.
George W. Bush (2001-2009) representou a primeira radicalização pós-Reagan. Eleito em 2000 após decisão controversa da Suprema Corte, governou inicialmente como conservador compassivo — expressão que prometia atenuar as arestas da lembrança onipresente do governo Reagan. Os atentados de 11 de setembro de 2001 transformaram completamente sua presidência. A Guerra ao Terror legitimou uma expansão sem precedentes do poder executivo, erosão de liberdades civis e militarismo que consumiria trilhões de dólares. Dick Cheney, seu vice-presidente, exercia poder talvez maior que qualquer vice na história americana, comandando a política externa como projeto pessoal.
George W. Bush mantinha, porém, o respeito institucional que Trump abandonaria. Confiava no aparato partidário sólido do Parto Republicano, à moda do pai, mantinha relações funcionais com aliados tradicionais e operava dentro das formas democráticas mesmo quando as esvaziava de conteúdo. A tortura de prisioneiros foi rebatizada como “interrogatório avançado”, a vigilância em massa como “proteção da pátria” — o eufemismo substitui a brutalidade explícita que Trump adotaria. A presidência de Bush foi um desastre para o mundo, foi a pedra de toque que constituiu a erosão do poder norte-americano, e de seu prestígio perante o mundo, principalmente depois da descoberta do tratamento dos prisioneiros em Guantánamo, em agosto de 2004. Entretanto, apesar de Karl Rove (1950) e Dick Cheney (1941), homens sem muitos escrúpulos, não se cogitava rompimento democrático de qualquer ordem, exceto manobras ousadas dentro da Casa Branca, como isolar o próprio presidente das decisões principais — mas isto diz mais sobre o presidente eleito pelos estadunidenses, do que sobre estes homens.
Trump demoliu o paradigma de alternância e certeza democrática completamente. Sua administração foi e continua sendo o de culto à personalidade onde ele “acha que pode decidir tudo sozinho, e não tem o menor respeito ou consideração pelas instituições públicas”, como observou o historiador Max Boot. Diferentemente de Reagan que delegava, Bush pai que coordenava ou Bush filho que confiava em estruturas, Trump governa pelo “X”, antigo Twitter, ou pela TRUTH Social, plataforma de comunicação criada pelo próprio presidente. A presidência de Trump é um “show” caótico, ele demite funcionários publicamente e trata agências federais como obstáculos pessoais, não como instituições norte-americanas bicentenárias. O compromisso de Trump é com Trump. E isso, em sua simplicidade, é tudo.
Anatomia do desastre econômico: neoliberalismo versus protecionismo predatório
As políticas econômicas de Reagan e Trump, embora fundamentadas em filosofias aparentemente distintas, geraram resultado patológicos idênticos: enriquecimento acelerado do topo da pirâmide e estrangulamento da base. O “Reaganomics” operava através da sedução financeira; o trumpismo através da imposição protecionista. Em ambos os casos, os pobres pagaram e pagam a conta, sejam os estadunidenses, sejam os pobres de outros países exportadores para os EUA.
O projeto Reaganomics era duplamente perverso. Internamente, os cortes de impostos para os ricos — a alíquota máxima caiu de 70% em 1980 para 28% em 1988 — combinados com desregulamentação financeira, promoveram transferência de renda histórica. A teoria da “oferta” alegava que reduzir impostos sobre os ricos estimularia investimentos produtivos que, através do efeito “trickle-down”, beneficiariam toda a sociedade. A revista Cadernos do Terceiro Mundo, na qual este artigo se baseia, já documentava em 1984 a falácia dessa tese: “os 20% mais pobres da população perderam 7,6% dos salários, enquanto os 20% mais ricos ampliaram o seu poder de compra em 8,7%”.
O número de norte-americanos vivendo abaixo da linha da pobreza atingiu 34 milhões — crescimento de 35% em relação a 1978. Programas sociais foram desmantelados sob acusação de promoverem “dependência” e “fraudes”. O desmonte do Estado de bem-estar não era efeito colateral, mas objetivo central. Criava-se ordem social onde a pobreza era responsabilidade individual, não estrutural, e onde o Estado deveria servir ao capital, não o limitar. Foi uma fase de tal maneira perversa, que cidades vitrines dos EUA, como Nova Iorque ou Los Angeles cheiravam a drogas, prostituição e desalento.
A política de Reagan também foi deletéria com o resto do mundo. Paul Volcker, presidente do Federal Reserve, elevou a taxa de juros básica para níveis sem precedentes — atingindo 20% em junho de 1981. O objetivo declarado era combater a inflação doméstica; o efeito colateral calculado era transformar o dólar em âncora de valor mundial. Capitais fugiam de economias periféricas para títulos americanos, permitindo que os Estados Unidos financiassem déficits crescentes e corrida armamentista às custas do desenvolvimento alheio. Foi um desastre econômico para o Brasil sem precedentes, e o então presidente militar João Figueiredo (1979-1985), nomeou, em caráter de urgência, o ministro Delfim Netto para a pasta de Secretaria do Planejamento da Presidência (1979-1985), mas não surtiu efeito algum.
Dívidas externas denominadas em dólar tornaram-se insustentáveis quando a moeda americana valorizou-se brutalmente. Cadernos do Terceiro Mundo identificou com precisão: “o mundo paga pela recuperação norte-americana”. A dívida externa era “instrumento de estrangulamento e controle político” que forçava nações em desenvolvimento a implementar programas de ajuste estrutural do FMI, perpetuando o subdesenvolvimento.
Donald Trump, quatro décadas depois, operou em contexto pós-crise de 2008. A ordem neoliberal globalizada que Reagan ajudara a construir havia entrado em colapso espetacular. A resposta trumpista foi o nacionalismo econômico agressivo. Em vez de atrair capital através de juros altos, Trump impunha tarifas punitivas. Em 2025, anunciou tarifas recíprocas contra diversos países, ignorando alertas — ironia histórica — da própria China, que citava discurso de 1987 de Reagan advertindo que tarifas levam a “colapsos de mercados”.
A guerra tarifária trumpista tinha aparência de ruptura com o neoliberalismo de Reagan, mas compartilhava a mesma essência: a subordinação do interesse global ao poder americano. Se Reagan drenava recursos silenciosamente através do sistema financeiro, Trump os confiscava pela força bruta do comércio. O custo recaía novamente sobre trabalhadores e consumidores, tanto norte-americanos quanto estrangeiros. Tarifas elevam preços de produtos importados, funcionando como imposto regressivo que pesa mais sobre os pobres. Isto nem sequer pode ser chamado de “Reaganomics”. Isto é um bicho de sete cabeças econômico da política das canhoneiras, principalmente empregada pelo Império Britânico, no século XIX, ameaçando nações menores com armas em disputas comerciais.
O fantasma permanente: Reagan como origem do Frankenstein Trump
A análise comparativa entre Reagan e Trump revela não uma simples repetição histórica, mas evolução orgânica do projeto conservador americano — do neoliberalismo globalizante sem peias, ao nacionalismo soberano de muros e fronteiras que isolam. Morte lenta das Nações Unidas, e pro-forma da Organização Mundial do Comércio (OMC). Tanto Reagan quanto Trump operaram e operam sob uma premissa implacável: a defesa da hegemonia dos Estados Unidos e a priorização do capital como valores supremos, acima do bem-estar social interno e da estabilidade global.
Pensando ser genial, a equipe de Ronald Reagan operou a cristalização da institucionalização da desigualdade, tornando-a característica permanente e aceita do modelo econômico norte-americano. Os números não mentem: 34 milhões na linha de pobreza, transferência de 7,6% da renda dos mais pobres para os mais ricos, elevação do índice de Gini em 15% durante sua presidência.
Donald Trump, por sua vez, foi o demolidor do resto de ordem global, percebendo as fraturas sociais e econômicas deixadas pela anarquia que caracteriza o Sistema Internacional, dobrou a aposta, como num de seus cassinos, optou por explorar as estruturas que sustentavam o comércio internacional pelo conflito, operando por meio do protecionismo agressivo e da política identitária. Seu legado, podemos antever, será a normalização da ruptura institucional e da política como guerra cultural permanente. A invasão do Capitólio nos idos de 6 de janeiro de 2021 não foi uma aberração, mas culminação lógica de um projeto que sempre tratou a democracia como obstáculo à vontade do líder. E a ressaca da onda veio bater no Brasil do 8 de janeiro, e quem sabe onde mais bateu e baterá?
A pergunta que fica ecoando através das décadas desde aquela reportagem da revista Cadernos do Terceiro Mundo de 1984 que denunciava “o pesadelo que continua”, não é se o pesadelo terminou. O pesadelo fagocitou o mundo, isto é, engoliu o mundo inteiro, e está digerindo uma novíssima ordem de incerteza. Os EUA transformaram sua hegemonia global relativamente estável sob a Era Reagan em potência em declínio inexorável e permanente crise doméstica sob Trump. O Federalismo luta bravamente para continuar existindo, enquanto o executivo (Trump), incendeia o país. O fantasma de Reagan — aquele delator que personificava o anticomunismo paranoico — assombra cada vez mais violentamente a política americana.
O “avô em serviço” não é apenas memória histórica — é presença ativa. Cada tentativa de reforma do sistema de saúde americano é denunciada como “socialismo” (Barack Obama enfrentou esta decepção). Cada proposta de taxação dos super-ricos é atacada como “comunismo”, este fantasma norte-americano que, de tal arraigado, parece uma espécie de common law do país. Cada movimento social por direitos civis é criminalizado como “marxismo cultural”. O vocabulário da delação macarthista, refinado por Reagan e vulgarizado por Trump, continua impedindo qualquer discussão substantiva sobre desigualdade, poder corporativo ou redistribuição de riqueza.
Enquanto o fantasma de Reagan — esse delator de Hollywood transformado em santo secular patrono do conservadorismo norte-americano continuar ditando os limites do politicamente possível, outros Frankensteins surgirão. Talvez piores que Trump, porque o problema nunca foi apenas o populismo autoritário do presente, mas o neoliberalismo respeitável do passado que se tornou esse autoritarismo inevitável. O capital sempre soube que o melhor ambiente para prosperar é o da supressão dos Direitos Civis e Democráticos. O capital não quer dar satisfações, ele quer ser livre de todas as amarras. E, se algo der errado no percurso, aí sim, ele recorre à sociedade e ao Estado, em busca de socorro, como o fez em 1929 e em 2008. Enquanto um colapso não acontecer, quanto menos liberdade, melhor. Este é o contributo de Ronald Reagan para a História, o salva-vidas de Rock River, de fato, foi longe (demais).
Thiago Gama é doutorando em História Comparada na UFRJ.
Referências
Brown, Wendy. In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. New York: Columbia University Press, 2019.
Federal Reserve Economic Data (FRED). “Income Inequality Metrics, 1980-2020”. Disponível em: Federal Reserve Economic Data | FRED | St. Louis Fed. Acessado em 12 de outubro de 2025.
Han, Byung-Chul. The Burnout Society. Stanford: Stanford University Press, 2015.
Japan Times. “Japan voices concern over US tariff policy under Trump”. Disponível em: Banco do Japão inclinado a sair das taxas negativas em março, dizem fontes | Reuters “Tarifas globais de Trump seriam ‘negativas para o crescimento global’, diz Goldman Sachs”. Acessado em 11 de outubro de 2025.
“Reagan, o Pesadelo Continua”. Cadernos do Terceiro Mundo, Rio de Janeiro, n. 72, dezembro de 1984 (Albergado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). Consultado no dia 10 de outubro de 2025. (Repositório de Múltiplos Acervos da UFRRJ: CTM – Ed. Brasileira – Ano VII – Nº 72).
Reagan, Ronald. “Evil Empire Speech”. National Association of Evangelicals, Orlando, 8 de março de 1983. Disponível em: March 8, 1983: “Evil Empire” Speech | Miller Center. Acessado em 11 de outubro de 2025.
Rodriguez, Samuel. “Evangelical Leaders and Trump’s Coalition”. Apoio evangélico a Trump: Disponível em: Evangelicals are divided over the movement’s support for Donald Trump Acessado em 12 de outubro de 2025.
The Washington Post. “How Reagan’s 1980s playbook differs from Trump’s approach”. Disponível em: The Trumpification of American policy | Oct 12th 2024 | The Economist “Como Donald Trump diverge da tradição conservadora”. Acessado em 11 de outubro de 2025.
U.S. Census Bureau. “Poverty Statistics 1978-1988”. Historical Poverty Tables. Disponível em: Historical Poverty Tables: People and Families – 1959 to 2024. Acessado em 12 de outubro de 2025.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.