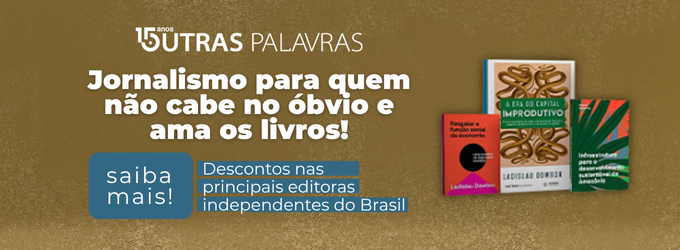Por dentro da indústria de conversões
A história real de Rafael que abandonou o mundo do crime para se converter na fé evangélica – e virou “recrutador” de batismo. Mas, viu uma igreja movida só por resultado, com práticas de “multinacionais”. O que isso diz sobre a atual gestão das esperanças?
Publicado 11/04/2025 às 17:31 - Atualizado 11/04/2025 às 17:32

Por André Castro, no Blog da Boitempo
“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mateus 28:19)
Esta pequena passagem bíblica que serve de epígrafe é chamada de Grande Comissão — ao menos é assim na tradição evangélica. Trata-se do envio de Jesus a todos os seus discípulos, comissionados para anunciar a boa-nova de que o Messias chegou, ressuscitou, e está prestes a redimir o mundo. Esse é o texto fundante da maneira como os evangélicos validam a sua experiência religiosa. O centro de sua vida é participar do anúncio das boas-novas, que geram discípulos e, assim, os batizam. Uma visão universalista: todos os povos e nações devem ouvir o chamado de Cristo, que exige uma disposição integral. Qual é a missão do crente, comissionada pelo próprio Redentor do mundo? Pregar o evangelho e batizar.
O batismo, nessa mesma perspectiva de vivência da fé cristã, é visto como o momento demarcado em que se “morre para o mundo” e se “nasce para Deus”. Uma passagem do velho homem para o novo — conversão — , que culmina no batismo como rito. Essa noção é um dos poucos pontos de convergência entre a maioria das tradições cristãs no Brasil. Seja católico, presbiteriano ou adventista, crê-se que o batismo é o ato que marca o ingresso do fiel na comunidade de fé. Porém, cada tradição desenvolverá sua própria interpretação sobre o batismo e as formalidades canônicas que o legitimam e organizam. O que é uma crença na transformação interior, culminando na imersão nas águas, é também registro institucional. O nome entra nos cadastros, a experiência espiritual racionaliza-se em números. Mais um batizado. Mais próximo da meta.
Rafael entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Mabel carregando uma arma na cintura e uma dúvida.1 Era um sábado de manhã cedo em 2012, e ninguém imaginava que aquele homem, meio trôpego, tinha ensaiado um assalto. Talvez nem ele mesmo soubesse direito o que pretendia, além de fugir da ressaca e, quem sabe, da própria vida. No terceiro banco, sentiu olhares de soslaio. As pessoas se afastavam. Ele não parecia o “tipo” de gente que esperavam ver entrar. Mas aí o pastor bradou: “Quem precisa voltar para Jesus hoje?” E a mão de Rafael se ergueu antes de o cérebro registrar a ação. Um gesto meio inconsciente, meio desesperado.
Só alguém que já esteve e não está mais pode voltar.
Rafael sabia que “voltar para Jesus” não era qualquer coisa, e sua mão levantada marcava uma decisão. Era o anúncio de que sua vida iria mudar. A fim de “nascer para Deus”, ele precisaria primeiro “morrer para o mundo”: sua relação com a organização criminosa que permeia a vida social de São Paulo, o consumo rotineiro de substâncias lícitas e ilícitas, seu trabalho… nada mais seria o mesmo. O Rafael que levantou o braço não foi o mesmo que logo o abaixou. E não deixou barato. Naquele mesmo dia, ele mergulhou no tanque batismal, cheio de água fria (alguém desligara o aquecedor em protesto). “Eu precisava mudar, e ponto final”, resumiria anos depois.
Duas semanas mais tarde, convidaram-no para acompanhar um obreiro bíblico. Uma visita a um dependente químico que queria “escutar a Palavra”. Rafael, ainda sem entender muito da Bíblia, gaguejou uma prece. Usou palavras da rua, do crime, da beira do abismo. O homem chorou, pediu pelo batismo. E Rafael sentiu um arrepio quase físico. “Que sensação doida! Eu preciso de mais!”, pensou.
Acontece que, no meio adventista, existe uma função chamada “obreiro bíblico” — algo como um batedor que prepara terreno para o evangelista, o obreiro vai de casa em casa, convida, anima, convence, batiza. Foi nessa que Rafael se encontrou. Não tinha carteira assinada, mas compensava na fé. Em um ano, jurava ter levado centenas ao tanque batismal. Cada batismo reacendia nele aquela faísca doida de “estou ajudando alguém a renascer”. Para ele, era o testemunho da única coisa que sabia fazer bem: “Eu só aprendi a fazer duas coisas na vida: ser bandido e dar estudo bíblico.”
Tudo ia bem até 2020, quando seu pastor de então foi realocado. E eis que o diretor de evangelismo da associação local, estendeu uma proposta: salário de R$ 4.500, um carro e um emprego para sua esposa. Mas tinha um preço, parte do dinheiro precisaria voltar, discretamente, aos cofres do diretor. E as contas bancárias de Rafael se enchiam de transações suspeitas. Ele percebeu que a própria igreja, que tanto falava em esperança, também tinha planilhas para fechar, metas a bater.
Ao passo que sua vida corporativa ganhava relevância no contexto adventista — alcançando novos cargos e estabilidade financeira —, ele via seu entendimento inicial da fé, aquele que dera sentido à sua conversão, dissolver-se gradualmente nas engrenagens institucionais. Metas batismais e projetos de pastores empreendedores, cujo sucesso media-se por números de conversões nos batismos, transformavam a experiência religiosa dos fiéis em moeda de ascensão hierárquica: liderar igrejas cheias significava competitividade por cargos melhores e salários mais altos.
Foi nesse terreno pantanoso — entre a fé que remodelara sua vida e a mediação ativa em esquemas fraudulentos — que Rafael, como “mão ativa” do pastor por trás da operação, recrutava famílias inteiras para batismos múltiplos: combinavam-se valores abaixo de 200 reais e seis cestas básicas por imersão, com cláusula tácita de repetição semanal em diferentes congregações adventistas da região. Rafael era a pessoa perfeita para o recrutamento de batismos justamente por operar a partir de uma teia de cumplicidade estrutural. Ele selecionava pessoas de seu próprio contexto, indivíduos das periferias e comunidades da cidade, como ele. Entre esses sujeitos, vigora uma economia moral da sobrevivência — laços de solidariedade que se materializavam em trocas de favores, proteção mútua, uma mão lava a outra, e Rafael via no esquema uma chance de ajudar essas pessoas.
O depoimento à que serve de base a este texto detalha a mecânica: uma mesma pessoa chegou a ser mergulhada nas águas dez vezes, enquanto famílias tornavam-se recicláveis em diferentes igrejas. Um pastor com muitos batismos é um pastor bem sucedido, um pastor com poucos batismos é um pastor mal sucedido. Essas são as regras do jogo, e aquele sempre foi um bom jogador. Rafael era somente uma peça descartável, que fazia o trabalho sujo com zelo e dedicação. Em agosto de 2024, sob uma investigação da própria Igreja Adventista motivada pela denúncia do próprio Rafael, a Associação Paulistana dessa mesma organização deslocou de forma discreta todos os que estavam dentro do esquema, realocando diversos pastores em outras igrejas, mas Rafael e o outro obreiro bíblico que fizeram a denúncia foram demitidos. Com o escândalo noticiado, diretor de evangelismo se demitiu e foi homenageado publicamente pela IASD.
Em uma pregação em 2021 para uma congregação adventista no bairro do Ipiranga, o pastor em questão fez uma série de sermões sobre o juízo final. Uma série de sermões é, basicamente, uma organização de falas que gira em torno de um único tema ou passagens bíblicas específicas. No caso, a temática era: “Apocalipse: a busca de um Novo Tempo”. Os temas escatológicos, aqueles debates teológicos sobre a redenção do mundo ou, em linguagem mais popular, sobre “o fim dos tempos”, são bastante comuns no meio evangélico, mas a tradição adventista dá ênfase especial a essa urgência do retorno de Cristo. O quarto dia foi dedicado ao Juízo, o momento em que Deus julgará toda a história e dará início ao novo tempo para o universo. Uma longa aula de escatologia adventista, sem dúvida, mas que ganhava tom de sermão pastoral por ser entremeada por apelos. O Juízo Final não é simples desfecho, e sim evento iminente e totalizante, no qual toda a humanidade se confrontará, inevitavelmente, com a plenitude do divino. Não é algo lá do futuro, mas se acende aqui e agora. Mais que um tribunal de mero acerto de contas, trata-se de um processo contínuo de investigação: no Santuário Celestial, Cristo assume o papel de Advogado, intercedendo sem cessar por aqueles que se submetem à Sua graça. A referência aos códices celestiais — registros das ações humanas, pecados e inscrições indeléveis no Livro da Vida — cria um cenário de exame escrupuloso, de culpabilização iminente. Os crentes estariam todavia a salvo, seus pecados já foram perdoados. Assim, na pregação do pastor, o Juízo Final se constrói em uma dualidade: é tanto um chamado ao arrependimento e compromisso cotidiano quanto um horizonte de redenção definitiva, cujo ápice reside na promessa de novos céus e nova terra para os justificados pelo sangue do Cordeiro. É, ao mesmo tempo, a condenação para os não cristãos e a imagem redimida do universo para os que fazem parte da igreja, colocando a necessidade ulterior do compromisso a todos aqueles que não quiserem arder no inferno. Acompanhando cada comentário com diversas passagens bíblicas, o pastor agenciava nos ouvintes a urgência da conversão; a saída do velho mundo e entrada no espaço-tempo de expectativa redentiva. A fala culmina em um chamado ao batismo, não sem interesse pelo lado do pastor, mas que recaía sobre o colo dos que o escutavam naquela sala como uma oportunidade de se livrar de tudo que há de mal no mundo e voltar para o caminho da redenção.
Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça de Rafael quando entrou na igreja de sua mãe em 2012, ouviu o chamado que convidava os que assim desejassem a voltar para Jesus, e sentiu a própria mão erguer-se sozinha: a sensação de estar diante de uma decisão. Dizem os evangelistas que Jesus já fez o trabalho redentivo e está chamando os perdidos; cabe ao ouvinte, uma vez convencido, decidir entre aceitar ou rejeitar o chamado. Caso escolha tornar-se parte dessa irmandade universal, cuja primazia cabe ao próprio Redentor do mundo, encontrará, na convivência e nas relações entre os irmãos, experiências de esperança. Essas experiências apontam para um horizonte utópico que transcende o presente, mas que, ao mesmo tempo, se manifesta aqui como ordenamento do que deve ser feito para que esse além se realize plenamente.
Se os que sobrevivem no Brasil têm que se sacrificar no mercado de trabalho para seguir vivos, seu próprio sacrifício diário — em que se forja “uma subjetividade isolada que, enquanto tal, é vítima e produto do processo social; o indivíduo se atribui a culpa pelo processo que vitima a si mesmo e aos demais”2 — racionaliza-se em uma imaginação religiosa que o preenche com sinais de esperança. A própria entrega desses mesmos sujeitos dentro da sua comunidade de fé faz com que eles vejam em si, no eco do seu encontro, a experiência de estar diante de alguém que o entende como igual. Esse “nós” faz soar nos ouvidos imagens do dia que ainda não chegou. Esse “lá na frente”, que também é juízo e assim delimita quem é e quem não é, transforma a culpa desse sujeito — livrada pelo sangue do Cordeiro — no motivo da conversão. Eis a verdadeira esperança.
Esperança, naqueles velhos moldes de Ernst Bloch — onde “a escuridão do momento vivido desperta na ressonância do espanto que nos invade, e assim sua latência chega a uma ‘visibilidade’ inicial, o desfrute e a superabundância de ser afetado pelo Nós”3 —, mas que funciona aqui como mola interna de uma corporação internacional como qualquer outra, que batalha no mercado religioso sob a mais instrumental das racionalidades.
Rafael estava no meio disso tudo e, como colaborador descartável — aquele que faz o trabalho sujo e, por isso, incontornável —, conheceu os dois lados dessa mesma coisa que, de forma especulativa, temos chamado de Brasil avivado. O que interessa (e essa história pessoal não deixa escapar) é que o funcionamento dessa imaginação religiosa opera tanto no utópico imaginativo quanto no racional instrumental. Não são coisas separadas, nem há como supor uma sem a outra. A própria imaginação utópica tem seu fazer-ser nas formas de gestão das comunidades que se tornam corporações com o crescimento. Não é uma falha que há de ser resolvida por alguma saída transformadora, é a própria dinâmica da coisa que faz com que “sentir-se parte de algo que caminha” integre o movimento de uma operação comercial. O pastor trabalha aqui. É tanto gestor de um empreendimento — que deve se manter e, assim se espera, multiplicar — quanto o provedor da “chama espiritual” que faz essa própria comunidade viva. Ele há de ser o gerente que conhece o mercado e sabe para onde ir, e também o profeta que dá a notícia de dias melhores para os seus.
Rafael, o pastor e toda essa história não são pontos fora da curva, mas momentos-limite daquilo que segue operando dentro de qualquer igreja evangélica que tem contas para pagar e uma boa-nova para contar.
André Castro nasceu em Pernambuco, mas cresceu na Bahia. Graduado em Teologia (FLAM) e mestre em Ciências da Religião (UMESP), atua como editor e colunista na Revista Zelota. É autor de A luta que há nos deuses (Machado, 2024) e Breve história da teologia da libertação protestante (Recriar, 2022). Pesquisa os nexos entre imaginação religiosa e processo social na América Latina entre a Teologia da Libertação e o Brasil avivado.
Notas
- Nos baseamos aqui no relato feito pelo próprio Rafael à reportagem “A Associação Paulistana e a fantástica fábrica de batismos”, da revista Zelota. ↩︎
- Pedro Rocha de Oliveira. Posfácio. Breve história da realidade: sofrimento, cultura e dominação. In: Silvia Viana, Rituais de sofrimento. São Paulo: Boitempo, 2014. ↩︎
- Ernst Bloch, The Spirit of Utopia. Stanford: Stanford University Press. 2000, p. 202, tradução nossa. ↩︎
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.