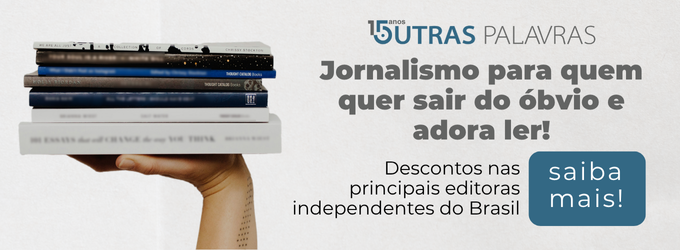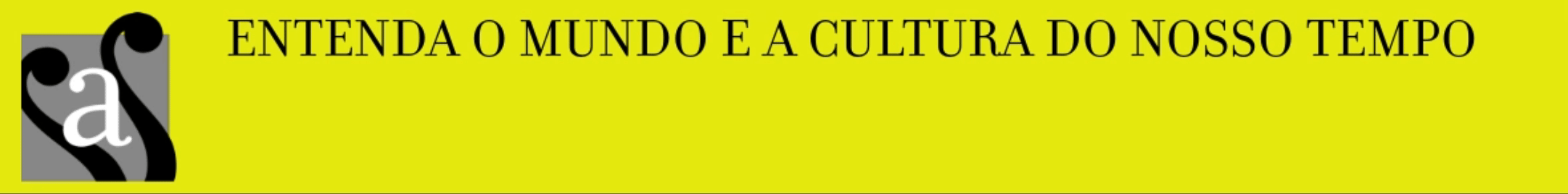Luiz Eduardo Soares: Escolha sua distopia
Em novo livro, antropólogo questiona as instituições brasileiras em “pleno funcionamento”. Disseca a crise permanente de segurança pública. Ao “pensar pelo avesso”, busca desnaturalizar a violência estatal que testa e tensiona os limites da democracia
Publicado 02/09/2025 às 16:49 - Atualizado 02/09/2025 às 16:51
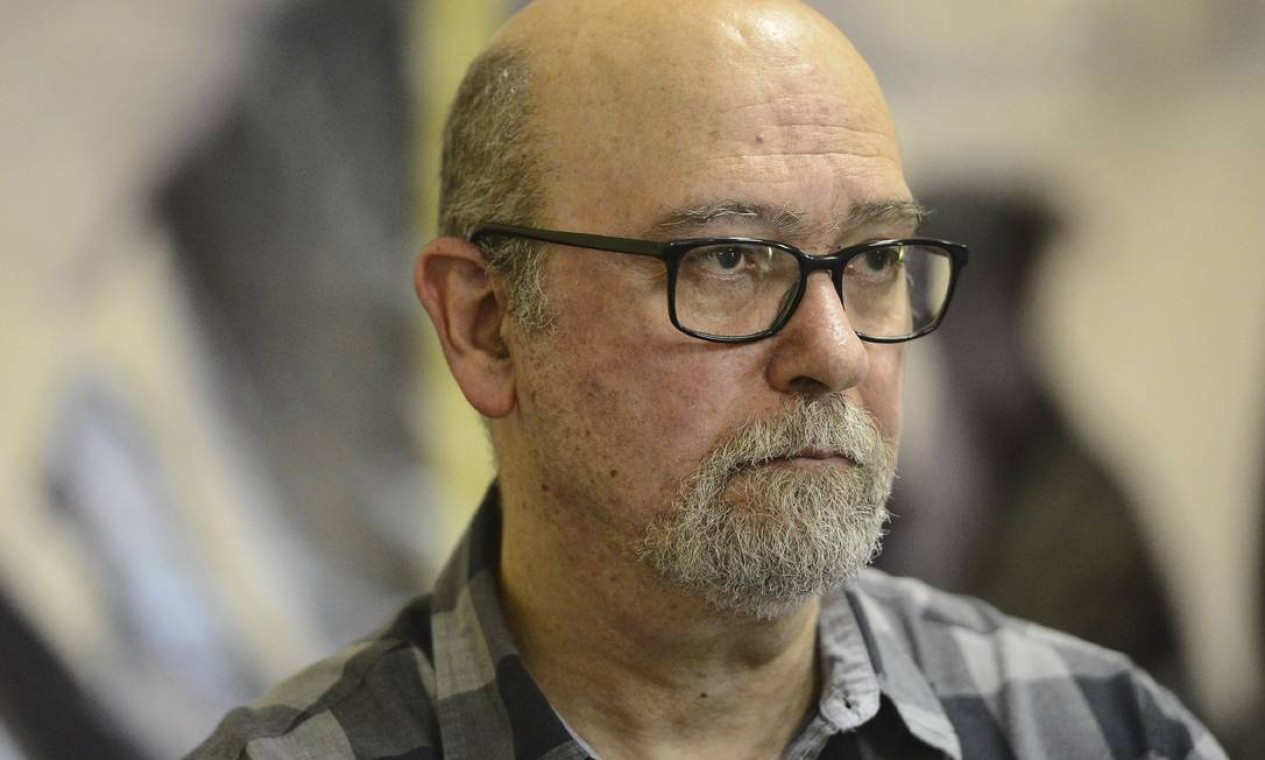
Luiz Eduardo Soares em entrevista a Kátia Mello, no Geledés
Em seu novo livro Escolha sua distopia – ou pense pelo avesso, o antropólogo e sociólogo Luiz Eduardo Soares não escreve apenas sobre futuros possíveis — ele radiografa o Brasil de hoje, revelando as fissuras políticas, sociais e morais que desafiam a democracia nos tempos atuais.
Na obra, que reúne 13 artigos, a partir da promessa da Constituição de 1988, o antropólogo e sociólogo mostra como os avanços civilizatórios foram corroídos por uma onda neofascista que, sob o manto da ordem e da moralidade, desmantelou direitos e naturalizou a violência nas entranhas de nossa sociedade.
Em entrevista exclusiva a Geledés – Instituto da Mulher Negra, Soares analisa como esse cenário não se explica apenas pela crise econômica ou pela polarização política: trata-se de uma disputa profunda por valores, memória e identidade nacional. Ele alerta para a urgência de recuperar o espírito democrático inscrito na Carta de 1988, hoje ameaçado por forças que rejeitam a pluralidade e a igualdade como fundamentos da vida pública.
O livro inverte perspectivas e atravessa diferentes campos do saber, mas uma ideia central emerge: a violência estatal e a cultura punitivista — inseparáveis do patriarcado, racismo estrutural e da exploração de classes — são decisivas para compreender os desafios da democracia e das lutas antirracistas. Soares alerta que o punitivismo não pertence a um espectro político específico, mas é um consenso arraigado: “Nossa cultura tende a confundir justiça com vingança. Precisamos de uma revolução cultural, envolvendo educação, artes, comunicação e movimentos sociais, para distinguir penalização de responsabilização”, afirma.
Para o autor, enfrentar essa realidade é urgente, especialmente diante do encarceramento em massa que transforma jovens negros e pobres em mão de obra do crime organizado, fortalecendo facções dentro e fora das prisões, e perpetuando um presente que ameaça cristalizar-se como túmulo das utopias. E, segundo ele, nesse percurso punitivista, direita e esquerda navegaram juntas.
No enfrentamento desse cenário, Soares defende a organização coletiva e a ousadia política: “Não será tarefa para indivíduos isolados, mas para movimentos sociais articulados, capazes de reconfigurar o sistema político e radicalizar a democracia”. Sem mudanças estruturais, alerta, o país seguirá refém de uma cultura autoritária que legitima a violência e alimenta o neofascismo. Seu diagnóstico é incisivo: “Os governadores não comandam as polícias estaduais. O resultado é um Estado democrático de direito com áreas sob ocupação hostil”.
O antropólogo também critica a subordinação da política ao mercado, que, em sua visão, corrói as instituições democráticas e bloqueia a renovação política. “Até mesmo partidos de esquerda se burocratizaram e se distanciaram da sociedade, tornando-se guardiões da ordem”, diz. Ao expor a captura do Estado por interesses econômicos e criminais — do varejo da violência às cifras bilionárias na Faria Lima —, Soares afirma que “o capital acumulado pelo crime flui pelos circuitos que o lavam e multiplicam, a tal ponto que já não é possível separar o joio do trigo”.
Para ele, a saída não virá de soluções autoritárias, mas da escuta intergeracional capaz de reconstruir vínculos sociais dilacerados. É nessa escuta — entre jovens e velhos, periferias e centros, campos e cidades — que ele aponta a possibilidade de haver recomposição do tecido democrático.
As instituições de segurança pública se tornaram “enclaves institucionais”, refratários à autoridade política civil republicana e à própria Constituição. Quais os obstáculos concretos (e simbólicos) à subordinação dessas instituições ao Estado Democrático de Direito e como isso afeta a legitimidade democrática?
A questão é crucial e exigiria uma resposta muito mais longa do que seria possível, aqui. Em certo sentido, a gênese desse enclave, isto é, o processo de autonomização crescente das instituições da segurança pública é indissociável da própria história do Brasil, é parte importante de nossa história. Como aparelhos coercitivos, a serviço da dominação de classe e da reprodução do racismo estrutural, essas instituições foram se construindo no interior de limites bem marcados, mas também dotadas de liberdade para agir, na ponta, desde que prestando fidelidade aos fins gerais a que se destinavam. Ou seja, exercitavam a discricionalidade intrínseca ao funcionamento de aparatos responsáveis pela “aplicação da lei” de tal modo que a flexibilidade se realizasse contra seus alvos preferenciais: a população negra e pobre. Ao longo de sua trajetória, atravessando regimes políticos e realidades econômicas diversas, as instituições mudaram, mas, em boa medida, permaneceram essencialmente iguais. Essa relativa estabilidade quanto à sua destinação básica espelhava a manutenção do poder nas mãos dos mesmos grupos e classes, a despeito de rupturas e transformações. A continuidade é uma das marcas decisivas do capitalismo autoritário, tal como definido por Otavio Velho, seguido por tantos outros autores e autoras que se dedicaram a estudar a peculiaridade de nosso modelo político-econômico: exclusão das classes subalternas e negociação entre as elites, preservando sua hegemonia, mesmo nas mudanças.
O país majoritariamente rural organizava a ordem recorrendo a milícias locais, comandada pelos latifundiários, os coronéis -nesse contexto, a problemática da autonomização mal se coloca, uma vez que as forças coercitivas são diretamente dependentes dos poderes locais, e se expõem a baixa mediação legal. A dinâmica regente é fundamentalmente centrífuga, embora exista também a problemática específica das cidades, especialmente das capitais. A partir dos anos 1950, começa a grande migração que nos tornaria um país eminentemente urbano, em menos de trinta anos -verdadeira revolução que se dá sobretudo sob ditadura e sem a proteção de um Estado de bem-estar que garantisse direitos. Não por acaso, novos desafios promovem alterações no aparato repressivo, o que envolve a Justiça criminal, em seu conjunto.
A partir dos anos 1950, a crônica policial passa a lidar com novos personagens: grupos policiais atuando explicitamente “por fora” de suas instituições, liberados de quaisquer limites que os submetessem a hierarquia e disciplina, mas autorizados pelo comando superior -comando sancionado pela liderança política. Inicialmente, foram selecionados e convocados pela chefia de polícia do então Distrito Federal. Depois, passaram a se autoconvocar. Multiplicaram-se, sob aplausos midiáticos. Adotaram nomes diversos. Eram vistos como justiceiros, valentes defensores da ordem. Proclamavam-se paladinos da Lei, devotados a limpar as cidades. Segurança revelava-se, sem pudor, o que sempre havia sido: agente do higienismo racista.
Veio o tempo das scuderies, dos grupos de extermínio, antecessores das atuais milícias. Esses atores quase sempre contaram com a cobertura e o apoio, quando não com o estímulo (lembremo-nos da “gratificação faroeste” no estado do Rio, entre 1996 e 1998) das autoridades institucionais e políticas, inclusive com a anuência tácita do Ministério Público e da Justiça, além do suporte midiático e eleitoral. O aspecto mais espantoso é que os assassinatos a soldo (a soldo porque a liberdade para matar em nome da Lei converteu-se em um negócio atraente, assim como a decisão de não matar -podendo fazê-lo sem custo- tornou-se moeda corrente nesse mercado clandestino, conectando policiais e criminosos num amálgama indistinguível) se misturaram a execuções extrajudiciais promovidas em operações, gerando um verdadeiro genocídio de jovens negros e pobres nos territórios vulnerabilizados. Ainda mais espantoso é que essa dinâmica mórbida atravessou incólume a transição para a democracia e não foi interrompida pela promulgação da Constituição, em 1988.
Portanto, quando afirmamos que não houve Justiça de transição no Brasil, devemos acrescentar: na segurança, sequer houve transição. O descontrole se transformou na grande marca das instituições da segurança no Brasil, cujos profissionais, inclusive, não raro atuam na segurança privada, ilegalmente. Vários outros fatores -como a absurda política de drogas, o encarceramento em massa e o modelo policial que herdamos da ditadura- concorreram para a dilapidação dos mecanismos de controle interno e para a inexistência do controle externo. O fato é que o resultado me parece indiscutível: a despeito de variações regionais e de oscilações no tempo, os governadores não comandam as polícias estaduais. Formaram-se, efetivamente, enclaves institucionais, que incluem o sistema penitenciário. Enclaves refratários à autoridade civil e à Constituição.
Para além de simplesmente concordar com ou repelir historicamente estabelecidos símbolos ou mitos, o que significa “pensar visceralmente” numa sociedade atravessada por desigualdades e polarizações extremas?
Talvez eu tenha utilizado o advérbio “visceralmente” com excessiva liberdade, sem o devido rigor conceitual, mas a intenção foi sublinhar minha convicção de que não há posição (teórica, analítica, ética ou política) externa à arena em que se confrontam, hoje, no Brasil, os movimentos sociais, as classes, os grupos. Não há ponto de vista sub specie aeternitatis, ou seja, “universal”, “ahistórico”, “neutro”, “técnico” ou “objetivo”. É preciso sujar as mãos, tomar posição, pagar o preço da inscrição no campo de luta.
Há tempos você argumenta que a subordinação da política ao mercado corrói a credibilidade das instituições democráticas. No livro você resgata isso, por favor, se explique dentro da perspectiva sobre como o mercado conduz a atitude de seus governantes.
A meu ver, há duas dimensões envolvidas nessa problemática: a presença ativa dos interesses do capital no campo da política institucional por meio da ideologia, difundida e sustentada pela mídia corporativa (entre outros atores), ideologia vocalizada pelos políticos profissionais e por porta-vozes dos bancos, de setores empresariais, do agronegócio, das Big Techs, dos representantes do imperialismo, e há, por outro lado, a distribuição de recursos materiais (por baixo e por cima do pano, digamos assim) para as campanhas eleitorais que renovam mandatos e tendem a reproduzi-los. Recursos de fundos partidários, das emendas parlamentares secretas, de empresas (sob a forma velada de doações individuais, etc). Na medida em que até mesmo os partidos de esquerda se burocratizam e profissionalizam, mais fortalecem seus interesses corporativistas e individualizados, mais controlam os meios de reprodução de mandatos e mais bloqueiam o ingresso de novos atores, distanciando-se da sociedade, da juventude, dos movimentos sociais e das fontes de questionamento político-ideológico. Isso faz com que os partidos originalmente destinados à transformação da sociedade se convertam em pastores da ordem (sem e com trocadilho), baluartes da estabilidade, da continuidade, da conservação.
Outro efeito perverso é o taticismo: a tendência é que abandonem a reflexão e a orientação estratégica, obcecados (unilateralmente) pela próxima eleição. Há ainda um componente desastroso, próprio não só ao capitalismo, genericamente, mas ao sistema político que adotamos: nas eleições -e não só, porque o taticismo contamina com a obsessão eleitoral todo o exercício do mandato-, o maior inimigo de cada candidato é seu companheiro (ou companheira) de partido, o mais próximo, ideologicamente, porque ambos disputam o mesmo nicho, os mesmos eleitores. Se votássemos numa lista partidária, todos e todas se uniriam na valorização da lista e do partido. O efeito negativo seria o aumento do poder da burocracia partidária, mas disso tampouco escapamos no modelo individualista vigente -e, pesando prós e contras, valeria o custo. A situação é desafiadora, porque paradoxal: sem profissionalização, dificilmente haveria como enfrentar a complexidade da luta política, mas a representação profissionalizada produz distância da sociedade, cria interesses próprios e promove cooptação sistêmica. Cabe aos movimentos sociais incorporar como temática o debate sobre o sistema político. Como reconfigurá-lo para favorecer a radicalização da democracia, rumo à superação do capitalismo?
Um ponto essencial de sua obra é evidenciar que “nas caravelas do punitivismo embarcaram direita e esquerda”. Como a cultura punitivista permeia diferentes espectros políticos, mesmo com agendas distintas e quais alternativas propõe para desmontar esse consenso, construindo políticas baseadas em direitos humanos e responsabilização?
Que pergunta difícil! Mas também necessária e urgente. Tratei bastante desse tema, no livro. Vou relembrar alguns pontos que estão lá desenvolvidos. A cultura brasileira -permita essa generalização reducionista- é punitivista, até porque tende a confundir justiça e vingança. Como se muda isso? Como se mudam concepções tão profundamente enraizadas? Precisamos de uma revolução cultural, o que exigiria ações no campo das artes, da educação, da comunicação, além de investimento no diálogo com comunidades religiosas e com movimentos sociais. Não é simples, sobretudo quando o neofascismo ronda as redes e as ruas, pronto para reverter com acusações de cumplicidade qualquer tentativa de ponderar criticamente sobre o punitivismo.
Talvez venham a ser fundamentais as contribuições dos movimentos feministas e antirracistas, na medida em que, enquanto vítimas de tantas violações, têm diante de si a oportunidade de distinguir penalização e responsabilização. E esse esforço pode ser pedagógico para o conjunto da sociedade.
Em seu livro, você critica a abordagem “racionalista” para entender o bolsonarismo, propondo uma leitura que articula dissonância cognitiva, gramaticalidade simbólica e sentidos de pertencimento. Como sentimentos como o pertencimento e a culpa são associados à ascensão do bolsonarismo e como se consolidou esse imaginário autoritário?
Se em algum momento me referi à dissonância cognitiva, defendendo a aplicação do conceito, terá sido por um lapso de enunciação. Busquei aplicar a noção de forma descritiva, buscando identificar como o discurso bolsonarista costuma ser apreendido pelos críticos. Por exemplo, escrevi, no primeiro capítulo: “Não raro, analistas empregam conceitos como dissonância cognitiva, equivalente a uma inaptidão na apreensão da ‘realidade’”. Mais adiante, concluindo, insisti: “Por isso, não creio que se sustentem as hipóteses interpretativas que aludem ao conceito dissonância cognitiva”. Ou seja, minha intenção era justamente apresentar outra perspectiva interpretativa. Para responder, sinteticamente, diria o seguinte: a audiência bolsonarista não é passível de ser persuadida por correções factuais, por críticas que visem esclarecer e ajustar o conhecimento a seu objeto (digamos para simplificar: à realidade).
A questão não é nem informacional, nem epistemológica. Crer, nesse caso (e não só, aliás), é matéria de confiança na fonte da enunciação ou da divulgação do enunciado. É matéria de lealdade ao grupo com o qual se firmaram vínculos de pertencimento. Vínculos que não se constroem do dia para a noite. Por outro lado, o discurso bolsonarista que culpa os pobres pela pobreza, os negros pelo racismo, as mulheres pelas violações de que são vítimas, as comunidades LGBTQIA+ pelos estigmas e abusos que sofrem, legitimando desigualdades e opressões do patriarcalismo, do capitalismo e do racismo estrutural, esse discurso que inverte a direção das críticas acaba sendo não só útil aos violadores, mas liberadores, na medida em que remove a culpa que carregam. Sentem-se livres para continuar a ser quem são, a agir como agem, sem restrições.
O efeito liberador desse discurso perverso não beneficia apenas violadores, mas todos os que comungam seus valores e visões de mundo. Por isso, muitas vítimas potenciais ou reais podem se identificar -afinal, o que é a ideologia, senão esse descolamento imaginário entre a experiência e o símbolo?
Você argumenta que um dos erros que cometemos em relação à Carta Magna de 1988 foi não alcançar as instituições da segurança pública, o que acabou por transformá-las em enclaves institucionais. De que forma isso se deu?
A história é conhecida, graças ao testemunho de quem participou das negociações na Assembleia Nacional Constituinte ou as acompanhou de perto. Militares e seus representantes, embora já fora do governo, não estavam exatamente fora do poder, ou seja, ainda detinham força de pressão, ainda funcionavam como agentes de uma chantagem tácita (quando deixaram de funcionar assim?). Foi por imposição sua que o artigo 142, relativo às Forças Armadas, incorporou uma ambiguidade inextirpável, da qual ficamos íntimos ao longo do governo Bolsonaro.
A ideia de intervenção militar, no exercício de um suposto poder moderador, ideia brandida como ameaça, tem origem na ambivalência proposital, que persiste, a despeito de repelida pela maioria dos juristas democráticos. Assim como impuseram ajustes na redação do 142 e nos legaram o espectro de um golpe futuro, exigiram, no artigo 144, que não fosse introduzida qualquer mudança na arquitetura institucional da segurança pública e no modelo policial. O arranjo que teve vigência na ditadura deveria ser mantido. E foi. A ditadura nos legou seu sistema de segurança. Esta é a herança da qual ainda não conseguimos nos desembaraçar.
Como entraves para a mudança temos um passado ditatorial, racismo estrutural, desigualdades e um capitalismo autoritário. Como pensar em novas forças democráticas, capazes de arquitetar uma nova segurança pública dentro de um quadro engessado por essas molduras?
Essa é uma das perguntas que deveriam nos mobilizar e dirigir nossos esforços de pesquisa, reflexão e ação política na próxima década. A formulação da pergunta nos dá uma pista: provavelmente, teremos de tratar ao mesmo tempo de questões atinentes a dimensões diferentes, articuladas entre si, mas dotadas de suas especificidades.
Portanto, o enfrentamento exigirá também coordenação e propostas políticas específicas. Não será tarefa para indivíduos, mas para coletividades. E coletividades organizadas, com organizações abertas à ampla participação e articuladas entre si. Contribuições intelectuais certamente serão necessárias, mas o processo não será conduzido como uma batalha de ideias e conceitos. Será eminentemente político.
Em uma sociedade que tem como lema “bandido bom é bandido morto”, é possível se avançar na discussão sobre encarceramento, sendo que temos a terceira maior população prisional do mundo, com mais de 850 mil pessoas presas e crescentes ondas de violência?
Aqui, preciso remeter à resposta que dei para a quarta pergunta, aquela sobre o punitivismo. Mas a nova formulação me permite acrescentar um ponto: há argumentos concretos, há dados que comprovam o equívoco desastroso do encarceramento em massa. Como tenho reiterado em artigos e entrevistas, a PM é a polícia mais numerosa. Ela é pressionada a produzir e costuma confundir produção com prisão. Entretanto, é não pode investigar, é proibida pela Constituição. Se ela é pressionada a prender e não pode investigar, só lhe resta prender em flagrante delito. Quais os crimes passíveis de prisão em flagrante? São os mais importantes? São os que envolvem bilhões de dólares, planejamento e organização? Não. Qual será, então, o instrumento principal para a PM? A famigerada lei de drogas, que permitirá que ela encarcere o pequeno varejista, o pequeno operador do negócio modesto das substâncias ilícitas.
Por isso, os varejistas têm sido o foco prioritário da polícia militar. Eles têm sido presos em massa. São majoritariamente pobres, jovens e negros. Quando chegam à unidade penitenciária, têm de conseguir a proteção de quem manda. Como o Estado não cumpre a LEP, não garante a segurança e a dignidade dos presos, caberá às facções criminosas oferecer a proteção. O preço cobrado será a lealdade futura, o vínculo, depois da saída da prisão. E assim se provoca a profissionalização na carreira criminosa. Quer dizer, são gastos bilhões dos recursos públicos para fortalecer as facções e destruir a vida de gerações de jovens. Em nome da segurança e da guerra às drogas. Como contestar esse argumento? Mas, infelizmente, a gente sabe que argumentos valem cada vez menos num ambiente envenenado pelo neofascismo.
As milicias são produto de uma necropolítica? Se sim, o enfrentamento a elas poderia se dar com políticas sociais?
Indiretamente, se chamarmos necropolítica aquela que produz morte (sabemos de quem e em quais condições), sim, é verdade, as milícias são o produto, indireto e mediado, de necropolíticas. O enfrentamento de problemas multidimensionais nunca poderia deixar de lado políticas sociais -mais que isso: mudanças estruturais. Contudo, para fazer face às milícias é indispensável reestruturar as polícias, radicalmente. Isso requer ações específicas.
Em sua obra, você argumenta que o Rio de Janeiro se tornou o berço do bolsonarismo devido à degradação institucional, à expansão das milícias e à colonização da capital por práticas políticas forjadas na Baixada Fluminense, onde grupos armados e interesses econômicos locais moldaram uma cultura de violência e corrupção. Como ao longo das décadas essa contaminação desse Estado se irradiou para o resto do país e quais as medidas para combatê-la?
As condições que favoreceram a emergência de um fenômeno não são alheias ao outro fenômeno, que é a irradiação do primeiro fenômeno, mas não serão necessariamente as mesmas. Uma vez parido, o personagem vai ao mundo e se adapta para frequentá-lo e lançar novas raízes em diferentes territórios, em distintas configurações sociais. Muitos dos fatores para o sucesso de Bolsonaro e do bolsonarismo no conjunto do país envolvem aspectos regionais e até locais, inclusive características culturais. Exemplos da variação são os pesos diferenciados que tiveram ingredientes como o repúdio moralista à política, turbinado pela manipulação judicial midiático-política da Lava-Jato, a adesão à meritocracia, o endosso ao projeto neoliberal, o conservadorismo neopentecostal, o apoio à repressão policial sem limites, a movimentação oportunista de partidos ávidos pelo poder, que viram na novidade uma chance de desbancar competidores à esquerda, e assim sucessivamente. Em alguns capítulos do livro procuro aprofundar o exame desses temas e de seus entrelaçamentos.
Você diz que as instituições democráticas funcionam como um ventilador de longe, com ar chegando aos poucos. As instituições brasileiras estão pleno funcionando? E se as comparar com as norte-americanas, que lições nossos ventiladores podem dar neste momento?
Tal como a concebi, a metáfora do ventilador foi uma crítica à tese, muito comum no período do governo Bolsonaro, de que nossas instituições estavam funcionando. Eu ironizava, dizendo que funcionam como um ventilador à pilha depois do fim do mundo. Ele continua girando, enquanto as pilhas o mantiveram ativo, mas de que servirá? Seu funcionamento não teria sentido, nem propósito. Em outras palavras, minha intenção era dizer que a mera operação formal dos mecanismos institucionais não seria suficiente para que lhes fosse atribuído o reconhecimento de que cumpriam sua função. Nos EUA, os ventiladores nem giram mais.
Você discute a comunicação entre gerações progressistas após 2013 entre intelectuais, ativistas e movimentos sociais. Que formas de mediação (linguística, geracional, estética) poderiam reconectar esses sujeitos políticos? E qual o papel da escuta intergeracional na reconstrução dos vínculos democráticos?
Um bom começo de conversa talvez dependesse de dois esforços de abertura: (A) que os mais velhos parassem de falar em identitarismo, parassem de criticar o que, erroneamente (a meu juízo), consideram identitarismo, e deixassem de acreditar que são melhores, sabem mais, são mais politizados, conhecem as respostas, e que suas teorias não foram negadas pela história, apenas incorretamente interpretadas e aplicadas. (B) que os e as mais jovens acreditassem mais em si mesmas, já que o sectarismo e a dificuldade de escutar, que por vezes predominam, talvez sejam reações defensivas à insegurança, à falta de autoconfiança.
Ainda sobre suas reflexões das manifestações de 2013, de que forma estaríamos realmente dispostos a não repetir erros históricos em uma sociedade “com traços atávicos desde a escravidão”?
Acho que não estamos. Pelo contrário, estamos bem longe disso. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais… Mas não deveria ser assim. Deveríamos pelo menos tentar evitar as repetições. Se os erros são inevitáveis, pelo menos que sejam erros novos.
Você escreve que “quem afirmar que toda pessoa humana é portadora de dignidade, afirma sua própria dignidade e mais que a afirma, realiza-se como ser moral”. Em que medida a discussão sobre dignidade ajuda a combater os postulados da extrema-direita?
Se vamos insistir no vocabulário da dignidade (eu acho que faz sentido insistir, enquanto não inventarmos alternativa melhor), deveríamos defini-la nos termos de Kant: dignidade é a qualidade que torna seu portador essencialmente refratário a apropriações instrumentais. O ser digno deve ser tratado como um fim em si mesmo. Talvez devêssemos expandir a aplicação do qualificativo, contornando seu compromisso antropocêntrico de origem. É hora de pensar de outro modo o universo animal e o que um dia chamamos “natureza”. Dignidade é um anteparo moral às violências e àquilo que está no núcleo central do capitalismo: a mercantilização generalizada. Mas também recoloca a problemática dos direitos humanos (e suprahumanos), que nunca chegou a ser inteiramente absorvida pelas esquerdas (pelo menos por boa parte delas), mesmo na versão exclusivamente antropocêntrica tradicional.
Em nome da edificação do paraíso, mutila-se, mata-se, engana-se, destrói-se. Tudo justificado pela nobreza da utopia. Afinal, o que seriam indivíduos, ante a majestade do coletivo? Tudo, eu diria. Tudo. Não sou ingênuo. Sei que há situações (sobretudo quando se trata de resistência à tirania) em que dilemas se colocam e redefinem 10 concepções genéricas. Mas ainda aposto que a tensão entre princípios e a concretude de situações limite tende a tornar a brutalidade um dilema, o que talvez atenue a síntese sanguinária da contradição. O neofascismo nada tem a dizer sobre isso. A tortura e o assassinato são a sua linguagem. E o liberalismo o que é senão a teologia laica da mercantilização?
A Polícia Federal acaba de revelar um esquema que relaciona o PCC ao famoso centro financeiro do país, a Avenida Faria Lima. O que significa essa subida de escalão com cerca de 42 fundos estimados em R$30 bilhões sendo relacionados à facção criminosa?
A operação deflagrada pela Polícia Federal, e portanto pelo Ministério da Justiça, com instituições parceiras, merece nosso reconhecimento. Não seria possível sem muito trabalho. É uma demonstração de competência, seriedade e coragem. Corresponde a um esforço de recuperação da credibilidade das instituições públicas. Observe-se que os resultados, a se julgar pelas primeiras informações, são imensos, sem que nenhum tiro tenha sido dado. Isso pode ajudar a mudar a percepção sobre segurança pública.
Entretanto, devo dizer -sem de modo algum diminuir a importância da operação- que as cifras bilionárias já estavam no horizonte dos pesquisadores do crime organizado no Brasil. Quando assistimos aos episódios melancólicos, quando não trágicos, de operações policiais em favelas, nos deparamos com montantes absolutamente ridículos. As apreensões são a ração diária servida aos incautos para saciar o apetite por vingança.
Quem atua com responsabilidade na área da segurança pública sempre afirmou que o crime não está na favela, está nas zonas afluentes das grandes cidades. Por outro lado, sabemos que o capital acumulado pelo crime flui nos circuitos que o lavam, enxaguam, valorizam e multiplicam, alimentando a máquina da especulação financeira. A partir de determinado momento, o mercado drena, absorve e absolve toda a riqueza monetizada que transita pelas artérias inflamadas do grande cassino em que se converteu a economia.
A tal ponto que já não é possível separar o joio do trigo, se é que essa distinção faz diferença significativa: se parte da parte legal nutre o genocídio em Gaza, se parte da parte legal acelera as desigualdades e expande a miséria, mesmo admitindo que na origem houve quem cumprisse as regras do fisco e quem as transgredisse, dado que o fisco, afinal, é cúmplice e reprodutor das desigualdades indecentes, não haveria algum cinismo nesse espanto midiático ante o escândalo dos bilhões do PCC na Faria Lima? A política está infiltrada pelo crime. Quem ignora? Por que a economia não estaria?
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras