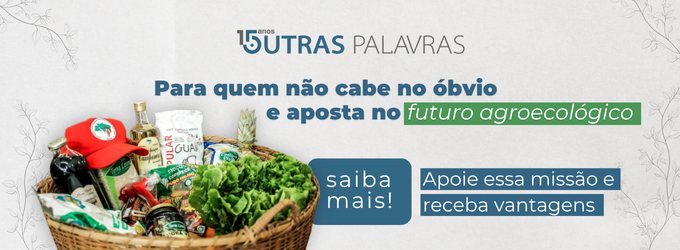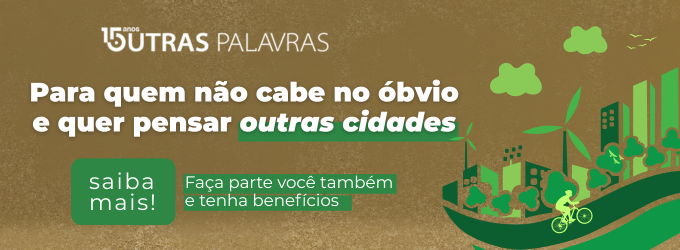Geografia da abolição: ir além do “fim da polícia”
Novo e provocador livro de Ruth Gilmore articula teoria, afeto e prática insurgente. Analisa as prisões como contenções de excedentes humanos e o surgimento dos gulags lucrativos. E o abandono “em liberdade” e o encarceramento faces da mesma violência estrutural
Publicado 15/07/2025 às 16:01 - Atualizado 15/07/2025 às 16:02

Por Juliana Borges, no Blog da Boitempo
Quando mãos negras desenham mapas, o mundo inteiro se curva. Não porque compreendeu a dor que nos impôs como mercadoria durante séculos, e ainda assim nos vê, mas porque há o medo branco diante da possibilidade de a imaginação dos que sobrevivem, e insistem na vida, transformar o mundo. Ruth W. Gilmore, com suas raízes fincadas na tradição radical do marxismo negro, é uma dessas mãos negras que, ao nomear o mundo, também o desafia.
Geografia da abolição é mais que um livro de ensaios, é um campo de batalha que articula afeto, teoria e prática insurgente ante o complexo de morte racializado que chamamos de “sistema penal”. Poderíamos considerá-lo, ainda, testemunho de uma vida dedicada a pensar e construir futuros sem grades, muros e fronteiras, onde a justiça não seja sinônimo de vingança e onde a liberdade não seja reduzida ou condicionada a um privilégio sustentado pelo poder econômico. A tradução deste livro para o português se transmuta, portanto, em um posicionamento político, mais que em uma escolha editorial, e se soma ao vocabulário de resistência negra, de saberes e práticas forjadas na luta política, na qual o intelectual-ativismo se “corporifica” em palavra.
A autora nos apresenta uma perspectiva abolicionista radical e generosa e, mais importante, uma prática geográfica. A partir disso, percebemos que a abolição é muito mais que abolir prisões, é uma forma de reorganizar o espaço, o tempo, as relações sociais e o modelo de sociedade em que a vida floresça. Embora fechar prisões e acabar com a polícia seja uma demanda urgente, e pela vida, o projeto abolicionista alcança a necessidade de desfazer as condições materiais, políticas e afetivo-simbólicas que fazem das prisões uma resposta aceitável. Abolicionismo penal-policial é sobre reorganizar o mundo.
Ao afirmar que “abolição não é ausência, mas presença”, Gilmore contrapõe-se a discursos notáveis e constantes sobre “ausência do Estado”. Ressalte-se que a intelectual não se contenta com essa resposta fácil. Mais presença de Estado não necessariamente significa garantia de direitos, tendo em vista que o Estado moderno-colonial é o principal indutor de violências, como nos alerta o criminólogo argentino Alberto Binder. Abolicionismo penal-policial é ausência de grades e vigilantismo e presença de moradia, cuidado, saúde, cultura, solidariedade e comunidade apresentando-se como uma reengenharia do cotidiano que exige o fim da lógica da escassez programada e projetada. Nesse sentido, dialogando com formulações de bell hooks, poderíamos pensar o abolicionismo como uma prática radical de amor político, coletivo, que se contrapõe ao medo e à punição.
Ruth W. Gilmore se apresenta como filha da teoria crítica negra, na qual o racismo não é mera distorção moral do capitalismo ou uma “cortina de fumaça”. Não. O racismo é, como afirmado pela autora, coadunando as formulações de Cedric Robinson sobre “capitalismo racial”, “a produção e a exploração, sancionada pelo Estado e/ou extralegais, de vulnerabilidades diferenciadas por grupos à morte prematura, em geografias políticas distintas, ainda que densamente interligadas”. Nesse sentido, a “raça” é uma “modalidade através da qual a globalização político-econômica é vivida”. Ou seja, Gilmore se soma a uma tradição de pensadores como Angela Davis, W. E. B. Du Bois, Stuart Hall, Audre Lorde, Mike Davis e tantos outros que compreendem que o capitalismo não é só um sistema econômico, mas uma estrutura de morte racializada.
A partir do conceito de “capitalismo racial”, o livro nos auxilia na compreensão de que acumulação de capital e acumulação de morte caminham juntas. Nessa constatação, as prisões não surgem para conter o crime ou reduzir a criminalidade nem para garantir segurança, mas para conter excedentes humanos, os corpos considerados descartáveis e indesejáveis ao mercado. As prisões são ferramentas para a contenção política como parte do genocídio. Os abolicionistas penais não se contentam com sistemas penais mais “humanos” ou “eficientes”, mas anseiam e lutam pelo fim da dependência da punição como forma de organização social. Não se trata de incluir negros na ordem vigente — caberíamos todos na mesa do capitalismo? —, mas destruir a ordem racializada que depende da exclusão e da precariedade.
Ler este livro no Brasil de hoje é sentir o peso de sua urgência. A provocação de Gilmore encontra no Brasil um reflexo perturbador ao constatarmos que a expansão da população prisional brasileira nas últimas décadas não tem relação direta com o aumento de crimes violentos. A reforma de Lei de Drogas, em 2006 — importante constatar que há diversas proposições no Congresso Nacional visando a mais endurecimento penal com enfoque no varejo das drogas, ou seja, nos usuários —, ampliou a criminalização de jovens negros periféricos, tendo na prisão a resposta preferencial frente às desigualdades estruturais. No Brasil, mais de um terço das pessoas em situação prisional aguardam julgamento, revelando que o controle racial e social se sobrepôs aos ideais de justiça, no que podemos chamar de renovação de padrões coloniais sob verniz de modernidade democrática.
Um dos pontos de conexão é a estratégia de construção de presídios como motores de desenvolvimento econômico em regiões empobrecidas, descrita por Gilmore nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia. No estado de São Paulo, desde os anos 1990, houve a implementação de um plano de interiorização prisional não apenas como resposta diante da repercussão do massacre do Carandiru, mas também com a justificativa da garantia de desenvolvimento em pequenos municípios fragilizados pela desindustrialização. Essa expansão criou dependência econômica local em torno de presídios, reproduzindo, no Brasil, o que Gilmore denomina “Califórnia Gulag”, ampliando e aprofundando a racialização da precariedade e da exclusão social. Até pouco tempo, era possível encontrar no site do governo do estado de São Paulo matérias jornalísticas com comentários de prefeitos celebrando a existência de presídios em suas cidades como indutores da economia. Na verdade, esse modelo criou dependência do encarceramento tendo em vista que a sobrevivência econômica de municípios passou a ser atrelada à presença e à manutenção de presídios. A conversão da punição em estratégia de gestão territorial configura um “gulag brasileiro-paulista”, reorganizando geografias sociais sem alterar em nada as desigualdades.
Ademais, essa expansão carcerária paulista impulsionou uma cadeia de serviços ligados ao sistema penitenciário, em geral privados, favorecendo a acumulação capitalista com base no confinamento. Não se trata, portanto, da prisão como fruto da necessidade de segurança pública, mas de uma escolha política de conter, controlar e explorar indesejáveis da ordem neoliberal. Assim, a análise de Gilmore ilumina o entendimento de que o capitalismo racial contemporâneo articula abandono e encarceramento como duas faces da mesma geografia de violência estrutural. A leitura da prisão como motor econômico revela que o encarceramento não é um acidente nem exceção ou descuido, mas uma estratégia. Sua análise ainda lança luz para complexizarmos a leitura de que a política prisional estadunidense foi transformada em produto de exportação, como vemos, em 2025, na relação entre o país e o regime Bukele, em El Salvador. A internacionalização da lógica punitiva e carcerária é incentivada por interesses políticos e empresariais que, na precarização neoliberal, veem na gestão violenta da pobreza um recurso de fortalecimento do Estado penal-policial e a expansão de negócios privados. Gilmore nos auxilia a reconhecer essas conexões globais para pensarmos alternativas que não apenas desafiam o encarceramento em massa localmente, mas também para enfrentarmos o complexo transnacional que se sustenta e lucra com a prisão em larga escala.
Sua análise, ancorada na resistência de mulheres em territórios marcados pelo terror colonial-moderno e pelo racismo, revela que a luta contra o encarceramento não é só jurídica, mas profundamente existencial, econômica e geopolítica. A espacialização do castigo e da desigualdade racial não é aleatória, mas segue uma cartografia precisa, desenhada historicamente por meio de políticas públicas de exclusão, remoção e repressão. As prisões interiorizadas do estado de São Paulo, como descrito, constituem uma tecnologia de governo que alinha interesses econômicos, políticos e raciais. A prisão é, ao mesmo tempo, destino e justificativa para o abandono das periferias urbanas. Ao mesmo tempo que se esvaziam as políticas de bem-estar e de direitos nos territórios negros e empobrecidos, multiplicam-se a vigilância, a punição e a morte como únicas formas de presença do Estado. Quando Gilmore afirma que, “se a raça não tem essência, o racismo tem”, ela nos convida a reconhecer a persistência de um sistema de controle que, embora mutável em suas formas, é estável em sua função de reproduzir desigualdades e manter hierarquias sócio-político-raciais.
No Brasil, essa essência do racismo se materializa nas prisões, nas periferias militarizadas, nas abordagens policiais seletivas e nas estatísticas que apontam para um genocídio cotidiano da população negra. O genocídio brasileiro é como um crime perfeito que tem, por um lado, civis negros como maiores vitimados e violentados e, por outro, policiais como uma base racializada que agem como algozes do Estado, sendo também os que mais morrem.
Há muitos outros pontos de interesse nos ensaios e nas entrevistas deste livro, mas é importante afirmar que, se há repressão estatal, há resistência dos movimentos sociais. Somos um país de radical invenção onde quilombos resistem há séculos, onde mães e familiares de vítimas da violência estatal e em situação prisional transformam o luto em luta. Movimentos como Mães de Maio, Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, Amparar, Frente de Luta pelo Desencarceramento constroem o abolicionismo na prática, em ruas e territórios periféricos. Esses e tantos outros movimentos se contrapõem a um arranjo territorial racista sustentado pelo que poderíamos chamar de “epistemologia da desumanização”, quando populações racializadas e vulnerabilizadas são convertidas em problemas de segurança a serem resolvidos com mais polícia, mais presídios e mais controle. Vivemos a era do vigilantismo no Brasil, com o uso desenfreado de tecnologias na segurança pública sob o argumento de garantia de lei e ordem, de segurança, sem que direitos básicos e constitucionais sejam garantidos num grande espetáculo em que a pedagogia do medo legitima a existência de um Estado penal-policial e punivitista racializado. O desafio analítico e político é recusar a naturalização dessas geografias de morte e investir em formas de conhecimento e ação que partam do reconhecimento da dignidade, da agência e da resistência dos sujeitos afetados por esse regime.
Nesse sentido, as lutas das mães e familiares, como Gilmore mostra no exemplo da organização “Mothers ROC”, na Califórnia, e como as Mães de Maio e Amparar, no Brasil, revelam que a resistência emerge do concreto, das relações afetivas violentadas e da urgente necessidade de transformar luto em força coletiva. Como afirma sempre dona Débora Silva, do Movimento Independente Mães de Maio, “as mães vão parir um novo Brasil”. Infelizmente, a partir da dor que impulsionou a luta. Ao organizarem suas ações em escolas, nas comunidades, em universidades, nos bairros, essas mulheres constroem geografias insurgentes que rasuram as linhas da dominação estatal. Trata-se de confrontação da legitimidade de um sistema que criminaliza a pobreza e racializa a punição. Pelo poder simbólico da maternidade social, algo marcante nas tradições de mulheres negras, essas mães denunciam o Estado e constroem práticas abolicionistas desde os territórios fundamentadas no direito à memória e na esperança que age pela transformação. Ao “deslocarem pedras” que sustentam estruturas carcerárias, para usar expressão de Gilmore, essas mulheres ensinam que o projeto mascarado de crise pode ser, mais que ruínas, oportunidade de reorganização e rebeldia. Suas experiências nos ensinam que o abolicionismo é, antes de qualquer coisa, uma prática coletiva de imaginação e criação de novos mundos.
Este livro é uma conversa, um trabalho de construção de pontes de mão dupla entre geografias da abolição que nascem em Los Angeles, em Ferguson, em Bogotá e as que brotam em Salvador, na Maré, no Jardim São Luís e em Belém do Pará. A abolição é um projeto internacionalista e profundamente situado, muito distante de ser um “delírio”, como punitivistas pretendem apresentar. A abolição é o exercício de “fazer com que o impossível se torne inevitável”. Em tempos em que o cinismo político e o desespero frente à precariedade neoliberal tentam nos paralisar, Gilmore nos faz um convite a sonhar em voz alta.
Não há fórmulas nem soluções inacabadas. Nesse sentido, Geografia da abolição contribui para reimaginar a política como exercício coletivo e do comum tendo em vista a criação de um mundo sem hierarquias, sem tutelas disfarçadas. Ao longo das últimas décadas, o abolicionismo penal emerge da reivindicação da liberdade como prática, não como promessa. Esse movimento, como outros, enfrenta tentativas de captura reformista em tentativas de redução da luta à distinção entre inocentes e culpados, violentos e não violentos, operando sob uma lógica administrativa e limitada. E essa armadilha, longe de ser uma constatação apenas ao contexto estadunidense, também se manifesta no Brasil. Discursos de reformas graduais e “humanizadoras” ampliam a seletividade penal-racial e mascaram a continuidade do capitalismo racial. Ainda assim, o abolicionismo floresce nas fendas em que práticas de cuidado, mediação de conflitos e justiça comunitária se firmam sem esperar autorização estatal.
Este prefácio não dá conta de toda a complexa teia de relações entre racismo, capitalismo e cárcere nem de todas as experiências e propostas de luta e resistências anticoloniais e antissistêmicas que Ruth W. Gilmore nos traz; ele se torna, portanto, um convite para uma leitura generosa e comprometida destes ensaios e entrevistas. Cartografar o impossível e torná-lo inevitável. É nesse chamado que se fincam as ideias de Gilmore, que relembra que a teoria nasce da prática, que não existe abolição sem povo, sem território e muito menos sem história, que nos lembra que, mesmo em meio aos escombros, seguiremos construindo mundos.
Nos últimos anos, vemos avançar no Brasil a reivindicação do abolicionismo penal-policial como horizonte político. Que essa tradução seja semente. Que este livro circule em universidades, sim, já que Gilmore alerta para o compromisso de uma intelectualidade-ativista, mas, principalmente, que alcance escolas públicas, centros culturais periféricos, assembleias populares, ocupações, quebradas, aldeias e comunidades indígenas e tradicionais, entre ribeirinhas e quituteiras, entre bordadeiras e domésticas, entre motoboys e comerciárias. Que ele sirva de ferramenta para quem luta por justiça com justiça e ajude a romper o imaginário limitado da prisão como resposta. Que este livro alimente mapas insubmissos que estamos desenhando, juntos. A abolição como cartografia da esperança em tempos de guerra.
Juliana Borges é doutoranda em História Econômica, mestre em História Social e graduado em História pela Universidade de São Paulo.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.