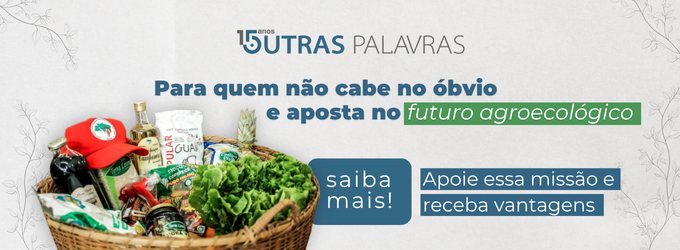Em busca do “livro esquecido” de Mariátegui
Relançado, cem anos depois, La escena contemporânea. Com “método jornalístico cinematográfico”, o primeiro livro do autor peruano revela seu estilo e sua modernidade radical ao interpretar o mundo da época. Leia o ensaio de abertura
Publicado 25/07/2025 às 17:34 - Atualizado 25/07/2025 às 17:41

Por Martín Bergel, na Jacobin Brasil
Em março de 1924, pouco depois de retornar ao Peru de uma estadia de mais de três anos na Europa, crucial para seu desenvolvimento intelectual, José Carlos Mariátegui anunciou na revista Claridad — afiliada à Universidade Popular González Prada — a publicação iminente de seu primeiro livro. Seu título provisório era “Figuras y aspectos de la vida mundial” [Figuras e Aspectos da Vida Mundial], o mesmo título de sua coluna no semanário Variedades. O volume, que, segundo o anúncio, abordava “as principais correntes da época”, reuniria, “complementados e revisados”, os “estudos” de Mariátegui sobre “personagens e cenas da vida contemporânea”.
O projeto foi apenas uma de suas iniciativas para comunicar o vibrante panorama do mundo que ele havia capturado com uma avidez e acuidade inigualáveis a outros viajantes latino-americanos ao longo de sua jornada europeia. Todo o impulso emocional de Mariátegui ao retornar ao Peru concentrou-se em projetar e reelaborar no cenário local a fascinante mistura de vanguarda estética e marxismo revolucionário que o permeara em suas experiências de viagem. No final, durante sua jornada, ele também começou a elaborar a ideia para sua futura revista, Amauta (que, na época, também era anunciada na Claridad, mas com um título diferente que não seria definitivo: Vanguardia). Pouco antes disso, na apresentação do ressonante ciclo de palestras que, sob o nome “Historia de la crisis mundial” [História da Crise Global], havia proferido na Universidade Popular logo após seu desembarque, Mariátegui explicou claramente os objetivos que norteavam sua ação:
A única cátedra de educação popular com espírito revolucionário é esta cátedra em formação na Universidade Popular. Portanto, sua tarefa, transcendendo o modesto escopo de seu trabalho inicial, é apresentar a realidade contemporânea ao povo, explicar-lhe que está vivendo um dos maiores e mais transcendentais momentos da história, contagiar o povo com a fecunda inquietação que atualmente agita os demais povos civilizados do mundo […] O proletariado precisa, agora mais do que nunca, saber o que acontece no mundo […]
A vocação apaixonada de Mariátegui para direcionar sua práxis à formação de uma nova geração de intelectuais, trabalhadores e artistas imbuídos das perspectivas críticas mais inovadoras do mundo foi repentinamente interrompida pela crise de saúde que o atingiu em maio de 1924, resultando na amputação de uma perna e em uma nova vida sobre uma cadeira de rodas. Contrariando as expectativas, após alguns meses de recuperação, Mariátegui retornou à luta com o mesmo vigor. Enfim, no final de 1925, seu tão esperado livro viu a luz do dia, como parte de outro projeto inédito, a editora Minerva que ele fundou com seu irmão Julio César. O volume, apresentado em sete capítulos que, na prática, reuniam os pequenos ensaios que Mariátegui publicava semanalmente, havia abandonado seu título original ao longo do caminho e agora aparecia sob o título La escena contemporánea.
Mariátegui atribuiu ao livro a mesma importância que daria três anos depois aos seus famosos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana [Sete ensaios de interpretação da realidade peruana] (o outro título que publicaria durante sua curta vida, interrompida em 1930), e encarregou-se pessoalmente de distribuí-lo no Peru, na América Latina e, às vezes, até mesmo em outros países. O texto teve uma entusiasmada recepção entre seus leitores. Só na Argentina, foram escritas cinco resenhas, quase todas elogiosas. Em uma delas, o renomado filósofo Alejandro Korn destacou que “a amplitude de seu horizonte intelectual [de Mariátegui] é enriquecida pela abundância de informações; seu julgamento sempre atinge um ponto de vista superior”; em outra, o jovem líder do reformismo universitário, Pedro Verde Tello, escreveu que “todo o livro de Mariátegui é uma constante avaliação de valores antigos e novos. É a crítica perspicaz e precisa de uma época, uma civilização, uma cultura, cujo ponto de inflexão anuncia”. A correspondência foi outro canal pelo qual a obra obteve aclamação. Assim, a poetisa uruguaia Juana de Ibarbourou escreveu ao autor que “La escena contemporânea é um magnífico cinematógrafo em cuja tela passam os problemas mais interessantes do presente”; enquanto o polímata argentino Ernesto Quesada concluiu uma resenha elogiosa de suas seções enfatizando que “todo o seu livro, em suma, merece sinceros parabéns e condensou, como num holofote, o movimento caleidoscópico do presente”. Outras figuras de renome continental, como o mexicano Alfonso Reyes e o colombiano Baldomero Sanín Cano, também acusaram o recebimento do texto e celebraram seu lançamento, enquanto o francês Henri Barbusse expressou sua gratidão pelo envio do livro, elogiando sua vocação para “unir forças intelectuais internacionais”.
E, no entanto, apesar do valor que o próprio Mariátegui lhe atribuiu e da calorosa recepção que recebeu, La escena contemporânea acabou ocupando um lugar subordinado e quase esquecido em sua carreira e legado. Uma rápida comparação do diferente destino dos Siete ensayos revela dados conclusivos: enquanto seu segundo livro teve mais de noventa edições no Peru e em outras partes do mundo e foi traduzido para uma dúzia de idiomas (incluindo russo, grego, japonês e chinês), o texto de 1925 acumulou quinze edições em espanhol até o momento e só viu versões, em projetos independentes de alcance limitado, em francês e inglês. Da mesma forma, as edições de La escena contemporânea, quase sem exceção, carecem de estudos preliminares substantivos, enquanto os ensaios introdutórios sobre os Siete ensayos são abundantes, editados por uma coorte de acadêmicos e intelectuais renomados. E, de forma mais geral, na profusa e interminável escrita ensaística inspirada pela produção de Mariátegui, há surpreendentemente poucas obras que abordam expressamente sua primeira obra.
As razões para isso são certamente variadas. Por sua própria natureza, os ensaios reunidos em La escena contemporânea são construídos em estreita relação com eventos e processos da época e, portanto, têm a aparência de textos datados, difíceis de traduzir para períodos posteriores. Talvez por essa razão, os estudiosos raramente estabeleceram diálogos explícitos com os sete capítulos que compõem o livro (com exceção do primeiro, “Biología del Fascismo”, que foi inclusive editado de forma independente). Mas, a rigor, essa conexão orgânica com as dinâmicas que tensionavam o presente imediato é uma constante em nosso autor, e não apenas neste livro. Em Mariátegui, notícias e eventos contemporâneos constituem a matéria-prima que permite a reflexão.
Mais importante para compreender o descaso por La escena contemporânea parece ser a hegemonia que o latino-americanismo identitário e o nacionalismo cultural tiveram nos estudos de Mariátegui e, de forma mais ampla, nas culturas latino-americanas de esquerda. A quase ausência de referências ao Peru e à América Latina no volume, que Mariátegui desenvolveria em outros textos, limitou seriamente o interesse despertado pelo livro (exceto pelo título, que foi frequentemente evocado sem levar em conta seu significado original).
Mas uma leitura atenta da obra revela sua profunda importância na trajetória de Mariátegui e na história do pensamento latino-americano. Por um lado, os textos que a compõem exibem exemplarmente o laboratório intelectual do nosso autor. Além disso, é neles que ele finalmente forja nada menos que seu método, a série de procedimentos que põe em prática no tipo de ensaio que emprega pelo resto de sua vida. Por outro lado, La escena contemporânea é provavelmente a intervenção mais lúcida e informada já produzida por um intelectual latino-americano sobre a dinâmica da arena global. O livro, e a série de ensaios com matizes semelhantes que Mariátegui desenvolve posteriormente, revelam uma maneira inigualável pela qual um pensador latino-americano confronta as clivagens divisivas do mundo.
Na casa de máquinas do método Mariátegui
“O melhor método para explicar e traduzir a nossa época é, talvez, um método jornalístico e cinematográfico.” Esta frase está incluída no breve prólogo de sete parágrafos que abre La escena contemporânea. E é esclarecedora, juntamente com outros detalhes oferecidos naquela nota inicial, sobre o modo singular de produção intelectual de Mariátegui em seus anos de maturidade.
De fato, esta abertura contém uma série de termos-chave que aludem a facetas definidoras da fábrica em que seu pensamento foi incubado. Desde o início, o autor se refere à origem dos artigos posteriormente agrupados nos sete capítulos do volume. Todos eles provêm de Variedades (em sua maioria) e Mundial, as revistas para as quais passou a contribuir semanalmente após seu retorno da Europa. Esses breves ensaios, de poucas páginas, constituem o formato típico, a unidade mínima e habitual que a escrita de Mariátegui adotou até o fim de seus dias. São textos elétricos, encarnações de um estilo apurado nas pressões das redações de jornais onde, antes de sua viagem à Europa, o jovem moqueguense encontrou, na ausência de educação formal, um espaço crucial para seu desenvolvimento. Por isso, Mariátegui admite que são artigos compostos de “impressões, muito rápidas ou muito fragmentárias”.
Mas essa fisionomia inacabada e deslumbrante não é exclusiva dos escritos de La escena contemporânea; antes, é característica do conjunto dos ensaios de Mariátegui. Um tipo de escrita que, no reverso da sua falta de sistematicidade, é pontuada por iluminações e flashes penetrantes. Assim, nesta nota de prólogo, Mariátegui oferece imediatamente uma definição fundamental de sua obra: por trás de seu aparente impressionismo, os textos que compõem o livro “contêm os elementos primários de um esboço ou ensaio sobre a interpretação desta época e seus problemas tempestuosos”. Além disso, justamente por sua natureza limitada e fragmentária, suas incisões se prestam melhor a essa tarefa fundamental:
Acredito que não é possível apreender todo o panorama do mundo contemporâneo em uma teoria. Acima de tudo, não é possível capturar seu movimento em uma teoria. Temos que explorá-lo e compreendê-lo, episódio por episódio, faceta por faceta.
Se este breve texto introdutório de La escena contemporânea, de onde provêm todas estas citações, é tão significativo (e, nesse sentido, é curioso o relativo descaso que recebeu), é porque, à luz do grosso da produção madura de Mariátegui, pode ser-lhe atribuído retroativamente um significado programático. Estamos no cerne do seu método, no momento em que ele se concretiza numa forma de trabalhar com os materiais da contemporaneidade que jamais o abandonaria. Mas quais são os componentes deste estilo intelectual singular? Quais são seus procedimentos, quais são seus conceitos-chave?
À primeira vista, a veia “jornalística” a que Mariátegui alude ao descrever seus métodos de trabalho não parece guardar mistérios. É evidente que os jornais, nos quais ingressou como assistente editorial aos 14 anos, lhe serviram como espaço pedagógico em mais de um sentido. Por um lado, foram um lugar de múltiplas aprendizagens e um laboratório para experimentar diferentes estilos de escrita. Por outro, fomentaram a identidade pública inicial de Mariátegui como jornalista (com apenas 21 anos, foi um dos principais impulsionadores do Círculo de Jornalistas de Lima) e fomentaram uma vocação para a cultura da publicação impressa que se traduziria ao longo de sua vida na criação e promoção de uma miríade de jornais e revistas, faceta destacada por estudiosos de sua trajetória. Mas se a autoeducação forjada nas redações de jornais era um traço comum entre escritores e intelectuais latino-americanos nas primeiras décadas do século XX (especialmente entre a geração anterior de escritores modernistas), a formação de Mariátegui na imprensa fomentou uma relação particularmente intensa com notícias e novidades. Essa singularidade era especialmente evidente em seu tratamento de notícias e telegramas internacionais, que, desde algumas de suas primeiras crônicas de juventude até a seção “Lo que el cable no disse” [O que o telégrafo não diz], que ele desenvolveu sobre o fim de sua vida no semanário Mundial, serviram como um estímulo primordial para sua escrita.
Mariátegui inseriu-se, assim, plenamente no movimento que, na perspectiva oferecida pelo pesquisador Víctor Goldgel em livro incisivo, na América Latina, desde o início do século XIX, havia colocado o valor do “novo” em posição de expectativa, principalmente por meio dos fluxos culturais e políticos veiculados pela imprensa. Considerando essa perspectiva de longo prazo, o criador de Amauta viveu o auge do ciclo da globalização comunicacional, que, embora enraizado no século anterior, teve seu período de esplendor no entreguerras. Disso nasceu sua modernidade radical: de ter abraçado e buscado extrair todas as consequências daquele momento culminante do ciclo de intensificação das conexões globais. Ele expressou isso em outra de suas palestras no ciclo “Historia de la crisis mundial” [História da crise mundial], em novembro de 1923:
As comunicações são o tecido nervoso desta humanidade internacionalizada e unida. Uma das características da nossa época é a rapidez, a velocidade com que as ideias se espalham, com que as correntes de pensamento e cultura são transmitidas. Uma nova ideia, nascida na Inglaterra, não é uma ideia inglesa, apenas durante o tempo necessário para ser impressa. Uma vez lançada no espaço pelo jornal, essa ideia, se refletir alguma verdade universal, pode instantaneamente tornar-se também uma ideia universal. Quanto tempo levaria Einstein no passado para se tornar popular em todo o mundo? Nestes tempos, a teoria da relatividade, apesar da sua complexidade e tecnicidade, viajou o mundo em pouquíssimos anos. Todos esses fatos são outros tantos sinais do internacionalismo e da solidariedade da vida contemporânea.
Dessa fisionomia, que descreveu com entusiasmo, ficava claro que o internacionalismo que ele buscava difundir entre os grupos mais ativos de trabalhadores, artistas e intelectuais não era “apenas um ideal […mas] uma realidade histórica”. Se o método de Mariátegui era, então, em parte jornalístico, isso não se devia apenas à sua origem intelectual na imprensa, mas também à natureza estruturante dessa fervilhante rede de comunicação na própria configuração da contemporaneidade. Como ele observou naquele mesmo ano em outro discurso público, “o jornal é um mensageiro, um veículo, um agente incansável de ideias [… que] capta o pulso e a pulsação diária da humanidade”.
Agora, à ânsia de Mariátegui em se alimentar das últimas novidades do mundo, germinada em sua juventude como jornalista, somaram-se dois componentes fundamentais de sua visão intelectual de mundo, incorporados ao longo de sua jornada europeia: sua predileção pela vanguarda estética e seu inabalável espírito revolucionário. Ambos os impulsos, sobrepostos, convergiram em sua ensaística madura no privilégio epistemológico do novo. Pela vanguarda, na qual recebeu uma educação verdadeiramente sentimental na Europa, e cujos efeitos o acompanharam até o fim de seus dias (alguns de seus últimos ensaios de 1930 são dedicados a ponderar as etapas recentes do movimento surrealista), Mariátegui foi influenciado por sua vocação vitalícia de erodir o que havia aprendido, seu contínuo experimentalismo formal e sua inclinação para elaborar material social e político a partir de ângulos pouco ortodoxos. A fé socialista e revolucionária que foi afirmada durante sua jornada pela Europa deixaria sua marca em todos os seus projetos de maturidade e seria um trunfo fundamental para sua disposição de examinar tendências e movimentos globais emergentes.
E quanto à marca “cinematográfica” do método de Mariátegui? Michelle Clayton observou os usos metafóricos do cinema na escrita de Mariátegui, principalmente em relação à “possibilidade de capturar um momento em movimento”. Como observamos anteriormente, Mariátegui transformou sua escrita breve e fragmentária em uma máquina virtuosa de leitura de instantâneos, quadros recuperados como histórias singulares, simultaneamente destinados a iluminar facetas da complexa trama da contemporaneidade. A montagem habitual de seus pequenos ensaios em unidades maiores, como as que compõem as sete partes de La escena contemporánea, aliada às constantes referências de um ensaio a outro por meio de referências explícitas ou tácitas, também sugere uma forma de montagem. Além disso, segundo Clayton, as alusões de Mariátegui ao cinema são “cruciais para suas meditações sobre circulação ou mediação em uma era fragmentada e cada vez mais globalizada”. Nesta segunda derivação do termo, o cinematográfico se conecta ao imaginário da mobilidade, tão presente em nosso autor tanto por se prestar a horizontes de futuridade aos quais tanto se afinou, quanto por sua capacidade de penetrar nas características constitutivas da cena contemporânea. Recordemos, a esse respeito, que, em uma entrevista de 1923, na qual confessou sua devoção às viagens, Mariátegui se definiu como “um homem organicamente nômade, curioso e inquieto”; também, que alguns anos depois declarou sua intenção de escrever uma “apologia do aventureiro”, ensaio que nunca concluiu, mas cujo perfil pode ser vislumbrado na série de esboços biográficos que percorrem a longa saga “figuras y aspectos de la vida mundial”, bem como em outras áreas de seus ensaios. Dois traços (o “nomadismo” de seus interesses e a microbiografia como recurso para compreender as complexidades da época) podem ser apreciados nos ensaios que compõem este livro.
Mas nos trechos que citamos do prólogo de La escena contemporânea, há outros conceitos definidores do laboratório intelectual de Mariátegui. O primeiro é “interpretação”, que aparece ali pela primeira vez em um lugar expectante. Em outro conhecido relato de 1926, Ángela Ramos lhe pergunta algo que lhe desperta curiosidade: “Como você consegue se manter a par das notícias internacionais e nos relatá-las sem se enganar e nem a nós?” A resposta do interlocutor é sucinta e reveladora:
Trabalho, estudo, medito […] Recebo livros, revistas, jornais de muitos lugares, não tanto quanto gostaria. Mas dados são apenas dados. Não confio muito em dados. Eu os uso como material. Me esforço para interpretar.
Mariátegui, então, recorreu à paixão por se manter atualizado, herdada do jornalismo da juventude. “Lo que el cable no dice”, nome de sua seção na Mundial no final de sua vida, expõe tanto as limitações e os vieses dos trechos de informação internacional fornecidos por telegramas de jornais, quanto sua indispensabilidade. Ponderar criticamente o que os telegramas ofereciam de forma tendenciosa tornou-se uma tarefa necessária somente após reconhecer seu papel em fornecer o que ele chamou de “o pulso diário e a pulsação da humanidade”. A essa fonte insubstituível, Mariátegui acrescentou o acesso por subscrição a uma notável variedade de revistas culturais internacionais, cujas notícias e acontecimentos ele acompanhava com uma atenção difícil de detectar em outro intelectual de sua época, e que mereceu vários de seus substanciais ensaios. A revista cultural, o tipo de artefato que Amauta cultivaria com todos os seus sonhos e com todos os seus esforços, tornou-se, ao retornar da Europa, mais um dos insumos fundamentais para seu pensamento.
Desse conjunto de materiais emergiu a obra que Mariátegui condensou sob a palavra “interpretação”. “Ascendi do jornalismo à doutrina, ao pensamento”, ele circunstancialmente inseriu em uma carta a Eudocio Ravines. E, como em outras ocasiões, aprofundava as implicações dessa passagem biográfica em perfis de outras figuras, por meio dos quais também falava de si mesmo. Assim, em um de seus ensaios sobre o escritor americano Waldo Frank:
Na formação de Frank, minha experiência me ajuda a apreciar um elemento: sua posição como jornalista. O jornalismo pode ser um campo de treinamento saudável para o pensador e o artista […] Para um artista que sabe se emancipar dele com o tempo, o jornalismo é um palco e um laboratório onde desenvolverá faculdades críticas que, de outra forma, poderiam permanecer embotadas. O jornalismo é um teste de velocidade.
Ou em outra sobre Baldomero Sanín Cano:
O público está cada vez mais discernindo as diversas hierarquias dos jornalistas. Essa retificação deve muito, no setor hispânico, ao trabalho de Sanín Cano, que contribuiu poderosamente para elevar o comentário e a crítica jornalística, com visível educação do público, especialmente daqueles que não têm condições de ler livros. O período de apogeu do “cronista” […] foi seguido por um período de apogeu do “ensaísta”. Isso demonstra que o leitor não se contenta mais com uma mera anedota.
É possível concluir, então, que se La escena contemporánea é um elo fundamental no itinerário de Mariátegui, é porque em seus “estudos” (como os chamava no anúncio de 1924 mencionado no início) ou naqueles “elementos primários” que se aventuravam em uma “interpretação desta época e de seus problemas tempestuosos” (como os apresentava no prólogo), o ensaísta maduro se cristalizou nele. Um perfil que havia sido insinuado nas “Cartas de Itália” que enviou da Europa ao jornal El Tiempo, mas que se afirma verdadeiramente nos textos produzidos desde seu retorno ao Peru, compilados neste livro. A interpretação, operação decisiva no quadro de Mariátegui, implicará doravante arriscar perspectivas originais sobre os dados disponíveis; abordar os acontecimentos cambiantes do presente a partir de uma visão de mundo singular, a partir de uma filosofia; em suma, ler, nas encruzilhadas e episódios específicos em que dançou a história mundial recente, as tramas do tecido profundo da contemporaneidade.
Mas, no prólogo acima mencionado, a noção de interpretação foi apresentada juntamente com outro conceito crucial na perspectiva intelectual de Mariátegui: o de “época”. Um simples exercício de reconhecimento de palavras, típico das humanidades digitais, revelaria a presença do termo dezenas, talvez centenas, de vezes na soma dos escritos do nosso autor. O horizonte epocal ocupa um lugar-chave na matriz heurística de Mariátegui, um lugar que permaneceu notavelmente negligenciado entre os estudiosos. Mariátegui tem sido frequentemente caracterizado como um intelectual enraizado ou situado, no sentido de ter sido uma figura altamente comprometida com os termos específicos da situação que habitava. Mas gostaria de sugerir que esse enraizamento tinha menos a ver com uma configuração de espaço do que com uma de tempo. Ao contrário do que comumente se afirma, para o prisma interpretativo de Mariátegui, as categorias temporais têm maior peso do que as espaciais (seja a nação, a América Latina ou qualquer território delimitado e estável). Em “Dos concepciones de la vida” [Duas concepções da vida], um de seus ensaios curtos mais importantes — que Mariátegui reuniu em uma série maior, “La emoción de nuestro tempo” [A emoção do nosso tempo], que integraria um dos livros que ele estava preparando na época de sua morte, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy [A alma matinal e outras estações do homem hoje] — ele escreve:
A guerra mundial não apenas modificou ou fraturou a economia e a política do Ocidente. Também modificou ou fraturou sua mentalidade e espírito. As consequências econômicas definidas e especificadas por John Maynard Keynes não são mais evidentes ou perceptíveis do que as consequências espirituais e psicológicas […] O que diferencia os homens desta era não é apenas a doutrina, mas, acima de tudo, o sentimento. Duas concepções de vida opostas, uma pré-guerra, outra pós-guerra, impedem a compreensão de homens que, aparentemente, servem ao mesmo interesse histórico. Este é o conflito central da crise contemporânea.
Para Mariátegui, portanto, a Grande Guerra de 1914 e a subsequente Revolução Russa formaram a fronteira entre duas eras históricas (e, ao postular essa posição, ele antecipou as periodizações coincidentes de historiadores da modernidade e do século XX, como Eric Hobsbawm). A mentalidade “decadente e esteticista” anterior à guerra — detectável tanto nas capitais europeias quanto na Lima aristocrática de sua juventude — foi sucedida pelo clima irreconciliável de uma “era romântica, revolucionária e quixotesca”. Desse contraste, e da desconexão dos elementos de dois períodos heterogêneos, emerge a presença exuberante em Mariátegui de uma semântica e uma metaforologia relativas ao tempo, ao que emerge na nova era e ao que perece na antiga. Daí a recorrência, junto com a noção de era, de termos ou metáforas como “amanhecer” ou “manhã” para se referir àquilo que está nascendo, e “crepúsculo”, “anoitecer” ou “tramonto” (outro traço de sua estadia na Itália) para nomear aquilo que declina ou expira.
Pois bem, essa situação singular que enquadra os contextos problemáticos em que Mariátegui pensa e atua é o que ele chama de “época”, ou também “cena contemporânea”. O que a caracteriza é que cada episódio atravessado por seus termos materiais, comunicacionais, culturais, filosóficos ou políticos, independentemente de onde ocorra no mundo, é um elemento interno à sua configuração. Ou, dito de outra forma: não há exterioridade espacial ou geográfica aos fatores que o constituem, sejam eles ocorridos na Rússia bolchevique, na Itália de Marinetti, na Índia de Gandhi ou na Universidade Popular de Lima. Para Mariátegui, esse mosaico de atores participa da superfície comum formada em escala global pela época e seus problemas tempestuosos.
Nesse contexto, existem dois outros conceitos, antitéticos e, ao mesmo tempo, complementares, que o definem e o nutrem. De um lado, a crise, que, embora tenha múltiplas faces, é antes de tudo uma crise cultural. De outro, a revolução, que sobredetermina os fatores que habitam a época. “Compartilho a opinião daqueles que acreditam que a humanidade vive um período revolucionário”, argumentara Mariátegui no início de suas aulas de 1923 na Universidade Popular. Crise e revolução são, em suma, as coordenadas epocalizadas que constituem o pano de fundo sobre o qual opera a atividade interpretativa de Mariátegui.
Mariátegui global: uma política contra a margem
Como podemos ler um livro como La escena contemporánea hoje, um século após sua publicação? Inicialmente, um leitor curioso pode achar alguns dos contos ou referências nos ensaios cativantes, capazes de incitar uma investigação ou exploração mais aprofundada. Mesmo em sua natureza fragmentária, os ensaios de Mariátegui se prestam a exercícios de exploração dos eventos e personalidades que moldaram os tensos anos entre guerras.
Mas, como argumentado aqui, a leitura de fragmentos escritos por Mariátegui eleva-se em direção a composições mais amplas e se conecta a estruturas conceituais mais convincentes. O próprio exercício de reunir os ensaios originais em cada capítulo pode ser lido sob essa luz, que mais tarde se projetou em toda a sua produção adulta. Como observado, este livro representa, nesse sentido, um exemplo de consolidação de um método de trabalho que marcaria a trajetória intelectual de Mariátegui.
A partir dessa perspectiva mais ampla, é tentador colocar os capítulos que compõem o volume em diálogo com tendências da historiografia contemporânea. Por um lado, com alguns desenvolvimentos recentes na história conceitual do século XX. Fascismo, marxismo, antissemitismo, socialismo, a crise da democracia, revolução: muitas das noções empregadas por Mariátegui são, para dialogar com o grande historiador de conceitos Reinhart Koselleck, tanto índice quanto fator, condensações de experiências sedimentadas e intervenções criativas ou recriativas em bases categóricas estabelecidas. Uma reconstrução da trajetória secular desses horizontes conceituais tem muito a analisar neste livro. Por outro lado, todo o foco interpretativo de La escena contemporánea nos convida a considerar Mariátegui como uma espécie de historiador global avant la lettre. O livro chega a levar ao extremo uma operação comum nessa perspectiva historiográfica em voga hoje, ao situar cada episódio local em um contexto imediatamente global. As conexões e os fios que unem os fragmentos estudados com o cenário mundial são, na maioria das vezes, postulados em vez de verificados, mas isso não impede Mariátegui de ler em cada episódio um sintoma ou uma expressão de crise ou revolução, do declínio de uma cultura ou do alvorecer daquela que surge para substituí-la.
É claro que nem todas as regiões do mundo recebem a mesma atenção neste livro. Mesmo entre seus primeiros leitores, mesmo alguns dos mais elogiosos, a ausência da América Latina foi notada em suas páginas. Certamente, Mariátegui escreveu ensaios sobre a maioria dos países do continente, e se considerarmos La escena contemporánea como uma obra que pode ser reunida em toda a coletânea de ensaios do nosso autor, essa deficiência é pelo menos parcialmente compensada. Mas é verdade que este volume merecia pelo menos um capítulo latino-americano, por exemplo, sobre as luzes e sombras da Revolução Mexicana, uma exploração que Mariátegui já havia começado a desenvolver em uma série que se estenderia por toda a década.
Por outro lado, La escena contemporánea é um dos principais motivos que levaram Mariátegui, entre seus pares contemporâneos e posteriores, ser acusado de excessivo “europeísmo”. Essa associação foi, sem dúvida, uma das razões centrais pelas quais o livro permaneceu em relativa obscuridade, às vezes quase oculto nos estudos sobre Mariátegui. Em certo sentido, é inegável que Mariátegui sentia uma forte atração pela cultura europeia. Não apenas escreveu no prólogo de Siete ensayos que devia sua “boa erudição” à Europa e que não haveria chance de emancipação para o continente americano “sem a ciência e o pensamento europeus ou ocidentais”. Em diversas outras ocasiões, confrontou veementemente aqueles que promoviam o afastamento cultural e a restrição do diálogo com a Europa, acusando-os de se envolverem em uma forma de “demagogia superamericanista”.
Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer que, neste livro, e nos ensaios de Mariátegui como um todo, a Europa desempenhou, por vezes, um papel mediador e facilitador nas conexões com outras regiões e culturas, um caminho para um mundo que excedia e, por vezes, até mesmo, provincializava o velho continente. A abertura aos problemas da Rússia Soviética, ou ainda mais à agitação revolucionária do Oriente, transmitida por meio de línguas e recursos europeus, demonstra que o cenário mundial agora representava um prisma que poderia, ocasionalmente, questionar hierarquias civilizacionais herdadas, incluindo a própria centralidade da Europa.
Essa função mediadora também se evidencia no Peru, cujas realidades Mariátegui passou a pesquisar, em um processo que o levaria à publicação dos Siete ensayos, também impulsionado por estímulos da cena contemporânea (sua ânsia pelo socialismo, sua mudança geracional e sua vanguarda). Em última análise, como ele próprio afirmara em seu ensaio “Lo nacional y lo exótico” [O nacional e o exótico], “a realidade nacional mistificada é apenas um segmento, uma parte da vasta realidade global”. A desconexão de uma nação com a cena internacional trazia consigo a languidez e a desertificação cultural. Mariátegui citou como exemplo o caso da Espanha, que, após desempenhar um papel relevante no início da modernidade, havia se tornado “um país bastante fechado e doméstico”. Por isso, insistia em destacar os incentivos para o estudo da realidade local que o contato com o clima de nova pulsação global havia trazido. Foi o que ele postulou em outro de seus ensaios programáticos, também de 1925:
Para o crédito da nossa geração, podemos e devemos desde já destacar uma virtude e um mérito: seu crescente interesse em aprender sobre as coisas peruanas. Os peruanos de hoje são mais atentos ao seu próprio povo e à sua própria história do que os peruanos de ontem. Mas isso não é consequência de seu espírito se tornar mais fechado ou confinado dentro de suas fronteiras. É, precisamente, o oposto. O Peru contemporâneo está mais em contato com ideias e emoções globais. O desejo de renovação que possui a humanidade gradualmente tomou conta de seu novo povo. E desse desejo de renovação nasce uma aspiração urgente e generalizada de compreender a realidade peruana.
Por todas as razões expostas acima, uma leitura renovada de La escena contemporánea alinha-se plenamente com a mudança global em curso no campo de pesquisa sobre Mariátegui. Nos estudos latino-americanos e no debate intelectual mais amplo, ela também pode ser vista como um gesto retroativo de rebelião contra a síndrome da “condenação da margem” — isto é, o conjunto de condições e pressupostos que levam a América Latina a ser o único lugar onde as pessoas podem falar ou escrever sobre a América Latina (um fenômeno sobredeterminado tanto pelas desigualdades estruturais globais derivadas da distribuição desigual de recursos culturais quanto pela autoconfirmação e até mesmo celebração dessa posição marginal em alguns espaços de pensamento no continente). Dessa perspectiva, e considerando a ubiquidade do olhar de Mariátegui e sua disposição para ler qualquer fenômeno distante como parte de uma conversa global, é possível considerar uma espécie de apagamento estratégico das determinações que derivariam de sua localização em um único lugar.
Por fim, o livro também permite uma leitura conectada às perplexidades do nosso presente, assolado por uma crise com muitos pontos de contato com a vivida há um século. O cenário contemporâneo expõe a potência política e heurística do internacionalismo como horizonte constitutivo das culturas de esquerda. E, diante de um mundo em colapso novamente, convida-nos a desenvolver um pensamento crítico na América Latina que, ao restaurar uma perspectiva de classe essencial, se engaje decisivamente com os atuais dilemas civilizacionais globais.
Martín Bergel é historiador e professor da Universidade de Buenos Aires.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.