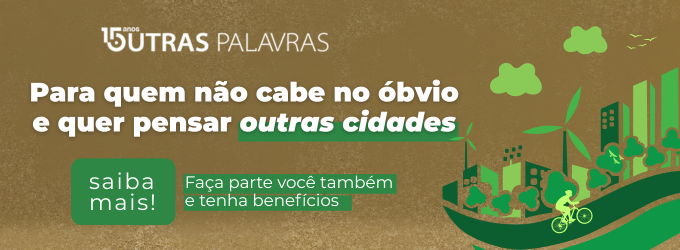COP 30: Heranças malditas e novos desafios
Presidente da Cúpula em Belém convoca a um passo adiante para materializar as negociações do Acordo de Paris. Impasses: forjar novas lideranças contra as barreiras de Trump; garantir financiamento para a transição energética; e o Brasil barrar o PL da Devastação
Publicado 22/07/2025 às 18:35

Por Caroline Prolo, Claudio Angelo e Eduardo Viola, na Piauí
“Ninguém disse que era fácil. Ninguém nunca falou que seria tão difícil.” Os versos da canção The Scientist, da banda britânica Coldplay, resumem bem o drama da COP30, a conferência do clima de Belém. O encontro das Nações Unidas na capital paraense em novembro será a primeira reunião multilateral sobre a crise climática realizada no Brasil desde 1992, quando a convenção da ONU que trata do assunto foi assinada, no Rio de Janeiro. Ele ocorre num contexto de desafios logísticos, geopolíticos e domésticos. Mas, sobretudo, sob expectativas elevadas: o mundo espera que a COP possa dar respostas a um tempo no qual a insanidade parece tão fora de controle quanto o aquecimento global.
Quando o varapau Chris Martin (1,86 m), líder do Coldplay, chegar a Belém para uma aguardada apresentação logo antes da conferência, as atenções do planeta estarão voltadas para um outro homem alto: o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago (1,96 m), presidente da COP30. O diplomata carioca tem a missão de construir uma agenda ambiciosa para o encontro e convencer delegados de 197 países a adotá-la. Isso no contexto mais desfavorável à cooperação internacional desde a conferência do Rio, quando a humanidade concordou em trabalhar em conjunto para impedir a “interferência antrópica perigosa” no clima.
A COP30 marca os dez anos do Acordo de Paris, o tratado climático de 2015 que buscou envolver todos os países do mundo no esforço de combater as emissões de gases do efeito estufa, os causadores do superaquecimento da Terra. Naquele ano, a humanidade concordou em agir para manter o aquecimento da Terra bem abaixo de 2ºC – de preferência em 1,5ºC – em relação aos níveis pré-industriais, para adaptar a sociedade às mudanças climáticas já em curso e para financiar a transição para uma economia de baixo carbono. A ciência vem sugerindo que o tratado até aqui está fracassando na missão: em parte de 2023 e todo 2024, o aquecimento do planeta ultrapassou 1,5ºC. Cientistas tentam explicar o fenômeno e entender se ele é permanente. Em maio, o pioneiro físico americano James Hansen publicou um estudo sugerindo que a sensibilidade do sistema terrestre a adições de gás carbônico pode ser mais alta do que se pensava – ou seja, temos mais aquecimento do que o previsto nos aguardando.
Para evitar que essa ultrapassagem seja permanente, será preciso que todos os países adotem novas metas arrojadas de corte de emissões – as metas atuais, conhecidas como NDCs, levariam o planeta a quase 3ºC de aquecimento neste século mesmo na improbabilidade de serem todas cumpridas à risca. Em setembro deste ano o mundo conhecerá a ambição agregada dos novos compromissos, e a COP30 precisará decidir o que fazer caso eles não sejam suficientes para proteger as espécies que habitam a Terra, inclusive a nossa (spoiler: não serão). A conferência no Pará também precisa finalizar as negociações sobre temas importantes como adaptação à crise climática. E, por último, mas não menos importante, tentar avançar na determinação da COP28, em 2023, de fazer a “transição para longe dos combustíveis fósseis” começando ainda nesta década.
Além disso, após três COPs seguidas em ditaduras (Egito em 2022, Emirados Árabes em 2023 e Azerbaijão em 2024), a sociedade civil esperava fazer da COP30 uma catarse coletiva global, com imensas manifestações de rua e ampla participação popular, numa cidade com sérios problemas de infraestrutura. Só isso já seria coisa demais no prato de Corrêa do Lago e de sua dupla na liderança da COP, a economista paulista Ana Toni, diretora-executiva da conferência. Mas Belém ainda precisa lidar com uma crise de identidade, uma herança maldita e duas bombas.
A crise de identidade tem a ver com a própria serventia das COPs nestes tempos. Trinta e três anos depois da assinatura da UNFCCC (a Convenção do Clima da ONU), entramos em um terreno novo: a fase de implementação dos compromissos assumidos. Pela primeira vez, não há mais grandes acordos a serem feitos. As principais regras de operação do Acordo de Paris – para apresentação das metas, dos inventários de emissões, dos relatórios de progresso das NDCs, para o funcionamento dos mercados de carbono e até mesmo para os objetivos globais de adaptação e financiamento climático – já foram adotadas. Isso traz uma crise existencial para a convenção: para que servem os convescotes anuais, agora que já negociamos quase tudo o que havia para ser negociado?
A herança maldita vem do Cáspio. No fim do ano passado, a COP29, em Baku, Azerbaijão, fracassou espetacularmente em conseguir um acordo sobre financiamento, o tema que mais divide as negociações desde seu início. A sociedade civil propôs que a COP29 acordasse uma meta global de financiamento de 1 trilhão de dólares por ano em doações ou em empréstimos a juros baixos, fluindo dos países ricos para os pobres. O que se obteve foram 300 bilhões de dólares por ano de várias fontes (incluindo empréstimos privados) e um texto que foi adotado na plenária final da COP com atropelo e sob protestos de países em desenvolvimento como Índia, Cuba e Nigéria. Para deixar uma porta aberta aos países pobres e evitar o colapso das negociações, a COP29 meteu o maior “na volta a gente compra” da história financeira mundial: sua decisão menciona um vago “Mapa do Caminho de Baku a Belém” para chegar a 1,3 trilhão de dólares por ano em financiamento climático. Esse mapa precisa ser desenhado, em tese, a quatro mãos, pelas presidências da COP29 e da COP30. Dado o histórico de incompetência dos azeris, o pepino sobrou para Corrêa do Lago e Ana Toni, com a ajuda de um neoconvertido à causa climática: o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad.
A principal bomba, é claro, atende pelo nome de Donald Trump.
O presidente americano retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, como todos sabiam que faria. Além disso, decretou um inacreditável objetivo de “recarbonização” da economia americana, com o esforço para reverter a Lei de Redução da Inflação de Joe Biden, o único plano de combate à mudança do clima da história dos Estados Unidos. Com a América fora, o mundo vai precisar cortar em algum outro lugar as mais de 5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente emitidas pelo país para ajudar a fechar a conta do 1,5ºC. E outros países vão precisar botar dinheiro para compensar o hiato deixado no financiamento climático pelo maior emissor histórico – e, portanto, o maior devedor – do planeta. Claro que ninguém quer fazer nem uma coisa, nem outra.
Ocorre que sair de Paris não foi nem de longe a coisa mais grave do regime Trump para o esforço climático multilateral. O que os Estados Unidos estão fazendo é solapar a própria base do multilateralismo, tornando 2025 o ano de maiores transformações no sistema internacional desde o fim da Guerra Fria, e provavelmente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso não garante o fracasso da COP30, mas virtualmente assegura que, qualquer que seja seu resultado, nada será como antes no regime climático. Nesse contexto, a crise de identidade da UNFCCC deixa de ser enfermidade crônica e torna-se moléstia aguda e potencialmente fatal.
O regime climático nasceu no pós-Guerra Fria por impulso das democracias – baseado na hegemonia americana, em regras internacionais relativamente estáveis, no multilateralismo e num aumento gigantesco do comércio internacional e da produtividade nas principais economias. Desde a Rio 92 até hoje, ele tem tido sucesso parcial. Por um lado, aumentou a consciência pública sobre a ameaça do aquecimento global, destacou o papel da ciência, criou e aperfeiçoou um sistema de normas internacionais para mitigar a mudança climática, promoveu o estabelecimento de políticas climáticas nacionais e o desenvolvimento das energias renováveis. Se você vê carros elétricos chineses na rua hoje – ou se dirige um –, isso se deve em não pouca medida aos engravatados e às moças de tailleur que se juntam todo fim de ano para as torturantes sessões de duas semanas de negociação nas COPs.
Por outro lado, as emissões de carbono continuaram crescendo a um ritmo de aproximadamente 2% ao ano. E o modelo de negociação multilateral por consenso, no qual um único país pode travar o progresso feito pelos outros 196, tem garantido que a UNFCCC sempre esteja aquém da realidade que ela se propõe a combater. Demorou 28 COPs, por exemplo, para que a eliminação gradual dos principais responsáveis pela crise climática – os combustíveis fósseis – ganhasse sua primeira menção nominal num texto da Convenção.
A COP21, a conferência de Paris, aconteceu num momento extraordinário de alinhamento de astros no sistema internacional: os Estados Unidos sob Barack Obama e a China de Xi Jinping se uniram para patrocinar um acordo no qual apresentar metas de corte de emissão determinadas nacionalmente por cada país (NDCs) era obrigatório, mas atingi-las não. A aposta era que um sistema mais robusto de transparência sobre esses compromissos e seu cumprimento seria suficiente para encorajar os países a alcançarem suas metas declaradas. Para funcionar a contento, portanto, o acordo precisaria da permanência de um mundo no qual a cooperação internacional estivesse em alta. Esse mundo acabou.
A invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, aprofundou o conflito no sistema internacional, consolidando o término do período pós-Guerra Fria. Isso impactou o regime climático. Tanto que, depois do relativo sucesso da COP26, em Glasgow, em 2021, as COPs 27, 28 e 29 avançaram pouco. A transição energética, na qual os combustíveis fósseis são paulatinamente aposentados e substituídos por fontes renováveis, passou a estar subordinada à segurança energética e à segurança nacional na quase totalidade dos países. Os lucros das empresas de petróleo foram às alturas – a Saudi Aramco, maior petroleira estatal do mundo, registrou em 2022 o maior lucro anual da história do capitalismo, 161 bilhões de dólares – causando uma reversão nas juras de amor que gigantes fósseis como BP e Shell fizeram no passado à descarbonização. O que se viu nos últimos três anos foi uma aceleração dos investimentos em exploração e produção de óleo e gás no mundo inteiro, em paralelo à aceleração dos eventos climáticos extremos.
Em 2025, estamos entrando em um novo sistema internacional, de perfil ainda incerto, mas muito provavelmente: mais nacionalista, com forte competição e conflito (comercial, tecnológico e militar) entre os países; com o reposicionamento amplo das cadeias globais de valor e dos fluxos globais de investimento; com o aprofundamento da erosão das instituições internacionais; com a aceleração do desenvolvimento da inteligência artificial e uma corrida entre Estados Unidos e China para atingir primeiro o domínio de uma IA superior à inteligência humana; e com a possibilidade assustadoramente real de os Estados Unidos deixarem de ser uma democracia e se transformarem numa autocracia eleitoral à la Hungria, arrastando outros países junto. Como os extremos climáticos têm aumentado visivelmente, os países de renda alta e média-alta tenderão a orientar-se para uma espécie de nacionalismo climático, priorizando fortemente a adaptação sobre a mitigação (na prática, mesmo que não mudem o discurso), e os países de renda baixa e média-baixa ficarão em situação cada vez mais vulnerável.
Um mundo focado em soberania nacional, em segurança e na lei do mais forte é o exato oposto de um mundo que se une no “mutirão” convocado por Corrêa do Lago para combater o maior desafio coletivo da humanidade. E, no entanto, é para lá que Trump está nos empurrando.
Quem quiser saber qual é a cara que os Estados Unidos terão nesta nova era pode ler as quase mil páginas do Projeto 2025, o manual de autocratização que orienta o governo Trump 2. Elaborado por um pool de think-tanks conservadores liderado pela Heritage Foundation, o programa engloba: a severa repressão à imigração ilegal; a reestruturação da burocracia estatal (incluídas as Forças Armadas), que agora deve ser orientada pela lealdade ao presidente e não mais à Constituição; a luta sistemática contra a cultura liberal ou “woke”; um forte corte de impostos corporativos e individuais; a elevação drástica das tarifas alfandegárias para quase todos os países do mundo, com o suposto objetivo de promover a reindustrialização americana; a desregulamentação generalizada da economia, incluindo a destruição da política ambiental e climática, que por definição é altamente regulatória; a dominância energética global por meio da promoção da produção, consumo e exportação de combustíveis fósseis (no bordão popularizado pela ex-governadora do Alasca Sarah Palin e repetido por Trump, “drill, baby, drill”); o fim da assistência financeira internacional aos países pobres e o ataque às universidades e à ciência.
No plano internacional, o Projeto 2025 pretende solapar as instituições multilaterais, como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OMC (Organização Mundial do Comércio) – o presidente da Heritage Foundation chegou a sugerir que Trump despejasse a ONU de Nova York –; desatar uma guerra comercial generalizada, impondo tarifas extremas para negociar desde uma posição de força; enfraquecer a Otan, a aliança militar que garantiu a segurança da Europa nos últimos oitenta anos; tentar fazer um acordo com a Rússia, aceitando a zona de influência pretendida por Vladimir Putin e promovendo o fim das sanções e o reinício de investimento americano, tentando reduzir o alinhamento da Rússia com a China; concentrar o dispositivo militar americano para conter a China no Indo-Pacífico; anexar a Groenlândia e retomar a Zona do Canal do Panamá. Trata-se de uma combinação paradoxal entre isolacionismo e imperialismo, baseada no domínio total da força sobre o direito internacional.
Como qualquer leitor de jornal sabe, a Casa Branca está tentando implementar a cartilha inteira. Para sorte da humanidade, não sem resistência.
Depois dos primeiros dois meses em que a ofensiva de Trump parecia imparável, no terceiro e quarto meses várias frentes de oposição apareceram. Houve uma queda importante na taxa de aprovação do republicano, de aproximadamente 47% no início do mandato para aproximadamente 41% no fim de abril – a maior queda de popularidade de um presidente nos primeiros cem dias na história. Nas pesquisas, 60% da população desaprova a política econômica, sendo que a economia foi a grande vantagem de Trump frente aos democratas nas eleições de 2024. Executivos das grandes corporações começaram a criticar abertamente a política econômica, particularmente a guerra tarifária. O Judiciário tem decidido contra Trump na maioria dos casos litigados, mesmo por juízes federais nomeados por ele no primeiro mandato. Iniciaram-se amplas e simultâneas manifestações em muitas cidades contra o governo, organizadas pela esquerda do Partido Democrata, liderada pelo senador Bernie Sanders. E seu plano de aliança com a Rússia fez água: nos quatro primeiros meses do governo Trump, Putin deixou claro, com bombardeios brutais, que continua interessado em subjugar e destruir a Ucrânia, que um acordo com Estados Unidos não é relevante para ele e que sua aliança com a China é muito sólida. Contudo, o Partido Democrata no Congresso continua desorientado e dividido, sem uma estratégia clara para enfrentar Trump, apesar de as pesquisas e a maioria dos analistas preverem uma vitória democrata nas eleições intermediárias do ano que vem.
Na frente externa, até agora a maioria dos países tem resistido parcialmente ao bullying de Trump. A maior resistência vem da China, que forçou o recuo dos Estados Unidos na tentativa de impor tarifas de 145% a todas as importações chinesas. O prestígio e a credibilidade do país no mundo foram minados em alto grau. Pode-se considerar os primeiros cem dias de Trump 2 como a maior diminuição do poder americano no mundo da história, mas o custo imposto ao resto do planeta também é alto.
A segunda bomba no caminho da COP30 é o próprio Brasil. Ao bater o pé para realizar a conferência numa metrópole empobrecida da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma aposta ousada em trazer os negociadores e a imprensa global para o coração da crise do clima. Saem os resorts maquiados onde tantas COPs aconteceram, entra a vida como ela é. Só que os anfitriões não conseguiram, mesmo em dois anos e com bilhões de reais em recursos do BNDES, entregar uma infraestrutura mínima para acomodar um evento desse porte na cidade. Belém hoje se encontra em rota de colisão com a COP: não há quartos de hotel em quantidade (menos ainda em qualidade) suficiente para as delegações, não há aeroporto que acomode o aumento da frequência de voos ou os aviões dos chefes de Estado, há dúvidas sobre o transporte público e até sobre se o número de restaurantes na cidade dá conta.
Desde Paris, as COPs têm crescido em número de participantes, reflexo em parte do sucesso da própria UNFCCC em pautar o tema climático na opinião pública, em parte dos impactos cada vez mais assassinos de eventos extremos. Paris teve um público de mais de 30 mil pessoas, contra 26 mil da antecessora mais cheia, Copenhague. Em Dubai foram 85 mil, em Baku, 54 mil. Ninguém sabe quanta gente esperar em Belém, mas o governo trabalha com a cifra de pelo menos 50 mil pessoas. Em maio, a seis meses da COP, o déficit de leitos era de 18 mil, e os imóveis disponíveis em plataformas de aluguel por temporada chegavam à casa dos 2 milhões de reais por onze dias (compra-se um apartamento de alto padrão em Belém por um quarto disso). Essas condições tendem a inibir a participação de delegados de países menos desenvolvidos e da sociedade civil. A demanda global de uma COP inclusiva, portanto, tende a fazer água, e o problema explodirá no colo de Corrêa do Lago e Ana Toni.
Aliás, já explodiu: em junho, durante a abertura oficial das negociações para a COP, em Bonn, Alemanha, o Brasil foi fustigado por países ricos e pobres e por representantes de ONGs por conta dos preços proibitivos de acomodação em Belém. Alguns ameaçaram reduzir o número de enviados, emendando que isso impactaria diretamente a legitimidade das decisões tomadas na COP30. Lula passou a receber reclamações dos países, mas até julho mantinha a aposta em Belém. Navios de cruzeiro com 6.000 leitos e 3.800 quartos foram contratados e serão fundeados em Outeiro, perto da capital paraense, para suprir parte do déficit de acomodações. Já a plataforma digital prometida desde fevereiro para gerenciar quartos de hotel e imóveis privados não havia sido entregue até o momento de escrita deste texto.
Lula, o anfitrião, também é hoje uma sombra da figura que arrancou aplausos do planeta inteiro no Egito em 2022 quando disse que “o Brasil está de volta”, jurou zerar o desmatamento em 2030 e ofereceu o país como sede da COP30. O presidente enfrenta o esfacelamento de sua base no Congresso, com o teratoma formado por Centrão e ruralistas dando um grito de independência em relação ao Executivo. Em negociações difíceis com o Parlamento, invariavelmente a agenda ambiental vem sendo rifada. O pináculo desse desmonte foi a aprovação-relâmpago em maio, pelo Senado, do desmonte do licenciamento ambiental, algo que nem no governo de Jair Bolsonaro havia acontecido.
Considerado por ambientalistas o maior retrocesso legislativo ambiental da história brasileira, o fim do licenciamento foi pilotado pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Ele responde a um interesse paroquial do senador em liberar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O governo, apesar de advertido pelo Ministério do Meio Ambiente, liberou a bancada no momento da votação, que Alcolumbre ganhou por 54 a 13. O portal Sumaúma revelou em maio que a omissão do Planalto foi intencional. Na madrugada de 17 de julho, o último ato da Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar foi aprovar o desmonte do licenciamento por 267 votos a 116. Resta a Lula agora vetar a proposta – ou ver qualquer possibilidade de controle de gases de efeito estufa no país sucumbir, já que a nova lei libera geral para virtualmente qualquer atividade emissora.
Embora Lula esteja sem dúvida em sua fase mais verde neste terceiro mandato, seu governo segue a tônica nacional-desenvolvimentista que marcou as administrações do PT. O símbolo dessa tendência é o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), que antagoniza com Fernando Haddad e Marina Silva. O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, presidido por ele, passou os primeiros nove meses de governo sem nem sequer se reunir. Veio da Casa Civil a pressão para reduzir a ambição da Contribuição Nacionalmente Determinada, a meta climática que o Brasil apresentou na COP29, em Baku, em novembro passado. Marina queria uma redução grande de emissões com desmatamento zero legal e ilegal. O baiano e sua equipe tentaram puxar o freio de mão, zerar apenas o desmatamento ilegal em 2035 (a promessa de Lula era zerar tudo até 2030, lembre-se) e manter os cortes de emissão no mínimo possível. O resultado desse estica-e-puxa foi a meta esdrúxula da mais recente NDC brasileira, que até 2035 pode ter um teto de emissão de 850 milhões de toneladas ou de 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente – o governo justificou os números como uma “banda”, mas na realidade trata-se de duas metas bem diferentes, cujo atingimento depende de políticas públicas igualmente distintas.
Mas nada vem expondo mais as contradições da liderança climática de Lula do que sua obsessão por expandir a produção de óleo e gás no país em plena aceleração do aquecimento global. Lula fez pressões pouco republicanas sobre o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), pela liberação de uma licença exploratória no bloco 59, da Petrobras, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Em 17 de junho, enquanto Corrêa do Lago e Ana Toni enfrentavam negociações difíceis na conferência de Bonn, a ANP (Agência Nacional de Petróleo e Gás) vendeu 19 blocos na Foz, de um total de 47 disponibilizados na Oferta Permanente. O interesse das empresas numa área ambientalmente contestada revela que o mercado considera que a licença do bloco 59 é apenas uma questão de tempo.
O bloco 59 é uma batalha simbólica por vários motivos. Localizado numa zona recifal ambientalmente sensível a 160 km da costa do Amapá, ele explicita a encruzilhada de um país que se propõe a salvar o que puder do processo multilateral de combate à mudança climática ao mesmo tempo em que almeja pular de oitavo para quarto maior produtor de petróleo do mundo – que quer sediar uma COP na Amazônia e ao mesmo tempo abrir a mesma Amazônia à indústria que mais causa o aquecimento global. O governo vem fazendo malabarismos retóricos para justificar sua perfuração, ora dizendo que é “apenas para pesquisa”, ora prometendo que os royalties do óleo tirarão o Amapá da miséria (não foi o que se viu nos municípios de Coari e Silves, no Amazonas, onde a exploração acontece há décadas e que permanecem entre os piores IDHs do Brasil); ora dizendo que o Brasil já tem a matriz energética mais limpa do mundo, ora jurando que o dinheiro do petróleo é a única coisa que pode bancar a transição energética no país (apenas 15% dos investimentos previstos pela Petrobras até 2029 estão destinados a descarbonizar a produção e a energias renováveis)
A Agência Internacional de Energia (IEA) publicou em 2021 um relatório, atualizado em 2024, mostrando que nenhum projeto novo de combustíveis fósseis pode ser licenciado em nenhum lugar do planeta se o mundo estiver falando sério sobre estabilizar o aquecimento global em 1,5ºC. Embora seja difícil argumentar contra Lula enquanto os países ricos, em especial os Estados Unidos, expandem sua produção, vem sendo igualmente difícil para Corrêa do Lago evitar questões sobre a hipocrisia do Brasil ao presidir uma COP e ao mesmo tempo planejar uma expansão da produção de petróleo e gás maior que a da Arábia Saudita.
É nesse pano de fundo de drama geopolítico, desconfiança entre os países, crise da própria Convenção do Clima e dificuldades internas do Brasil que Belém vai ter que encontrar lideranças capazes de levar adiante as negociações da COP.
Embora em trinta anos de conversas diplomáticas os Estados Unidos tivessem sido um parceiro construtivo em apenas doze (quatro anos de Bill Clinton, o segundo mandato de Barack Obama, os quatro de Joe Biden), o peso do maior emissor histórico do mundo é tão incontornável que toda a arquitetura do Acordo de Paris foi moldada às idiossincrasias americanas. As negociações na UNFCCC vinham sendo conduzidas sob o pressuposto de que uma transformação na economia energética americana no sentido da descarbonização seria seguida no mundo inteiro, mas apenas a União Europeia avançou nesse sentido (menos do que seria necessário) nas últimas duas décadas.
Quando Trump saiu de Paris pela primeira vez, em 2017, uma coalizão foi formada dentro dos Estados Unidos por empresas e governos subnacionais que ainda estavam dispostos a levar a agenda adiante. Esse movimento, conhecido como “We’re Still In” (Ainda Estamos Dentro), buscou assegurar o mundo de que os Estados Unidos eram maiores que o negacionismo de Washington e que a sobrevivência da espécie humana ainda era de interesse da maioria dos americanos, inclusive do PIB. Isso permitiu que a UNFCCC esperasse até a sanidade voltar à Casa Branca, com Biden, para retomar o processo na COP de Glasgow, em 2021. Desta vez não há nenhuma indicação de que o “We’re Still In” vá se repetir: ao contrário, o empresariado americano aderiu em peso à agenda republicana, das big techs aos bancos, que abandonaram uma coalizão impulsionada pela ONU para promover investimentos para a neutralização das emissões. Nesse cenário, quem dará um passo adiante em Belém para liderar o mundo no rumo de um futuro climático menos pavoroso?
Existem quatro polos de poder mundial: a China e os Estados Unidos são superpotências econômicas, tecnológicas, militares, energéticas e climáticas. A Rússia é uma superpotência militar e energética. E a União Europeia (mais o Reino Unido) é uma superpotência econômica, tecnológica e climática. A China e a Rússia são aliadas em todas as dimensões, exceto na climática. Trump tratou de mandar para o vinagre a aliança entre Estados Unidos e a União Europeia quando ameaçou anexar a Groenlândia e mandou seu vice, JD Vance, a uma conferência sobre segurança internacional em Munique no começo do ano para basicamente dizer “vocês que se protejam da Rússia sozinhos”, o que levou a Alemanha a um inédito movimento de frouxidão fiscal para se rearmar (em junho, também durante a conferência do clima de Bonn, Trump subiu a barra do bullying e exigiu que a Europa aumentasse a proporção de gastos militares de 2% para 5% do PIB; apenas a Espanha se recusou). Durante o governo Biden existia convergência limitada a favor da política climática entre Estados Unidos, União Europeia e China, mas Trump tem sua política climática convergindo com a da Rússia (que, ao lado da Arábia Saudita, é a maior vilã das negociações climáticas internacionais). O balanço de poder global pende contra a descarbonização.
A União Europeia tem sido a grande líder da política climática internacional desde a Rio 92, sendo o único grande poluidor que tem diminuído ativamente (embora insuficientemente) suas emissões desde 2006. Mas, a partir da invasão da Ucrânia, a União Europeia reduziu a prioridade da agenda climática (na prática, não no discurso) devido à necessidade de enfrentar a crise econômica, de aumentar o gasto militar e à ascensão dos partidos de extrema direita, negacionistas climáticos. No ano de 2022, a União Europeia e o Reino Unido detinham aproximadamente 7% das emissões globais de carbono, correspondendo a 6 toneladas per capita, o equivalente à média mundial. Os Estados Unidos respondiam por aproximadamente 12% das emissões, com 14 toneladas de CO2 equivalente por pessoa.
No período 2000-2019 a China foi responsável por mais de 40% das emissões globais de CO2, fato extremo na história mundial do carbono. O ritmo de crescimento das emissões chinesas diminuiu, mas, mesmo assim, em 2022 o gigante asiático foi responsável por 27% das emissões globais, com emissões per capita ainda menores que as dos Estados Unidos – 9 toneladas –, mas maiores que a média mundial, e em 2024 o acumulado de suas emissões históricas desde 1850 superou as da União Europeia. Até o fim da década de 2010 a China teve um papel pouco construtivo no regime climático, mas isso mudou nos últimos anos: o país tornou-se uma superpotência de energias de baixo carbono (eólica, solar, nuclear, baterias e veículos elétricos) tanto na produção quanto na exportação. Portanto, a China chega a 2025 como uma potência ambivalente, que impulsiona as renováveis, mas continua construindo em grande escala usinas a carvão.
Para ser líder no regime climático, é necessário ter quatro condições: deter proporção importante da economia mundial, proporção importante das emissões globais, capacidades tecnológicas de baixo carbono e políticas climáticas consistentes. A União Europeia vinha sendo uma liderança desde a Rio 92 até a COP26, em Glasgow, porque reunia exatamente esses quatro requisitos. Os Estados Unidos reuniram sempre os três primeiros requisitos, mas nunca o quarto, apesar de o governo Biden ter iniciado uma política climática parcialmente consistente, que foi destruída rapidamente por Trump.
A China reúne claramente os primeiros três requisitos, mas não tem uma política climática consistente e não se considera com obrigações de contribuir com o financiamento climático. Os chineses se apoiam no famoso princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas (em inglês “CBDR”, Common But Differentiated Responsibilities), previsto expressamente na Convenção do Clima, segundo o qual os países que mais fizeram para causar a crise do clima atual (os ricos, no curso de sua industrialização) precisam fazer mais para resolvê-la, incluindo pagar o que devem pela apropriação do espaço de carbono dos países pobres.
Mas a interpretação sobre a extensão desse princípio sofreu mudanças com o Acordo de Paris, principalmente na sua visão bifurcada de mundo entre países ricos e pobres (países desenvolvidos versus países em desenvolvimento), uma divisão que ficou sacramentada em um anexo da UNFCCC que lista todos os países que eram considerados “desenvolvidos” em 1992. Muita coisa mudou desde o momento da assinatura do tratado. Considerando sua responsabilidade acumulada pelas emissões na atmosfera e suas emissões per capita, é escandaloso que a China continue se aproveitando das CBDR para se esquivar das obrigações que seu status de superpotência global competindo pela hegemonia lhe impõe de contribuir para o esforço de financiamento climático. Esse impasse sobre as responsabilidades das economias emergentes tem sido um dos maiores entraves ao progresso nas negociações da UNFCCC.
A China, no entanto, vem sinalizando que está, em alguma medida, disposta a preencher o vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos. Em abril, após um evento virtual sobre NDCs organizado em Nova York por Lula e pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente Xi Jinping anunciou que seu país publicará até setembro uma NDC válida para toda a economia, todos os gases do efeito estufa e com metas absolutas de redução de emissões – até aqui, o maior poluidor do planeta vinha se escorando na condição de país em desenvolvimento para apresentar NDCs frouxas, baseadas numa métrica de “redução de intensidade de carbono”, ou seja, de CO2 gerado por dólar no PIB, que na prática significavam aumento de emissão. Embora a promessa não seja nada mais do que o cumprimento das orientações acordadas em Dubai em 2023 para novas NDCs, o movimento chinês foi visto como um aceno ao sucesso de Belém. É improvável, porém, que os chineses aceitem liderar qualquer movimento na direção de produzir um calendário para a eliminação dos combustíveis fósseis. O mistério é qual será a reação de Pequim caso outros países ponham essa proposta na mesa na COP30.
Um ponto ainda mais incerto é o que a China fará em relação ao financiamento climático. Existe uma possibilidade de que o país, de renda média-alta, mude sua política, assumindo compromissos mais consistentes e se colocando como um país desenvolvido, consentindo com obrigações de financiamento multilateral. Essa chance é muito pequena neste momento mas, num contexto geopolítico em que o governo Trump diminui a presença americana no mundo, isso abre uma oportunidade excelente para a China mudar sua política e ter um grande ganho de prestígio e soft power, diminuindo inclusive a rejeição a seu modelo autocrático nos países democráticos. Caso decida fazer uma mudança, isso será depois de um longo e opaco debate na cúpula do Partido Comunista e ela provavelmente não será anunciada antes da COP30, embora possa haver antes algumas indicações nessa direção.
O melhor cenário para Belém, neste momento, é o de liderança compartilhada entre Brasil, China, União Europeia, Reino Unido e África do Sul, maior emissor do continente e atual presidente do G20. Esse grupo puxaria a formação de uma coalizão com o resto do mundo (excluídos, claro, Rússia, petroleiros do Golfo Pérsico e alguns países alinhados com os Estados Unidos, como a Argentina) contra o governo Trump. Tal movimento tem um precedente: algo parecido ocorreu na COP8, em Marrakech, logo depois que o governo de George W. Bush retirou os Estados Unidos do Protocolo de Kyoto, o acordo do clima que antecedeu Paris. Sinais de que o mundo está disposto a isolar os Estados Unidos e ir adiante na tentativa de evitar o agravamento do colapso climático foram dados na reunião ministerial de Petersberg, em março. Mas há uma pedra no caminho: o governo de Narendra Modi, na Índia, que está negociando uma profunda aproximação em várias dimensões com Trump. Além disso, o gigante asiático é um pote até aqui de mágoa com o resultado da conferência de Baku, na qual não apenas ficou sem dinheiro como foi atropelado pela decisão final, com o martelo da presidência sendo batido enquanto a chefe da delegação indiana pedia para falar.
Em junho, na conferência do clima de Bonn, os indianos deram um tiro de advertência do que poderia ser seu comportamento na COP30: foram os principais patrocinadores de uma proposta da Bolívia de abrir um item novo de agenda na reunião para discutir financiamento climático público. Era uma chantagem: a Bolívia, a Índia e os demais países conhecidos como LMDC (“like-minded developing countries”, ou “países em desenvolvimento alinhados”) só aceitariam abrir a conferência se as presidências da conferência e da COP topassem a nova proposta – o que os países ricos não aceitam de jeito nenhum. A solução encontrada pelo Brasil foi empurrar o problema para a frente, prometendo que o assunto seria discutido em Belém. A COP30 ganhou mais um impasse para resolver, num momento em que a Europa se prepara para destinar mais recursos públicos para comprar mísseis e menos para desarmar a bomba do clima.
Nos últimos anos, presidentes de COPs têm escrito cartas aos países-membros da Convenção do Clima (as chamadas “partes”) para delinear suas visões para as conferências e suas estratégias de ação. Até o momento de escrita deste artigo, Corrêa do Lago já havia escrito quatro missivas. A primeira convocava os países para um “mutirão” global contra a crise do clima, lembrando a origem tupi da palavra, que denota esforço coletivo. Tão importante quanto, o presidente reforçou que Belém deverá marcar uma troca de marcha no regime climático, na qual a negociação está encerrada e parte-se para a fase de implementação do Acordo de Paris. Abordando lateralmente a crise de identidade da UNFCCC e as dificuldades decorrentes de um modelo de decisão por consenso no qual mais avanços parecem impossíveis, a carta também menciona a iniciativa do Brasil de criar um Conselho de Mudança do Clima na ONU, para funcionar sob o guarda-chuva do secretário-geral. Ainda é incerto o que esse conselho faria e como faria, mas o Brasil acha que o novo espaço pode ser um lugar para tomar decisões políticas mais difíceis, com decisão por voto e não por consenso.
Isso não quer dizer que o Acordo de Paris esteja obsoleto. Ao contrário, como Corrêa do Lago destaca em suas cartas, a diversão começa agora, na implementação do tratado que levou uma década sendo negociado.
Embora seja verdade que as normas básicas para a implementação dos compromissos dos países-membros já tenham sido adotadas, inclusive o chamado Livro de Regras e outros regulamentos remanescentes que foram enfim concluídos em Baku, ainda há elementos que precisam ser mais bem detalhados para viabilizar essa implementação e garantir a efetividade do acordo – como, por exemplo, os indicadores para aferir o alcance dos objetivos globais de adaptação e o programa de trabalho de transição justa, que serão objeto de negociação na COP30.
Há ainda um elemento crucial, o chamado “parágrafo 28d” do Balanço Global do Acordo de Paris, a principal decisão da conferência de Dubai. O texto prevê a transição para longe dos combustíveis fósseis, mas não diz em quanto tempo, em qual horizonte, de que forma, nem estabelece as definições sobre o que significa fazer isso de maneira “ordenada, justa e equitativa”. Diz apenas que é preciso “acelerar a ação nesta década crítica” – ou seja, temos cinco anos para encaminhar o tema. Como a decisão não é autoimplementável, ela precisará de negociação. Só que não existe um lugar na agenda de Belém para isso. Pior, de Dubai para cá os países do LMDC, principalmente a Arábia Saudita e seus satélites, vêm tentando retroceder no parágrafo 28, como se nunca tivessem concordado com ele. Em Bonn, até uma proposta de estabelecer um diálogo descompromissado sobre a implementação do Balanço Global naufragou, por resistência saudita, mas com apoio entusiasmado de Índia e China. Diante disso, o Brasil quer tentar mover esse tema sensível para a chamada Agenda de Ação, um conjunto de compromissos voluntários que costumam ser anunciados com pompa e logo esquecidos. A própria Agenda de Ação precisará ganhar algum tipo de dente para que isso ocorra. Para além dos objetivos relacionados à transição para energias renováveis, há uma série de outras aspirações e calendários embutidos na decisão do Balanço Global do Acordo de Paris, como o do parágrafo 33, que prevê esforços dos países em parar e reverter o desmatamento no mundo até 2030, mas também sem dar detalhes de como isso será operacionalizado. Isso deveria interessar ao Brasil, detentor da maior floresta tropical do planeta.
Provavelmente sempre vai ser preciso ajustar alguns pontos do Acordo de Paris com o tempo. É como quando você combina um trabalho com alguém – por exemplo, quando contrata uma pessoa para reformar sua casa. Mesmo depois de tudo acertado no papel, é comum surgir a necessidade de mudar o tipo de material, ampliar o serviço ou ajustar o prazo. Aí você precisa conversar de novo e fazer novos combinados. Com acordos internacionais é parecido: o mundo muda, surgem novos desafios, e o que foi decidido antes muitas vezes precisa de atualizações. Como canta Lulu Santos, “tudo muda o tempo todo no mundo” – e nenhum documento, por melhor que seja, dá conta de prever tudo – seja ele um contrato, o Acordo de Paris ou mesmo uma decisão de COP.
Mas não é só por isso que as COPs continuam necessárias: elas também cumprem o papel de monitorar a implementação e a efetividade do Acordo de Paris. Elas recebem e apreciam relatórios anuais sobre o funcionamento de órgãos e comitês, que muitas vezes apontam ajustes necessários e fazem recomendações. As decisões das COPs funcionam como “termos aditivos” contratuais que garantem a constante atualização do acordo frente à realidade. Um exemplo é o comitê de implementação e compliance, que possui o mandato de investigar “problemas sistêmicos” na implementação do tratado.
Um desses possíveis problemas sistêmicos é a dificuldade recorrente dos países em cumprir o prazo para a apresentação de novas NDCs – a cada cinco anos, até nove meses antes da COP daquele respectivo ano. Na rodada atual, esse prazo terminou em fevereiro de 2025. Até hoje, menos de 30 países de 196 apresentaram suas metas. Com um nível de não conformidade superior a 85%, é inevitável refletir sobre o que há de estruturalmente equivocado na sistemática de atualização das NDCs. Quatro meses antes da COP de Belém, inclusive é sintomático que justamente as duas candidatas que sobraram a líder climático, a União Europeia e a China, não tenham ainda apresentado suas metas climáticas (NDCs) para 2035. Os europeus relutam em botar na mesa seu plano de redução de 90% das emissões até 2040, que serviria de base para a NDC.
Uma possível explicação para o atraso geral é o fato de que elaborar uma NDC é uma tarefa hercúlea. Exige uma preparação institucional robusta – com instituições organizadas, papéis bem definidos e articulação entre órgãos – e um esforço político interno grande e sensível, já que envolve temas econômicos importantes e decisões que atravessam diferentes áreas do governo. Sabendo que essas metas serão examinadas com lupa, alguns países preferem atrasar a entrega para apresentar um resultado mais robusto, enquanto outros procrastinam porque forças conservadoras dominam o cenário doméstico. Se essa postergação não se traduzir em maior ambição, temos uma crise de implementação. As COPs devem servir, também, para diagnosticar e lidar com essas crises sistêmicas.
E, para além de “monitorar” a implementação, as COPs podem – e devem – fomentá-la. Isso significa criar instrumentos, espaços e iniciativas formais para incentivar uma participação mais ampla de governos e de atores não estatais na tomada de ação concreta, contribuindo para o cumprimento dos objetivos do Acordo. Esse papel já foi parcialmente tentado com iniciativas como as Parcerias de Marrakech e, mais recentemente, a Plataforma de NMAs (Abordagens de Cooperação Não Mercadológicas, uma espécie de “Tinder” para dar o “match” entre países em desenvolvimento com organizações ou governos oferecendo suporte), que buscavam encorajar o registro de ações por governos e empresas. Apesar de subutilizadas, essas iniciativas servem de base para imaginar instrumentos mais robustos e eficazes voltados à implementação. A COP30 pode deixar como legado um aparato unificado de fomento, registro e visibilidade da ação climática em mitigação, adaptação e financiamento, conectando também aqueles atores responsáveis pela implementação na ponta, e não apenas governos.
O “Mutirão de Belém pela Implementação Climática” deveria ser o pacote de decisões da COP30 capaz de reformar o multilateralismo da UNFCCC, dez anos após a adoção do Acordo de Paris e em um momento que pede pragmatismo e reforço do espírito de cooperação internacional. Pela correlação de forças presente – entre forças conservadoras intensivas em carbono e forças reformistas descarbonizantes –, sabemos que fazer esse pacote vingar é bastante desafiador e parece quase impossível, mas a história nos mostra que missões que parecem impossíveis também dão certo, frequentemente em condições improváveis. Isso foi visto em Dubai, numa conferência presidida por um CEO de petroleira num país petroleiro que mesmo assim produziu um avanço sobre combustíveis fósseis.
O pacote “impossível” da COP30 poderia incluir:
- O lançamento de um processo multilateral para estabelecer o calendário da transição: É preciso botar “carne” na decisão de Dubai sobre combustíveis fósseis. O Brasil reconhece isso na própria NDC, quando diz que seria “bem-vindo” um processo desse tipo. Por menos que outros países queiram tratar do assunto, os fósseis são o elefante na sala do regime climático multilateral. A redução do preço do petróleo em 2025, na esteira do governo Trump e do aumento da produção da Opep, pode ser uma oportunidade de mover essa agenda adiante, já que começou a reduzir as margens de lucro fabulosas amealhadas por essa indústria após a invasão da Ucrânia. Há que estabelecer critérios de gradualidade da transição e um calendário. Propostas aventadas pela sociedade civil incluem uma meta de substituição percentual de fósseis por renováveis na matriz energética, já que hoje as renováveis crescem em adição ao crescimento das energias fósseis.
- Um plano de ação contra o desmatamento: É preciso estabelecer processos e medidas para operacionalizar o objetivo de desmatamento zero até 2030, considerando prazos intermediários, mecanismos de relato, e a conexão com instrumentos de financiamento e de cooperação, inclusive do Acordo de Paris, que permitam aos países florestais, especialmente os do Sul Global, transitar para o desmatamento zero em 2030 com recuperação florestal maciça. Todos os modelos climáticos que preveem a manutenção do aquecimento global em 1,5ºC neste século incluem as chamadas “emissões negativas”, e o melhor jeito de obtê-las é restaurando florestas maciçamente. Nesse contexto, reforçar a colaboração da UNFCCC com a Convenção de Biodiversidade pode otimizar esforços e acelerar a implementação dessas ações.
- Um mutirão pelas NDCs e pela ação climática: A COP pode abordar a insuficiência das NDCs em uma decisão de capa, reconhecendo os desafios globais da atualidade, mas reafirmando o compromisso com os objetivos do Acordo de Paris. A presidência da COP30 deve engajar os países-membros do Acordo de Paris a darem uma resposta e encaminhamento a esse cenário frustrante. Ela pode propor: i) um compromisso ou mensagem política de intenção de reforço das NDCs, com base nos resultados do Primeiro Balanço Global do Acordo de Paris; ii) um processo que impulsione, coordene e monitore a implementação dos compromissos e iniciativas definidas no Primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, em todos os seus elementos – mitigação, energia, florestas, transição justa, adaptação e outros; e iii) a criação de uma plataforma para registrar ações de implementação do Acordo de Paris por partes e atores não estatais que queiram contribuir esforços de mitigação, adaptação ou financiamento, promovendo sinergias, ambição e conexão entre atores públicos e privados. As COPs têm se tornado, cada vez mais, palco de declarações – unilaterais, bilaterais, de governos e empresas – muitas vezes feitas em conjunto. Esses compromissos voluntários podem ser organizados de forma coordenada pela UNFCCC, garantindo continuidade e monitoramento da comunidade internacional sobre sua implementação, ainda que isso não signifique lhes dar um status jurídico de compromisso internacional legalmente vinculante. Essa plataforma poderia se conectar com resultados do Programa de Trabalho sobre Transição Justa, que poderia incluir produtos de cooperação plurilaterais, como as Just Energy Transition Partnerships (JETPs), em que países desenvolvidos e atores privados financiam a transição energética em países dependentes de carvão.
- Um conjunto de indicadores para adaptação: Embora o tema já esteja em negociação, ainda há divergências sobre o escopo e aplicabilidade dos indicadores. Para garantir a implementabilidade das disposições de adaptação do Acordo de Paris, a COP30 pode adotar uma decisão que avance na construção de uma taxonomia e de um conjunto de indicadores que ajudem a mensurar e promover ações de adaptação e resiliência nos níveis nacional e internacional, facilitando o desenho de políticas públicas e a alavancagem de investimentos públicos e privados em adaptação.
- Um roteiro de financiamento climático público e privado que estabeleça marcos intermediários, rastreamento de fluxos e ampla participação: A Presidência brasileira foi incumbida de apresentar um roteiro para operacionalizar a meta de 1,3 trilhão de dólares adotada na COP do Azerbaijão. Esse roteiro precisa detalhar fontes, instrumentos e mecanismos existentes e propostos, com marcos intermediários para o progresso e diretrizes para colaboração entre bancos multilaterais, instituições financeiras e setor privado. Também deve prever mecanismos de transparência e rastreabilidade de fluxos financeiros climáticos, permitindo avaliação acurada do avanço rumo à meta. O roteiro Baku-Belém pode se conectar com outros itens da agenda de financiamento climático nesta COP30, como as discussões relacionadas à definição de financiamento climático e ao objetivo do Acordo de Paris de manter os fluxos financeiros alinhados a uma trajetória de descarbonização e resiliência climática global.
O destino da COP30 ainda está para ser escrito. A conferência de Belém pode ceder à inércia conservadora e entrar para o rol das COPs esquecíveis, quando no máximo a bola murcha do multilateralismo climático seguiu rolando à espera de uma improvável melhora nas condições geopolíticas no futuro. Nos versos de Chris Martin, do Coldplay, uma “maldita oportunidade perdida”. Ou pode ser lembrada como o momento em que o sistema multilateral da UNFCCC inaugurou uma nova fase – mais pragmática e operacional –, e as COPs assumiram papel de facilitadoras da implementação e do engajamento. Isso exige criar as pontes institucionais entre metas e ação, entre compromissos e resultados.
O Brasil precisa decidir, nos meses que restam, se quer ser parte da cura ou da doença. O país tem uma presidência hábil, que estará assessorada por muita gente parruda, inclusive os franceses Laurent Fabius e Laurence Tubiana, a dupla que costurou o Acordo de Paris em 2015. Está bem posicionado para avançar, mas precisa de coragem para fazê-lo, e de combinar com os russos – e os indianos, os sauditas, os chineses, os europeus, os africanos, os japoneses, os indonésios e os nossos vizinhos da América Latina.
Se é verdade que 2025 é um péssimo ano para tentar salvar o planeta, também é fato que, com a ultrapassagem do limite de 1,5ºC nos aguardando ali na esquina, a humanidade não tem nenhuma opção senão tentar.
Claudio Angelo é coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima. É autor de O silêncio da motosserra – quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia (Companhia das Letras, 2024)
Caroline Prolo é advogada especializada em direito das mudanças climáticas, sócia da gestora de investimentos fama re.capital e cofundadora e presidente do Conselho da LACLIMA
Eduardo Viola é professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Brasília
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.