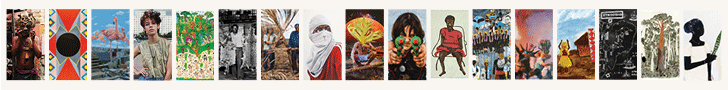Christian Laval: “Para que educar?”
Sociólogo francês aponta: reduzida à eficiência, competição e performance, finalidade educativa perdeu o sentido. Leva jovens a frustração e alimenta a anomia – onde a lógica empresarial ocupa o vácuo. Como transformar a resistência em ofensiva?
Publicado 16/10/2025 às 18:04 - Atualizado 16/10/2025 às 18:05

Christian Laval em entrevista a Vinícios de Oliveira, no Porvir
Por que aprendemos o que aprendemos? E de que forma o discurso comum sobre a educação, ainda que de maneira instintiva, ecoa políticas econômicas dominantes, instaurando a lógica da competição de mercado até mesmo dentro do setor público?
Esse é um roteiro bem conhecido e frequentemente questionado por educadores. Aos poucos, a escola vai sendo colocada sob pressão por metas de desempenho e exigências de rentabilidade. Com isso, o clima escolar, ou seja, a forma como professores e demais profissionais da educação vivenciam o cotidiano da comunidade escolar, acaba sendo diretamente afetado.
“A escola deveria ser o lugar onde se formam cidadãos capazes de pensar e participar da vida coletiva — não apenas indivíduos treinados para o mercado.” A afirmação é do sociólogo francês Christian Laval, professor emérito da Universidade Paris-Nanterre, e sintetiza uma de suas principais críticas ao avanço do neoliberalismo na educação.
Reconhecido internacionalmente por seus estudos sobre o tema, Laval é autor de obras fundamentais como A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal e A escola não é uma empresa. Nessas publicações, ele analisa como a lógica da concorrência, da performance e da rentabilidade passou a moldar não apenas as políticas públicas, mas também a cultura escolar e a subjetividade dos indivíduos.
Em entrevista ao Porvir em São Paulo (SP), antes de participar do Seminário Educação Insurgente, promovido pela Escola da Árvore, em Brasília (DF), Laval reflete sobre os efeitos dessa racionalidade neoliberal na vida cotidiana de escolas e universidades, nas relações entre professores e alunos, e no próprio sentido de educar.
Para ele, o desafio contemporâneo está em recuperar o ideal de uma educação comum e democrática, capaz de promover a reflexão crítica e fortalecer a vida coletiva. “Quando a escola se torna uma empresa, perdemos de vista sua verdadeira missão: formar sujeitos livres e solidários.” Leia abaixo destaques da conversa.
Como o neoliberalismo transcende a economia para impactar políticas educacionais e o cotidiano de escolas e universidades?
Para entender isso, é preciso começar dizendo que o que entendemos por neoliberalismo não é simplesmente uma política econômica particular, uma política monetária ou uma política de oferta. O neoliberalismo é, na verdade, muito mais uma lógica geral de governo da sociedade e dos indivíduos. Creio que este é o ponto fundamental.
Não se trata apenas de gerir as finanças, as contas públicas de outra forma, ou de favorecer apenas as empresas. É mais complicado. O neoliberalismo é a ideia de que toda a sociedade deve ser submetida a uma lógica de concorrência, a uma forma empresarial. É a ideia de que o mercado e a empresa são formas universais que devem ser aplicadas a todas as atividades e esferas institucionais.
Uma vez que compreendemos isso, podemos nos perguntar como essa lógica se aplica a diferentes setores como a saúde, a justiça e, claro, a educação. Concretamente, políticas neoliberais na educação promovem a concorrência entre os setores público e privado, e até mesmo dentro do setor público. A doutrina neoliberal supõe que a concorrência é um fator de eficiência e um estímulo que pressiona os profissionais a darem o melhor de si.
Poderia exemplificar?
Isso significa entrar em uma lógica de mercado, onde cada instituição de ensino deve se ver como uma unidade em um mercado educacional. Essa ideia tem efeitos diretos na organização interna: o diretor da escola se torna um “manager”, um chefe de empresa, e os professores são vistos como funcionários que devem seguir uma lógica de rentabilidade e performance.
Cria-se, então, uma lógica bizarra, especialmente no setor público. O serviço educacional, que a priori não é um serviço comercial, passa a ser tratado como se fosse. Introduzem-se critérios e ferramentas de avaliação que transformam a educação em uma “quase-mercadoria”. Ela não tem necessariamente um preço, como no setor privado, mas é tratada como uma mercadoria fictícia.
Isso altera todas as relações…
Sim. Altera as relações entre professores e alunos, e entre professores e famílias, que passam a se ver como “consumidores” de escola ou “investidores” em educação. A própria linguagem da educação muda. Não se formam mais cidadãos ou seres humanos adultos; formam-se consumidores e investidores. A grande mudança é na mentalidade, na subjetividade.
O que se desenvolveu foi um utilitarismo profundo e generalizado, que afeta a relação dos alunos com o saber. Por que se aprende? Para obter um diploma. Por que obter um diploma? Para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro. O saber se torna uma ferramenta econômica para alcançar uma posição social e renda, perdendo seu valor intrínseco e passando a ter apenas um valor instrumental.
Em diferentes contextos, o foco em métricas de eficiência e desempenho não está apenas gerando insegurança. Ele não estaria também esvaziando o debate sobre a própria finalidade democrática da escola?
Sim, você toca no ponto importante: para que educar? Qual é a finalidade da educação? Essa questão foi amplamente deixada de lado em favor de considerações sobre meios, eficiência e performance, o que é típico de uma lógica empresarial. A discussão se resume à relação entre “input” (investimento) e “output” (resultados), despolitizando a educação como se ela fosse apenas uma questão econômica.
Esquecemos pelo caminho que a finalidade educativa poderia ser a de construir uma sociedade democrática, com igualdade real e cidadãos capazes de participar da vida coletiva, deliberar e decidir. Esse ideal iluminista, republicano, de formar cidadãos com capacidade de reflexão e crítica, foi descartado para formar o que chamo de “homem econômico”, alguém feito essencialmente para a economia.
O que o “homem econômico” representa na educação?
Essa ideia gera uma profunda perda de sentido na educação. Para aqueles com vantagens sociais, o sistema funciona. Mas para as classes populares, a promessa de que a escola lhes trará uma posição melhor não se cumpre, devido à reprodução social. Isso cria uma frustração enorme e uma visão da democracia como algo sem sentido. Esse cenário favorece o que os sociólogos chamam de anomia (a perda de normas), gerando insegurança e delinquência.
A ideia de que a economia poderia dar sentido à educação é um fracasso. Em resposta a essa anomia, os setores mais autoritários, a extrema-direita, propõem o reforço da autoridade. Eles acreditam que, se a economia não é suficiente para dar sentido e integrar a todos, a solução é mais repressão e mais autoridade. É compreensível que, à economização da vida, se responda com uma politização autoritária, uma resposta que eu qualificaria como neofascista, tendência que vemos em todo o mundo.
Professor, seu livro sobre educação democrática fala em passar da crítica para uma “ofensiva da democracia”. Como podemos transformar a resistência em construção, criando alternativas concretas na educação e na sociedade?
O sentimento de ter que resistir a essa lógica mundial é algo universal entre os professores. Muitos resistem, seja de forma passiva, limitando os efeitos negativos das políticas neoliberais, ou de forma ativa, com mobilizações sociais e sindicais.
No entanto, a resistência por si só é insuficiente. Todos que resistem se perguntam: “O que podemos fazer? O que podemos propor?”. Não basta recusar; é preciso afirmar uma nova finalidade, uma nova organização para o ensino. É preciso uma refundação do ensino.
Quais os entraves para a refundação do ensino?
O que nos enfraquece e nos leva ao desespero é a falta de um objetivo claro. Perdemos o sentido do projeto: que educação construir? Como refundar a escola e a universidade?
É isso que busquei abordar com meu colega Francis Vergne no livro Educação democrática – A revolução escolar iminente(Editora Vozes, 272 páginas ). Usamos a expressão do filósofo Jacques Derrida sobre fazer “propostas ofensivas”. É o que tentamos fazer neste livro.
Diante deste cenário, o senhor defende uma abordagem baseada em princípios como a liberdade de pensamento, produção da igualdade, cultura comum, pedagogia da cooperação e autogestão. Como podemos colocá-los em prática?
Tudo é e será muito difícil. Para compreendê-la, é preciso entender que nosso objetivo é tornar visível um sistema educacional coerente, fundamentado em uma abordagem sistêmica. Não se trata de melhorias pontuais, mas de conceber uma nova estrutura para a educação, alinhada a um propósito genuinamente democrático.Primeiramente, é necessário ter clareza sobre qual modelo de sociedade buscamos.
O que define uma sociedade democrática?Christian Laval – Em linhas gerais, uma sociedade democrática é aquela em que todos os indivíduos, em condições de igualdade, podem deliberar e participar das decisões que os afetam diretamente. O princípio fundamental da democracia é o autogoverno. A questão que se impõe é: como seria uma sociedade com um autogoverno mais desenvolvido?
Abraham Lincoln definiu a democracia como “o governo do povo, pelo povo e para o povo”. Essa é a base de tudo. Ao considerarmos essa premissa, percebemos que não vivemos, de fato, em uma sociedade plenamente democrática, pois estamos submetidos a decisões das quais não participamos. Portanto, o desafio central é construir uma sociedade democrática efetivamente fundada no autogoverno.
A partir dessa definição, podemos, então, desenhar um sistema educacional correspondente. Não nos iludamos: a revolução escolar que idealizamos só ocorrerá em conjunto com uma reorganização mais ampla da sociedade, baseada em finalidades verdadeiramente democráticas.
Com a pressão por uma formação que prioriza o mercado de trabalho, que cultura escolar é possível construir para garantir o desenvolvimento integral dos estudantes?
Uma cultura para a democracia. Uma cultura que vá além das competências exigidas pelas empresas. Embora seja evidente que o sistema educativo deva formar trabalhadores qualificados, isso não é suficiente para a formação de um adulto responsável. Nós pertencemos a uma coletividade com interesses comuns. Uma educação hiperespecializada cria o perigo de que as pessoas não tenham mais como se comunicar umas com as outras.
A questão sobre o que constitui uma cultura comum existe desde o século 18. Hoje, essa cultura deve incluir conhecimentos essenciais para o exercício democrático. Isso significa conhecimentos de sociologia, política e, fundamentalmente, ecologia. É um dever de todo educador oferecer aos alunos com o mínimo saber sobre a crise climática, por exemplo.
Além disso, a cultura comum supõe uma reorganização dos saberes. A separação estrita entre as ciências sociais e as ciências naturais é um grande problema, pois as questões atuais, como a ecológica, exigem uma compreensão da interação entre as atividades humanas e a natureza. Precisamos pensar em um saber mais integrador.
Com a chegada da inteligência artificial, como a educação pode desenvolver uma abordagem crítica para integrar essa tecnologia, sem cair na armadilha do tecnocentrismo?
Esse é um perigo iminente. O que está acontecendo é uma transferência do conhecimento humano para a máquina, como a inteligência artificial generativa. Isso se assemelha ao que Marx analisou no século 19 sobre a maquinaria industrial: um processo que transfere o saber-fazer humano para um sistema maquínico e, ao mesmo tempo, individualiza a relação de cada um com a máquina.
O que está em risco é a aprendizagem coletiva. Embora cada um aprenda de forma singular, há uma dimensão coletiva e cooperativa no aprendizado: aprendemos juntos, conversando, trabalhando juntos. Para compensar a individualização tecnológica, a escola deve desenvolver ao máximo todas as práticas de cooperação possíveis: trabalhos em grupo, trocas entre alunos, etc.
Isso é fundamental, pois é na escola que se aprende a “colocar em comum” nossos saberes e desejos, que é a chave da democracia. Fomos muito influenciados por pedagogos como John Dewey, que dizia que a democracia se aprende através da experiência democrática na própria escola. Não se trata de despejar um saber sobre os alunos, mas de colocá-los para trabalhar juntos para que adquiram conhecimento coletivamente.
O debate educacional no Brasil tem buscado valorizar a diversidade do país. O que é necessário para construir uma educação que reconheça os saberes locais e respeite as raízes indígenas e afro-brasileiras, em vez de se limitar a testes padronizados e a um currículo homogêneo?
O projeto de se libertar da uniformização ocidental é um desafio enorme, especialmente quando modelos como o capitalismo e o Estado-nação já foram importados.
A questão é: como, a partir dessa imposição, podemos traçar um caminho original? Em meu trabalho com Pierre Dardot (“A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal”, Boitempo Editorial, 416 páginas), argumentamos pela necessidade de uma pluralidade de mundos. A mudança não virá de cima. Acredito que são as dinâmicas sociais, as lutas e os movimentos de base, como os movimentos indígenas, que podem reinventar a sociedade a partir de traços originais.
Esses movimentos, ao lutarem por sua autonomia, necessariamente pensarão no tipo de educação de que precisam. A dificuldade está em como mesclar esses traços originais com uma cultura comum democrática. O interessante é que os movimentos indígenas, por exemplo, não buscam apenas o isolamento. Eles se dirigem ao mundo dizendo: “Temos algo a lhes oferecer”, como uma nova relação com a natureza que pode servir a todos. A luta deles contra o agronegócio e o desmatamento, por exemplo, pode inspirar e renovar a cultura crítica global.
O que esses movimentos podem trazer para a educação de todos é precisamente uma consciência ecológica e uma nova relação com a natureza. Isso me parece absolutamente urgente e indispensável.
Que saberes e competências são essenciais ao educador que atuará na linha de frente para construir a sociedade democrática, cooperativa e autônoma que o senhor propõe?
Esta é uma questão central, uma questão decisiva: como educar os educadores?
O maior problema está na reprodução dos mesmos modelos. Quem foi formado em uma escola tradicional, marcada por métodos autoritários e centrados na exposição oral do professor, tende a reproduzir os únicos modelos que conheceu. Foi moldado dessa forma. Então, como esse educador poderia se transformar?
Minha resposta é simples: pela experiência democrática. Somente vivenciando a democracia os educadores podem transformar-se de fato. E o que isso significa? Que a escola, a meu ver, deve formar pessoas capazes de se autogovernar.
Por onde começar?
Dentro da própria escola, que também precisa incorporar formas de autogestão.
Se o educador está preso a relações hierárquicas rígidas, subordinado a um diretor ou inserido em uma burocracia local, ele vive uma experiência de obediência e controle. E como esperar que alguém que apenas cumpre ordens forme sujeitos autônomos? Ele acaba reproduzindo o que vivencia. A única saída possível é que o próprio educador seja autônomo. Mas não estamos falando de uma autonomia individualista, e sim de uma autonomia coletiva.
Os professores precisam assumir responsabilidades em suas escolas e enxergar-se como agentes do autogoverno educacional. Isso significa criar espaços e práticas de autogestão nos ambientes escolares. Claro, isso não quer dizer que cada um faça o que quiser. É necessário estabelecer um marco legal e institucional, com regras claras. Mas, dentro desse marco, deve-se cultivar o sentido de responsabilidade coletiva.
E qual caminho evitar?
O pior cenário é o do autoritarismo local, ou seja, a dependência de um chefe que centraliza o poder. Nesse modelo, o professor apenas repete o que sofre. Educar os educadores significa dar a eles condições para autogovernar suas escolas.
Isso vale também para o trabalho pedagógico. Professores, por exemplo, poderiam reunir-se por área para discutir o currículo, propor mudanças e refletir coletivamente sobre os métodos de ensino. Em todos os níveis, os educadores devem atuar como adultos responsáveis. Afinal, são eles que detêm o conhecimento, são os responsáveis por ensinar e também devem ter voz nas decisões sobre como ensinar.
Hoje, na França, isso faz muita falta. A formação de educadores é um desafio grave: há pouca ou nenhuma formação continuada. E, quando há, ela raramente se baseia na auto-organização docente. Acredito profundamente na ideia de que os professores devem poder se organizar por escola e por disciplina, para decidir juntos, em diálogo com universidades, pesquisadores e outros atores, o que é mais relevante ensinar.
Para mim, essa é a essência de uma escola democrática: educadores democráticos, com autonomia e responsabilidade coletivas.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras