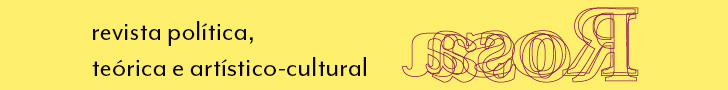As veias abertas da vila do Chaves
O fenômeno cultural mexicano ressurge com fôlego renovado. Série ambienta o microcosmo da América Latina com sátira social afiada e popular. E carrega uma aura nostálgica – que seria, talvez, o luto pelas causas perdidas após décadas de neoliberalismo desumanizante?
Publicado 03/12/2025 às 16:58

Por Marcelo Ferraz, no Blog da Boitempo
Superados momentaneamente os desacordos econômicos entre os herdeiros de Roberto Bolaños (o “Chespirito”) e a emissora mexicana Televisa, o seriado Chaves ressurgiu, com fôlego renovado, em nossas múltiplas telas. E está mesmo em toda parte: na TV aberta, na fechada (que, dizem, ainda existe) e em todos os principais streamings disponíveis no Brasil. A enésima reestreia do menino do barril veio acompanhada do lançamento da série Sem querer querendo (2025), que acompanha a história de seu criador e protagonista numa biografia ficcional, semi-hagiográfica, que obteve considerável sucesso, reavivando também as polêmicas de bastidores e os mitos atraentes que sempre rondaram a produção.
No início dos anos 1970, Chaves já trazia, de nascimento, uma aura nostálgica. Seja nos aspectos técnicos ou narrativos, a obra mais célebre de Bolaños nunca teve a pretensão de estar à frente de seu tempo, ao contrário, seu trunfo sempre foi estabelecer certa distância (e mesmo certa incongruência) das fórmulas que a indústria cultural vendia por atacado a espectadores cada vez mais sedentos por novidades estridentes. Seguir despertando interesse constante no público até os anos 1990 – sobrevivendo nas grades televisivas, ao lado de desenhos animados hipercoloridos e de ritmo frenético – foi uma proeza quase inexplicável. Agora, continuar sendo relevante no tempo hipnótico dos tablets e celulares – na contramão dos algoritmos e para lá do limiar do politicamente correto – é realmente um fenômeno que exige de nós uma reflexão mais demorada, para tentar sondar algumas das razões desse prodígio.
Chaves alcançou, para todos os efeitos, a condição de um clássico cultural da América Latina, uma obra que habita o nosso imaginário coletivo e reverbera mesmo entre quem nunca a assistiu ou em quem não vê nenhuma graça nas trapalhadas do menino órfão que cativou tantos admiradores ao longo das últimas décadas. Dentre as definições que o escritor italiano Ítalo Calvino propõe para um clássico está justamente a de que são obras que “se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual”. Por isso, ainda segundo o autor, um clássico nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, pois novas camadas de sentido manifestam-se nele ao longo dos anos.
Assim, todo clássico estimula uma nuvem de discursos críticos e hipóteses interpretativas em torno de si e, ao mesmo tempo, a repele para longe. Chaves, portanto, é um clássico também porque recebe e estimula essas diversas leituras: seu protagonista pode ser um Cristo terceiro-mundista ou um pícaro pós-industrial, passando pela encarnação de Diógenes de Sinope, o filósofo do barril; a vila pode ser uma metonímia do Império Asteca ou uma rocambolesca alegoria do inferno; o estilo de Bolaños pode ser acercado ao de William Shakespeare ou Charles Chaplin, mas também ao de Cantinflas e Victor Hugo, sem perder de vista Charles Dickens e Mark Twain. Esses diferentes ângulos de leitura podem ser complementares ou conflitantes, mas nenhum deles, e muito menos a soma extravagante de suas contribuições, nos dispensa do desafio de formular novas investidas interpretativas. Entre tantas hipóteses sugestivas ou mirabolantes, a que defendemos neste artigo busca força em sua obviedade: a construção de Chaves tem como base a representação crítica de um tecido político muito concreto e exemplar, do qual ela extrai tipos sociais emblemáticos da condição de subdesenvolvimento latino-americano. Dessa maneira, os personagens assumem perfis políticos e sociológicos muito precisos, que encenam o tortuoso processo de formação econômica e social do continente.

Dizer que a vila do Chaves é um microcosmo da América Latina não constitui grande novidade. Mas ultrapassar o efeito retórico dessa afirmação e buscar implicações analíticas mais profundas é um esforço que, até onde se saiba, ainda não foi empreendido a contento. É pertinente reconhecer que esse microcosmo projeta, em suas interações dinâmicas, um quadro social altamente crítico e tenso, dando contorno aos conflitos de classe, aos choques geracionais, às disputas de poder e às alternativas históricas que embalavam o debate latino-americano da década de 1970. Há, assim, uma perspectiva popular e anti-imperialista, profundamente enraizada no pensamento crítico daquela época, que pulsa nas nervuras mais complexas do seriado. Aliás, é difícil saber até que ponto a nostalgia que a obra ainda desperta hoje abarca, num plano inconsciente, o luto dessas causas perdidas, esvaziadas por décadas de neoliberalismo implacável e desumanizador.
Restam ainda dois últimos esclarecimentos preliminares a serem feitos. O primeiro é que não ignoramos as controvérsias políticas de seu autor, Roberto Bolaños. Sua visão de mundo é marcada por uma perspectiva liberal e católica, sem nenhuma inclinação revolucionária. Ao contrário, faz parte de sua trajetória uma infame (e apoteótica) apresentação de sua trupe no Chile de Pinochet, em pleno Estádio Nacional, ainda com o sangue de milhares de opositores manchando aquele que foi o maior centro de execuções da ditadura. Da mesma forma, Chespirito demonstrava orgulho de transitar com influência pelos meios empresariais mexicanos e tratou sempre a sua obra como um produto comercial típico, do qual buscou extrair o máximo de prestígio e lucro. Quanto a essa imagem, aparentemente incompatível com as hipóteses que formularemos sobre sua obra, não custa lembrar que grandes produções artísticas extrapolam as preferências ideológicas de seus autores, levando a formas de representação complexas, irredutíveis, pois contraditórias, aos desígnios mais imediatos de quem as produz. Como observador depurado e sensível da realidade à sua volta, e com um talento de fato assombroso para a sátira social, Bolaños criou uma obra que incorpora com vigor certo espírito do tempo, incluindo o efervescente debate sobre as particularidades e potencialidades da América Latina.
Em segundo lugar, os caracteres que tentaremos desvendar não correspondem a modelos coerentemente mantidos ao longo de todos os episódios: há, também aqui, contradições e desdobramentos que revelam certa flexibilidade no tratamento das personagens, seja por necessidades narrativas, comerciais ou pelo amadurecimento que os próprios atores vão imprimindo sobre elas. O leitor deverá compreender os tipos sócio-políticos examinados a seguir não como moldes estanques (se assim fosse, a série certamente seria menos interessante), mas como uma base sociológica fundamental, ainda mais potente porque nem sempre se manifesta didaticamente para o público – didatismo que ocorre, por exemplo, em Chapolin Colorado, obra de Bolaños em que a latinidade do herói e o contraste com um rival estadunidense são demarcados explicitamente.
Comecemos, então, pelo Professor Girafales. Na leitura aqui proposta, ele representa certa tradição intelectual latino-americana. Não por acaso, algumas das principais marcas de sua personalidade são a vaidade, a presunção e a prolixidade. “Eu só me equivoquei uma vez, quando pensei que tinha me equivocado”, diz, em frase antológica, um homem “culto” e verdadeiramente convencido de sua superioridade em relação aos moradores da vila. Como não lembrar aqui de seu impagável “elogio” aos dotes artísticos de Seu Madruga, quando este dirige a peça teatral das crianças? Tal superioridade se manifesta basicamente através do vocabulário pomposo ou do mero argumento de autoridade.

Há, dessa maneira, um paralelo irônico com os padrões das elites intelectuais da América Latina do século XIX, evidente no modo como o nosso mestre Linguiça encarna os trejeitos anacrônicos de um filósofo romântico de província. Tais expoentes da sapiência pós-colonial viviam na Europa e de lá produziam suas interpretações sobre a realidade do continente, da mesma forma que o Professor Girafales não mora na vila e, ao mesmo tempo (talvez justamente por isso), não se cansa de apresentar “soluções” para os problemas enfrentados pelos moradores; soluções que são, via de regra, frustradas pela realidade local assim que aplicadas. Aturdido pelo “complexo de Nabuco” – referência ao drama do intelectual latino-americano dividido entre a “razão europeia” e a vida “selvagem e pitoresca” do seu lugar natal – Girafales sabe que a vila é um lugar de passagem, onde pode descolar um café, receber alguma lição prática do Seu Madruga ou alimentar seu enorme ego de erudito pelo contraste com a urgência de sobrevivência dos moradores que de fato a habitam.
Dona Florinda sim, é claro, vive na Vila. Muito a contragosto, mas vive. Ela é a personificação de nossas elites tradicionais, assim como ela, altamente violentas e autoritárias. Está sempre a anunciar o plano de deixar para atrás aquele lugar sem futuro, mas nunca cumpre tal promessa – talvez porque lá no fundo prefira, como muitos de sua classe, ser a rainha da gentalha a virar chacota nos salões da grã-finagem internacional. A caracterização física da personagem reforça esse descompasso, com o avental indicando seu vínculo com o trabalho doméstico e o cabelo a ser eternamente e artificialmente preparado para um dia apoteótico que nunca virá.
Num retrato preciso dessas elites, a renda e a posição social de Dona Florinda não advém do suor de seu trabalho ou de uma noção qualquer de sucesso nos termos de uma sociedade liberal. Toda a sua autoimagem de poder e superioridade baseia-se exclusivamente na pensão que recebe pelo finado marido – sim, por trás de toda jactância, ela é dependente do Estado. Quando se arrisca a empreender, tornando-se dona de restaurante, seu fracasso é avassalador. Numa alegoria hilária de nossa trajetória político-econômica, a série mostra a desastrada tentativa de transição da elite tradicional para uma burguesia moderna, evidenciando seu profundo desconhecimento e desprezo pelo público do restaurante – sempre apontado por ela como o culpado pela derrocada do negócio. Aliás, talvez ela prefira mesmo fracassar a conhecer sua clientela, pois para isso precisaria sair de sua imaginária posição de altivez e reconhecer a humanidade desse povo do qual, no fundo, ela depende. Em outras palavras, a estupidez de Dona Florinda é construir um restaurante pretensamente refinado – sem, é claro, modernizar as relações de trabalho, como o episódio da greve do Chaves exibe com didatismo – enquanto o público só deseja um bom botequim.
A história de amor entre o intelectual latino-americano (Girafales) e a elite tradicional do continente (Florinda) ocorre num interminável flerte, nunca efetivamente consumado. Os dois lados desejam o relacionamento, que se mostra socialmente conveniente para ambos. Afinal, temos aqui a antiga promessa civilizatória de que o saber acadêmico poderia atenuar a sanha predatória das elites – Florinda é violência em estado bruto! – e operar, nas tramas do poder local, uma desejada modernização das relações. Neste ensaiado casamento, o intelectual ganharia as benesses do poder econômico, ampliando seu prestígio e influência, enquanto confere a essa elite um verniz mais civilizado e erudito, o qual legitimaria, em bases menos primitivas, a sua hegemonia local. Na série (e também na realidade?) esse relacionamento carnal jamais se consuma, permanecendo num namoro pudico, reencenado mecanicamente, ad nauseum, a cada novo encontro. Talvez porque as aparências da relação sejam em si suficientes e os riscos do matrimônio sejam consideráveis: a perda da pensão, a limitação da violência como forma absoluta de controle das elites, o receio de que o saber intelectual não conseguiria dominar o ímpeto da força…
Quico, por sua vez, é o filho legítimo dessa elite tradicional e a representação dilemática do seu projeto de futuro. Tal condição permite visualizar nele os índices históricos das emergentes burguesias nacionais latino-americanas. Seus atributos principais reforçam a associação: ele é tolo, ingênuo, superprotegido, privilegiado, desprovido de ideias próprias. Educado para ser a projeção direta e absoluta da elite tradicional, Quico precisa ser lembrado pela mãe, reiteradas vezes, de que, mesmo morando ali, não faz parte da vila. Mas o menino logo esquece desse seu lócus social fundante e mistura-se de novo com as outras crianças, num ciclo contínuo de arrogância, carência e insegurança. Um dos seus bordões principais – “Gentalha, gentalha, gentalha!” – é manifestação notável da transmissão histórica dos valores de nossas elites econômicas e políticas.
O bordão é enunciado, como se sabe, logo após os tabefes que Dona Florinda desfere contra o Seu Madrugada. Como a ave que ensina seu filhote a voar, após a surra a mãe instiga o filho a reproduzir o gesto, enfatizando a dupla violência do seu ato: física, ao ecoar o tapa da mãe com um empurrão, e simbólica, ao proclamar aos berros a sua pretensa superioridade diante da escória que o cerca. A insistência no termo “gentalha” opera de fato como uma educação de classe, como quem repete a lição até decorá-la e naturalizá-la. O ritual envolve a fixação de um mantra que claramente ele (e também o Seu Madrugada) não pode esquecer, sob o risco de fragilizar todas as hierarquias presentes na vila.
Apesar disso, Quico tem um comportamento imprevisível e realmente é difícil saber se ele, como configuração em devir da classe hegemônica que representa, será um dia a cópia quase exata da mãe e cumprirá, enfim, a passagem de bastão, tal como ela deseja e prepara, ou se será uma outra coisa ainda insondável. Apesar da crise de identidade – sinalizadas no desejo de brincar em pé de igualdade com as outras crianças, tão recorrente como o prazer de ostentar a distinção dos seus brinquedos –, nos momentos de maior tensão a postura mais elementar de Quico sempre se inclina a reproduzir o padrão comportamental da mãe, incluindo aí sua violência; de modo que a série talvez sugira que, para essa burguesia emergente, o autorreconhecimento libertário como efetivo morador da vila e responsável pelo seu desenvolvimento, ou ao menos a expectativa de uma dominação menos virulenta, seja, ao fim, a bola quadrada que tantos ainda não cansaram de esperar…

Uma breve digressão. Em um episódio estão os três – Professor Girafales, Dona Florinda e Quico – comendo biscoitos na sala. Enquanto devoram vorazmente as bolachinhas, conversam sobre a miséria de Chaves, formulando hipóteses moralistas para explicar as injustiças sociais. Chaves está ao lado, observando, faminto como de costume, enquanto os três, hipócritas, acabam com os biscoitos, sem nem atinar para a sua existência. Chaves sai chorando, enquanto lá dentro a conversa continua, talvez voltando-se para outro tema sensível de nossa triste realidade. Às vezes uma boa cena vale por uma análise inteira.
Falando ainda dessas personagens vinculadas ao poder, a maior de todas (sem trocadilhos, é claro), é o Seu Barriga. Proprietário daquele mundo, isto é, autoridade que paira acima do microcosmo latino-americano, não é difícil tomá-lo como emblema dos colonialismos e imperialismos que marcam a história do continente. Do lar de nossos personagens ao comércio de Dona Florinda, ele é o verdadeiro dono de tudo. Em um episódio marcante, ele afirma que a origem de sua riqueza remete a uma aposta feita numa luta de boxe que Seu Madruga perdeu. O sentido aqui é lapidar: a base do êxito imperialista é uma lucrativa aposta no subdesenvolvimento latino-americano. Uma aposta que ele não tem cessado de ganhar. Sim, sabemos que na sequência do episódio cresce o tom emotivo e o Seu Barriga diz para o Professor Girafales (nosso símbolo de saber esclarecido, detrator das diversões populares…) que a aposta nunca existiu e seu gesto foi movido por pura benevolência. Como nenhuma das duas versões é atestável na série, não deixa de ser sintomática a nossa inclinação a acreditar cegamente na segunda…
Seja para ameaçar de despejo os inquilinos ou exercer sua caridade (outra forma de reforçar sua posição hegemônica), Seu Barriga influencia ativamente as ações que ocorrem na vila, na condição de proprietário supremo e indiscutível daquele mundo, mesmo não vivendo nele. A relação do imperialismo com as elites nacionais (Florinda) é, obviamente, amistosa, já que ela cumpre rigorosamente o pedágio que lhe cabe para viver naquele lugar que despreza, mantendo com Barriga uma relação que, na cabeça dela, seria entre iguais – mais ou menos como se o pagamento pontual do aluguel borrasse ideologicamente o desnível social entre proprietário e inquilino. Por outro lado, apesar da estabilidade do pacto social ali vigente, em que a propriedade nunca é questionada, há uma repulsa difusa a esse domínio, sobretudo pelas pancadas que o Chaves – sem querer, mas (inconscientemente?) querendo – desfere cada vez que ele adentra na vila. Essa violência do dominado é particularmente impiedosa com o Seu Barriga, fazendo dele uma espécie de bode expiatório que receberá todo tipo de impulso violento “involuntário” em suas visitas para cobrar o aluguel, satisfazendo, é claro, o tradicional gosto da audiência em ver os poderosos se dando mal, mas também estruturando a alegoria social que identificamos na série.

Numa zona intermediária entre os que exercem o poder – em diversos níveis e de variadas modalidades – e aqueles que são sufocados por ele, está Dona Clotilde. O roteiro é vago na caracterização econômica da personagem, de modo que não sabemos muito sobre a origem do seu dinheiro ou quão remediada é sua condição. Ela não atrasa o aluguel como Seu Madruga, e parece não sofrer grandes restrições materiais; por outro lado, não se vangloria de sua classe, como Dona Florinda, mantendo uma identificação muito serena enquanto moradora da vila. Mais do que isso, demonstra efetivo interesse amoroso por Seu Madruga, um direcionamento do seu desejo erótico que escandaliza Dona Florinda e abala, de certa forma, as hierarquias tão rigidamente estabelecidas na vila. A vivência aberta e desinibida de sua paixão pelo homem que representa a classe trabalhadora constitui uma afronta social, tanto por transgredir o recato imposto ao gênero feminino – sobretudo às mulheres “maduras” – como por ser, em última instância, uma traição de classe. Assumir o desejo, transgredir as fronteiras de sua classe, agir como uma mulher autossuficiente… Nem é preciso ser tão versado nas ideias de Silvia Federici para deduzirmos as raízes históricas que acionam o apelido da Bruxa do 71!
Ademais, não é casual o desdém de Seu Madruga pelas investidas fogosas de sua admiradora nada secreta, pois tal como ocorre no processo de alienação das classes trabalhadoras, sua libido está totalmente voltada para as “vizinhas” efêmeras, que vêm de fora, e não faltam episódios em que ele demonstra franco desejo afetivo por sua algoz de todos os dias, Dona Florinda. Quando o desejo não é libertário, o sonho do oprimido…
Falando mais detidamente de Seu Madruga, trata-se, como adiantamos, de um personagem ligado ao âmbito do trabalho. Por suposto, um trabalho informal, mal remunerado, muitas vezes perigoso, sempre infrutífero. É fácil encontrar memes que registram todos os numerosos e variados ofícios aos quais se dedicou o nosso sofredor Madruguinha. E mesmo espectadores mais distraídos percebem que sua recusa a celebrar a ética do trabalho como edificador da dignidade do homem tem menos a ver com a “preguiça e vagabundagem típica das classes populares” – visão de Dona Florinda e Seu Barriga – do que com uma farta experiência prática de que o sucesso financeiro está longe de ser fruto direto do esforço ou mérito pessoal. Daí a sua máxima tão poderosa: não existe trabalho ruim, o ruim é que este trabalho seja uma imposição social opressiva e seus benefícios existam para usufruto de outrem. Essa intuição política tão aguçada não levará Seu Madruga a uma tomada de consciência e a uma ação efetiva contra esse estado de coisas, mas explicará o seu comportamento malandro, a procurar brechas no sistema para sobreviver. Uma sobrevivência, afinal, tão precária que nunca lhe poupará das pancadas aleatórias da elite nacional ou da perseguição implacável do imperialismo.

Se Quico representa o devir da classe dominante, Chiquinha é, por sua vez, a encenação do destino da classe dominada. A principal diferença é que, por razões óbvias, para ela não está no horizonte seguir os passos do pai. Enquanto Quico é a reafirmação complicada da mãe, Chiquinha é a negação radical do pai e de tudo. Esperta, maliciosa, destemida, provocativa, ela é responsável pelos atos que geram instabilidade na vila, sendo um verdadeiro agente do caos. Mais do que a malandragem reiteradamente fracassada de Seu Madruga, Chiquinha consegue enfrentar Dona Florinda, encarando de frente os seus desaforos, indignada com a passividade do pai; consegue manipular Seu Barriga, demonstrando um afeto fingido por ele; faz de gato e sapato Quico e Chaves… Trata-se de uma energia revolucionária indomável e difusa, debochada e teatral. Por isso é ela, mais até do que Chaves, que mais frequentemente consegue passar ilesa pelos rebuliços da vila: quando tortas na cara, baldes de água, tinta, boladas e cacetadas afetam a todos os personagens, ela costuma se desviar das confusões que na maioria das vezes ela mesma causou. Por isso também nos solidarizamos com suas traquinagens, mesmo as aparentemente mais maldosas e gratuitas, porque partem de um profundo mal-estar pelas injustiças sofridas pelo pai e, diferente dele, o silêncio decoroso, ciente de seu lugar, nunca é para ela uma opção aceitável. Chiquinha também não aceita ser considerada pior, devido à sua condição social, do que qualquer outra pessoa da vila, demonstrando uma altivez que, por consequência, desmascara, com deboche, a arrogância de Dona Florinda. Os demais personagens têm bons motivos para temê-la, sobretudo quando ela se reconhece nos ideais feministas ou quando Dona Neves (o seu duplo) instiga uma greve no restaurante da Dona Florinda.
Fechando essa análise dos personagens principais da série, resta falar sobre Chaves. Como representante dos oprimidos, ele está num estágio de exclusão ainda mais extremo que o do subemprego. Órfão, de origem desconhecida, faminto e miserável, ele é a síntese de uma sociedade doente. Chaves recebe as pancadas de Seu Madruga – que procura alguém socialmente abaixo dele para descontar as suas frustrações – e as devolva para cima, conscientemente em Quico e inconscientemente em Seu Barriga. Não tem a rebeldia indomável e a inteligência ardilosa de Chiquinha, mas também é um agente importante da instabilidade que aciona as histórias da vila. O protagonista da série ao mesmo tempo abala o esquema alegórico das representações sociais como o completa, fazendo do seu barril-refúgio – gravado como um aleph no centro do cenário – a personificação de nossas nervuras sociais mais complexas.
Nestes 50 anos de sucesso da série, por trás do texto brilhante, do humor afiado e das atuações impecáveis, cintila uma figuração altamente crítica de nossos desacertos históricos, do que temos de mais belo, engraçado e terrível. Eis a razão maior de estarmos diante de um indispensável clássico latino-americano.
Marcelo Ferraz é professor de Teoria Literária na Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisador do CNPq. Coordenador do projeto Memorial Poético dos Anos de Chumbo. É autor dos livros Doente de Brasil, Uma casa: o tempo e Poesia e diálogos numa ilha chamada Brasil.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras