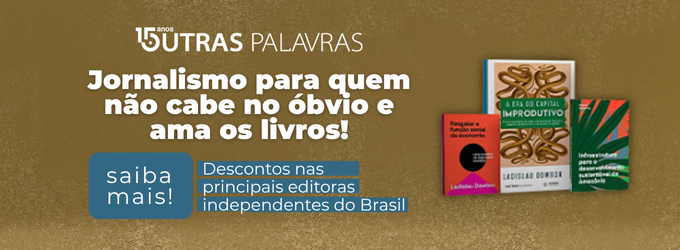A crise climática, na ótica dos pesquisadores indígenas
Diante do embaralhamento do clima, jovens indígenas adoecem mentalmente, e deixam aldeias. Toda uma cultura é ameaçada. Mas forma-se, no alto Rio Negro, uma rede cientistas, que unem saberes da floresta e antigos ensinamentos, para buscar soluções
Publicado 03/04/2025 às 16:33

Por Juliana Radler, no ISA
Eventos climáticos extremos, como dois anos consecutivos de secas recordes e de calor na Amazônia, deixam marcas. Não só nas paisagens, mas também nos corpos e subjetividades de quem vive nas florestas, cidades e comunidades que formam esse bioma.
Entender como se adaptar e como podemos reagir a este problema de escala planetária demanda habilidade de manejar a angústia e tentar impulsioná-la rumo às soluções. A impotência frente a um mundo manipulado pelo poder econômico das grandes corporações favorece o encasulamento e a desagregação, prejudicando as relações humanas e seus coletivos em tempos de inteligência artificial e solidão nas telas.
As comunidades indígenas na Amazônia, em especial os jovens, têm sofrido sérios impactos na saúde mental. Casos de depressão, suicídio, auto-mutilação e aumento do vício em drogas e álcool mostram um quadro que reflete consequências de violências históricas e atuais, acentuadas ainda mais pelo contexto da crise socioambiental.
A taxa de suicídio entre indígenas no Brasil já supera em quase três vezes a da população não indígena. A proporção destas mortes é mais elevada nos estados do Amazonas e Mato Grosso do Sul, como apontou estudo publicado na Lancet Regional Health Americas, produzido pela Fiocruz e Universidade de Harvard. No município de São Gabriel da Cachoeira (AM), considerado o mais indígena do Brasil, a Prefeitura criou um Comitê Interinstitucional para lidar com a problemática da saúde mental junto aos 23 povos indígenas da região, e em 2024 elaborou um plano municipal de prevenção ao suicídio.
Arlindo Maia (Ye´pârã, nome indígena), guardião dos saberes do grupo Oyeá, do povo Tukano, da Terra Indígena Alto Rio Negro, no Amazonas, conta que a crise ambiental foi prevista pelo seu avô, Lino Maia, nascido no Rio Papuri, entre Brasil e Colômbia. Lino era conhecedor dos lugares sagrados dos Tukano e previu que chegaria um tempo de doenças e de destruição, no qual toda a humanidade sofreria, não só os indígenas, que já tinham passado pela degradação de seus mundos com a violência dos colonizadores.

Foto: Juliana Radler/ISA
O começo deste tempo narrado pelo Seu Lino se deu em 2020, na pandemia de Covid 19, revela Arlindo, em conversa gravada na biblioteca do Instituto Socioambiental (ISA), em São Gabriel da Cachoeira, em março deste ano, sobre os impactos da crise climática.
A entrevista com o guardião dos saberes registrou orientações para um ciclo de estudos interculturais voltado para lideranças indígenas do Rio Negro sobre clima, mercado de carbono, adaptação e mitigação às mudanças do clima, em parceria com o ISA e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).
“Nessa virada do tempo, como dizia meu avô, a humanidade vai diminuir. Teremos muitas mortes coletivas devido à vingança da natureza. Estamos vivendo já as consequências do que os antigos previam. Por um lado, me sinto privilegiado por presenciar e atestar o que eles falavam há anos atrás”, ressalta.
Para a humanidade viver bem na natureza, os pajés do tempo antigo sabiam negociar com os waimahsã, seres às vezes traiçoeiros, que têm um certo ciúme dos humanos, conta Arlindo. Para resolver problemas ambientais, como, por exemplo, falta de chuva ou escassez de peixe, os pajés sabiam fórmulas sagradas para apaziguar a situação e retomar a harmonia, curando o mundo. Em Tukano, esse conjunto de práticas é chamado de bahsese e constitui um amplo e complexo conhecimento sobre a saúde do corpo e do território.
“Em seus benzimentos, eles faziam assopro de conciliação buscando sempre harmonia com a natureza, onde coabitam muitos seres e donos dos lugares. Os não indígenas provocam a fúria e a guerra com estes seres (waimahsã) porque constroem onde não pode, exploram a terra com mineração, barragens e outros empreendimentos que dizem ser para o progresso. Não sou contra o progresso, mas ele não pode acontecer distanciado da cultura, visando o poder e o dinheiro. A palavra poder é que começa a causar o problema”, constata.
Embaralhamento
Na língua Tukano, um dos quatro idiomas indígenas co-oficiais em São Gabriel da Cachoeira, é difícil traduzir a expressão mudanças climáticas. No pensamento de Arlindo, o termo não transmite o que estamos vivendo com o colapso dos ecossistemas. Su´riásche, que em Tukano significa embaralhamento, é o que mais se aproxima do que observamos estar ocorrendo com a natureza, na vivência de Arlindo.
“Estamos sem ordem do clima, do tempo, das estações. Vivemos em um embaralhamento e não podemos mais prever os ciclos naturais”. Este distúrbio retira o encadeamento natural dos ciclos, o que acarreta males em nós seres humanos, explica o guardião.
Assim, ficamos também confusos e perturbados, sem orientação. “Temos que pensar no valor das palavras, porque elas têm muito poder em nós. Nós somos Pamurimasã, que significa gente do surgimento. Neste surgimento existe diversidade e muitas línguas são faladas. E precisamos entender esta diversidade para sobreviver”.
Para os Tukano, nos ensina Arlindo, o clima é observado nas constelações. No céu escuro estrelado está o caminho dos ciclos climáticos que regem a vida na Terra. “As constelações não mudaram e elas ainda nos apontam o caminho. Mas, nós, viventes, causamos este problema de embaralhamento do clima”.
Crisálida
O debate sobre o enfrentamento às mudanças climáticas deve passar pelo fortalecimento da educação indígena, da cultura, da saúde e dos saberes locais sobre o território. Arlindo brinca que a cultura do seu povo está em estágio de “crisalidez”. Esse neologismo expressa um estado de crisálida, quando o ser não se move porque está se transformando em algo novo. Assim ele vê sua cultura nos tempos atuais.
Por isso, Arlindo enfatiza a urgência de criar alternativas que garantam a permanência dos jovens no território, assegurando a continuidade das trocas geracionais e a transmissão dos conhecimentos. Nos últimos anos, a saída de jovens das Terras Indígenas do Rio Negro aumentou fortemente com o vestibular indígena e as cotas nas universidades, como UnB, Unicamp e UFSCAR.
Sem diminuir a importância e a conquista da política de cotas indígenas nas universidades, o que se observa é que é necessário também ter alternativas de formação para quem está no território e almeja estudar em contexto intercultural, fazendo articulações entre saberes indígenas e não indígenas.
Assim, a proposta do ICIPRN – Instituto de Conhecimentos Indígenas e Pesquisa do Rio Negro, que é registrada no Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA Wasu) do Rio Negro, principal documento que indica formulações de políticas e projetos para os territórios dos povos rionegrinos, deve ser priorizada como parte fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas. Além disso, iniciativas como o Fundo Indígena do Rio Negro, que fomenta a sociobioeconomia e atividades da cultura indígena, na visão de Arlindo, precisam ser fortalecidas para que a cultura e os saberes indígenas sobrevivam à virada dos tempos.
Rede de pesquisadores indígenas
Mauro Pedrosa, do povo Tukano, é agente indígena de manejo ambiental (AIMA) e integra uma rede que há 20 anos atua na Bacia do Rio Negro fazendo pesquisas e observações sobre o meio ambiente e a cultura. Os registros são feitos com tablets e diários, onde os AIMAs fazem anotações e descrevem observações relacionadas às suas comunidades, vivências cotidianas e relação com a floresta e o rio.

Foto: Juliana Radler/ISA
Em sua rotina de trabalho, Mauro também lê os diários dos outros pesquisadores indígenas e apoia na organização e gestão do conhecimento gerado por essa rede. Tem lhe chamado a atenção as narrativas sobre escassez de peixe, dificuldades de trabalho na roça devido ao calor, perda de cultivos por conta do sol escaldante e de desequilíbrios na fauna, como ataques de caititus (porcos do mato) nas roças de mandioca, assim como apodrecimento de manivas.
“Acredito que as futuras gerações não terão peixe para comer no Rio Tiquié se continuar deste jeito. Os AIMAs contam que os homens estão mergulhando para pegar peixe porque não conseguem pescar. Pari-Cachoeira, por exemplo, não tem mais nada de peixe”, informa Mauro, referindo-se ao segundo maior distrito da TI Alto Rio Negro, no Alto Rio Tiquié, próximo à fronteira com a Colômbia.
Quando ele era criança, recorda, o tempo não era como agora, tão quente e instável. Mauro, que tem 38 anos, lembra que antigamente era possível fazer previsões sobre os ciclos anuais, assim como os períodos de seca e cheia do rio. Ele conta que os AIMAs também têm relatado aumento de temporais, com muitos trovões e raios, mas com menos chuva do que antes.
“Fico preocupado, porque os nossos conhecedores estão morrendo e com eles morrem os conhecimentos. Sem eles, vamos ter mais doenças nas comunidades porque vamos ficar desprotegidos. Por isso é muito importante essas oficinas dos AIMAs com repasse dos conhecimentos dos antigos para os mais jovens. Isso é que precisamos, pois quando o conhecedor está forte na comunidade, ele protege e cuida da comunidade”, conclui.
OMS recomenda prioridade à saúde mental
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma análise de políticas públicas durante a Cúpula Ambiental Estocolmo+50 indicando que o apoio à saúde mental seja incluído nas respostas nacionais às mudanças climáticas. O próprio Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reconheceu que o aumento acelerado das mudanças climáticas constitui grave ameaça à saúde mental e ao bem estar psicossocial, sobretudo, das populações mais vulneráveis, como os indígenas.
A médica espanhola Maria Neira, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS, enfatizou que “os impactos das mudanças climáticas fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano, e há muito pouco apoio dedicado à saúde mental disponível para as pessoas e comunidades que lidam com perigos relacionados ao clima e riscos de longo prazo”.
A OMS destacou que alguns países vêm construindo um caminho a ser seguido, dando o exemplo das Filipinas, que reconstruíram e melhoraram os serviços de saúde mental após o tufão Haiyan em 2013, um dos mais potentes ciclones tropicais já registrados na história.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras