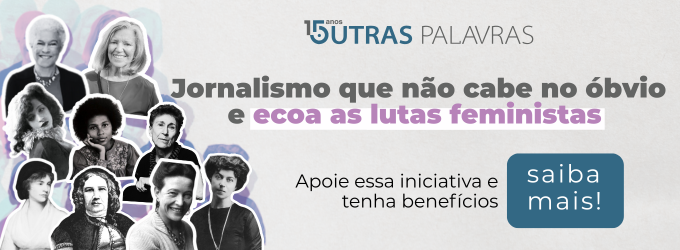Saúde mental: pensar os corpos
Convite à reflexão teórica sobre o vínculo da atenção psicossocial com o corpo – e não apenas a mente. Após massacre no Rio, basta oferecer atendimento psicológico às famílias? Reconhecer pessoas como sujeitos exige mudanças estruturais, não só terapia
Publicado 17/11/2025 às 09:41 - Atualizado 17/12/2025 às 18:28

Por Cláudia Braga, para sua coluna em Outra Saúde
Às vezes é preciso dizer o óbvio: leis e políticas públicas em saúde mental precisam responder às necessidades das pessoas e de comunidades. E as necessidades das pessoas – porque apresentam sofrimentos e demandas, têm histórias pessoais e coletivas, sonham e vivem em múltiplos territórios compartilhados de relações, valores e culturas – precisam ser compreendidas no contexto e confronto com o corpo social. Ou seja, o desafio na proposição de boas leis e na criação de boas políticas públicas em saúde mental orientadas para a emancipação é o de, simultaneamente, responder às necessidades singulares e locais das pessoas em projetos de transformação social e comunitária.
Ocorre que tal perspectiva de formulação (e, depois, de implementação de leis e políticas públicas) requer considerar dois, entre outros pontos. Primeiro, olhar as pessoas de maneira não abstrata: é preciso conhecer as necessidades reais das pessoas na relação com o corpo social, reconhecendo também os conflitos que se colocam e que geram desigualdades. E, para isso, é preciso ainda algo anterior: reconhecer a existência da outra pessoa como um outro – corpo em relação com outros corpos, como sujeito de direitos.
Não é incomum que propostas de lei e de políticas públicas, mesmo bem-intencionadas, escorreguem no primeiro ponto; tantas outras sequer alcançam – ou almejam alcançar – o segundo.
É por isso que interessa, em saúde mental, pensar a relação com o corpo.
Acesse aqui os textos da coluna de Cláudia Braga em Outra Saúde
Corpo-instituição
O conceito de corpo pode ser tomado como chave de compreensão de diversos momentos centrais da perspectiva teórico-prática da desinstitucionalização. Três interessam aqui.
Primeiro, a ideia de corpo-instituição, que exprime o corpo objetivado em uma doença e objetificado nas próprias regras da instituição psiquiátrica. E como isso se dá?
No texto “Transformação institucional e objetivo comum”, que compõe o célebre livro A instituição negada organizado por Franco Basaglia, a socióloga Franca Ongaro Basaglia explica que, uma vez que a pessoa recebe um diagnóstico, este assume o significado de um juízo de valor. Destituída de seu próprio valor, todos os gestos da pessoa passam a ser lidos e explicados em termos de uma doença atribuída – ou seja, na relação com outros, a pessoa passa a ser objetivada em uma doença, o que justifica na instituição psiquiátrica, “no plano prático-institucional, a relação objetal que se estabelece”. Progressivamente, pelo poder institucionalizante operado no interior da instituição e sendo-lhe negado o próprio corpo, a pessoa passa a ser ver “obrigada a incorporar a instituição como única possibilidade de possuir um corpo”, em um processo de objetificação, como assinala Franco Basaglia em Corpo e Instituição.
Basaglia vai além e recorda que esse “processo de coisificação não pode se dar em mão única”: há também o corpo do terapeuta, que acaba se anulando como um dos polos da relação ao anular o outro. Ora, um encontro real entre duas pessoas pressupõe a reciprocidade da relação. No entanto, nesse processo de coisificação do outro, a troca não existe, e a objetificação do outro acaba por fixar também o corpo e o papel do terapeuta. Daí que um processo de libertação exige a “libertação de todos”.
Corpo sujeito-cidadão
É a partir da reconstrução processual da liberdade de todos em relação aos papeis antes fixados – com o estabelecimento de encontros reais (porque entre duas pessoas) e da restituição de valor social do outro, negando a instituição – que tem lugar um segundo modo de relação com o corpo: o de reapropriar-se do próprio corpo.
Negar a instituição, como indica Franco Rotelli em “A instituição inventada“, significa negar “o conjunto de aparatos científicos, legislativos, administrativos, de códigos de referência cultural e de relações de poder estruturados em torno de um objeto bem preciso: ‘a doença’”. Finda a objetivação do outro em uma doença e aberta a possibilidade de um encontro entre dois corpos em relação – o do terapeuta e o da pessoa –, o outro pode existir e ser reconhecido como sujeito de direitos. Nesse processo de reapropriação do próprio corpo, tem lugar a restituição do direito à expressão da própria subjetividade, à própria história, e a tanto mais que diz respeito a pertencer e existir na vida compartilhada enquanto sujeito singular.
Em continuidade a isto, a terceira ideia de corpo em relação envolve a compreensão da “existência-sofrimento” na relação com o “corpo social”, tal como formulada por Franco Rotelli. Aqui, além do que já foi apontado, é preciso recordar que, nos territórios e espaços comuns da vida, a complexidade das histórias de vida – de cada história de vida — se constituí na relação com contextos singulares: contextos de relações (e cada relação com tantas outras histórias), de oportunidades oferecidas ou negadas, de serviços e recursos disponibilizados, de atravessamentos e marcadores sociais diversos que produzem desigualdades, e tanto mais.
E é nesse cenário vivo, reconhecendo a complexidade da experiência de existência de cada pessoa na relação com o corpo social, que se busca produzir, nexos, redes e percursos de cidadania. É também nesse cenário – complexo de trabalhar porque nunca estável, mas real – que se coloca o desafio de um agir prático voltado à emancipação pessoal e coletiva.
E as leis e políticas públicas onde ficam nessa discussão?
Tutela como expropriação dos corpos
Pois bem, as que não reconhecem a existência da pessoa como um outro, partindo de sua objetivação em uma doença e criando respostas baseadas nessa relação, infelizmente ainda são numerosas. E volta e meia tem-se notícias de iniciativas que repropõem, inclusive, respostas claramente asilares, vide os projetos de leis que propõem internação em comunidades terapêuticas.
A ideia de corpo-instituição segue, assim, sendo reproduzida de maneira mais ou menos escancarada e propostas do tipo costumam reproduzir uma forma de tutela que Ongaro Basaglia definiu em seu livro Saúde/doença como “tutela como expropriação dos corpos”, em que prevalece a “defesa da sociedade” a custo da “eliminação de quem é tutelado”.
Superar a tutela como invalidação assistida para, de fato, proteger e promover direitos
Há outras tantas leis e políticas que reproduzem o que a autora denomina de “tutela como invalidação assistida” – e essas merecem atenção porque, ao mesmo tempo em que elas se expressam como assistência por parte do Estado enquanto conquista dos cidadãos desse direito, a resposta produzida “não ataca o problema de fundo da desigualdade social e, assim, a confirma, através da invalidação do assistido”.
E como isso ocorre? Pela racionalização dos conflitos em termos médicos – muitas vezes travestidos de vocabulário em saúde mental . Nessa forma de tutela o desafio consiste no fato de problemas originados na desigualdade são organizados segundo uma lógica problema-solução, na qual a resposta é alguma forma já constituída como prestação de assistência. Assim, a “cultura médica continua a garantir que a expressão subjetiva das necessidades, do sofrimento e do problema” seja endereçada “aos canais de prestação existentes, que continuam a garantir que a demanda seja sempre aquela de um tratamento terapêutico que organiza em termos médicos o conflito”.
Ora, para quantos e quantos problemas vividos por pessoas e comunidades que têm como fundo a desigualdade social, a resposta que leis e políticas têm produzido é, de modo amplo, a de mais acesso a serviços de saúde mental e basta? Quantos e quantos conflitos sociais – incluindo deterioração de relações de trabalho, desinvestimento em políticas de educação, de habitação, de cultura e tantas outras, reprodução de preconceitos de classe, de raça, de gênero e outros – são apaziguados com a resposta de “tratamento terapêutico”, mas usando a linguagem da atenção psicossocial? E, com isso, quantas e quantas manifestações e gestos que deveriam escancarar o conflito para que respostas reais para os problemas fossem produzidas são sufocadas?
O acesso a serviços de saúde mental é, evidentemente, um direito conquistado e que precisa estar disponível para exercício para o que deles precisam fruir. Mas, considerando em especial a enorme profusão de projetos de leis que fazem uso da saúde mental e das conquistas da reforma psiquiátrica como amplo guarda-chuva para cobrir intenções variadas, em um pente fino, quantas propostas seriam identificadas como de mera reprodução de invalidação assistida, sem em nada alterar a realidade e responder às necessidades das pessoas e transformar as comunidades?
Ongaro Basaglia ainda fala sobre uma terceira forma de tutela: a tutela dos direitos. Sendo esse o horizonte para formular leis e políticas públicas, aqui se trata da relação de “tutela de cada minoria que necessita de apoio (…) como projeto para promoção de capacidade, autonomia, responsabilidade no que diz respeito aos novos direitos adquiridos, mas também os não conquistados”. E direitos não se conquistam individualmente, mas em comunidade.
Sobre corpos no chão
Não é possível encerrar o texto sem recordar o que ocorreu há menos de um mês e já não se vê mais em lugar algum: no dia 28 de outubro de 2025 mais de cem pessoas foram mortas no massacre que ocorreu no Rio de Janeiro pelas forças do Estado.
Pessoas com nome e histórias reduzidas a corpos estendidos de modo enfileirados no chão. Pessoas com o direito à vida negado.
É muito provável que as pessoas impactadas por tal barbárie, como as mães dessas pessoas com nome e histórias, os que vivem na comunidade afetada e também os trabalhadores que responderam ao mandato ético de reportar o horror, de escutar os depoimentos e de acolher os sofrimentos, precisam agora ser cuidados.
A pergunta que se impõe é: como responder a essa necessidade (que também é um direito) sem ignorar os gritantes conflitos da situação? Porque o que é preciso, no fim, é que uma situação como essa nunca mais ocorra. Dito de outra maneira: é preciso atenção para que a resposta não se restrinja ao que já está formulado como oferta de assistência (ou mesmo nos termos já constituídos de atenção em saúde mental) porque tal oferta seria nada mudar – e as coisas precisam mudar.
Como fazer isso, reconhecendo a existência-sofrimento das pessoas na relação com o corpo social e a necessidade de respostas a essas existências, é tarefa em aberto. Um bom caminho é perguntar para quem tem mais a dizer e respeitar a história de quem sabe organizar respostas sem nunca deixar apaziguar o conflito, como as Mães de Manguinhos e as Mães de Maio.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.