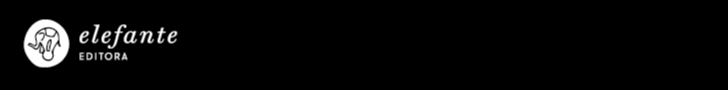Os sistemas universais na encruzilhada
Ainda há espaço para a garantia do direito à saúde no capitalismo hoje?
Publicado 13/07/2018 às 14:19 - Atualizado 03/04/2019 às 11:46

Ato em defesa da saúde pública realizado em agosto de 2017 em Planaltina (DF) Crédito: Mídia Ninja
Por Maíra Mathias, na revista Poli
13 de julho de 2018
Em 5 de outubro de 2018, a grande ‘ousadia’ brasileira completa 30 anos. Do lado de baixo da linha do Equador, e em plena guinada neoliberal, o país criou um sistema de saúde universal, mirando experiências anteriores de nações ricas, como o Reino Unido. Olhando tudo o que se passou (e o que nunca chegou a acontecer), a reportagem que fecha a série especial sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) questiona se as bases que deram sustentação a esses sistemas por lá, naquela época, estavam presentes por aqui nos anos 1980. E, até que ponto hoje é possível, ao Norte e ao Sul, seguir perseguindo o horizonte do Estado de bem-estar social.
Nas origens
O ponto de partida desta história é o final da Segunda Guerra Mundial. A Europa, devastada, é reerguida com investimentos norte-americanos. Essa reconstrução vai se provar um ótimo negócio porque, a um só tempo, canaliza o excesso de capitais que os Estados Unidos produziram a partir do esforço de guerra e permite ao país fortalecer sua liderança no continente, servindo de couraça contra a outra potência que saiu fortalecida do conflito: a União Soviética. “Blindar a Europa significou construir condições capitalistas que pudessem se contrapor a essa outra perspectiva de organização social, antagônica ao capitalismo, que também teve a capacidade de livrar o continente do nazismo”, situa Marcela Pronko, professora-pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz).
Não menos importante foi a organização dos trabalhadores europeus e a agitação política que vinha atravessando o continente ao longo do século 19. Revoluções populares e greves pipocaram em vários cantos: Alemanha, Hungria, Itália, Inglaterra… Além disso, os Estados europeus se recompuseram em uma situação rara no capitalismo: o pleno emprego. O que conhecemos como Estado de bem-estar social é a soma destes e outros fatores. Ao ampliar e universalizar direitos sociais, beneficiou os trabalhadores. Ao mesmo tempo, a organização de sistemas públicos em áreas como a saúde atendia aos interesses da população, mas também de empregadores, que mantinham a força de trabalho saudável, em condições de produzir. E, do lado dos empresários, o ‘ganha-ganha’ também tinha a ver com o incentivo a mercados internos que sustentaram o consumo dos produtos da indústria, como eletrodomésticos e veículos. “O Estado de bem-estar também foi um agente dinamizador do capitalismo, a partir da ‘democratização’ do consumo de mercadorias”, acrescenta Marcela. E resume: “O esforço de consolidação do bloco capitalista se desenvolveu pela promoção, na Europa, de formas de regulação que permitiram uma convivência pacífica entre capital e trabalho”.
Mas enquanto sistemas universais de saúde, educação, previdência e leis trabalhistas mais justas eram criadas por lá, esses mesmos países ainda mantinham relações de dominação colonial com nações da África e da Ásia, quadro que só mudou na década de 1960. Além delas, os chamados países periféricos, como os que se situam na América Central e na América do Sul – incluindo o Brasil –, não por acaso ex-colônias, também cumpriam o seu papel no script. Forneciam matérias-primas e mão de obra barata, mas também, nos anos 1960 e 70, passaram pelo chamado ciclo de desenvolvimento fomentado por investimentos estrangeiros e empréstimos concedidos pelo sistema financeiro e organismos internacionais. “Funciona durante um tempo, mas o ciclo se esgota produzindo na década seguinte a crise da dívida. Até hoje, o endividamento é uma enorme barreira, de modo que não se tratou de um ‘desenvolvimento’ com algum grau de autonomia. Pelo contrário. E, a partir dos 1980, a liberalização dos mercados vai aprofundar a inserção subordinada desses países no mundo”, nota Marcela.
Ao Sul da linha do Equador

Em 2016, manifestantes protestam em frente ao prédio do Ministério da Saúde, em Brasília Crédito: Mídia Ninja
No Brasil, essa foi uma época marcada pelo desafio de transformar um país profundamente desigual, mergulhado num contexto autoritário. O movimento que ficou conhecido como Reforma Sanitária se engajou nas discussões. Partindo de experiências nos serviços de saúde, que já mostravam resultados positivos, e olhando para os sistemas nacionais da Europa, públicos e universais, propôs a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas a ideia não era parar por aí. “O SUS foi pensado no bojo de um projeto amplo de transformações na sociedade brasileira que poderíamos chamar, genericamente, de reforma social – em que a saúde estaria articulada à reforma urbana, à reforma agrária, à reforma universitária, à reforma tributária…”, enumera Jairnilson Paim, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA).
No horizonte dos militantes da Reforma Sanitária, estava a superação da ditadura. E parte do movimento apostou que, de maneira progressiva, a criação de uma via por dentro do Estado poderia desembocar num ‘socialismo democrático’. “Era uma proposta muito ampla de mudanças da sociedade que iam além do Estado de bem-estar social. No nosso caso, iríamos além da socialdemocracia”, explica Jairnilson.
Mas o que era o socialismo democrático? Em resumo, era a tentativa de promover uma experiência distinta daqueles países que optaram pelo socialismo a partir de 1917, que haviam passado por um processo de crescente autoritarismo e burocratização. “Acreditava-se que a democracia não era uma tática nem uma mera estratégia, mas estava vinculada ao socialismo. Não poderia haver socialismo sem democracia. Nem uma democracia plena sem o socialismo”, define o professor. “Apostou-se na ideia de reformas democráticas pela via institucional. E que o fortalecimento de políticas públicas, como o SUS, ampliaria o espaço democrático”, completa Áquilas Mendes, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Mas, segundo ele, já havia, naquela época, quem apontasse os limites da atuação por dentro do Estado no capitalismo e do seu papel específico nos países da periferia do sistema.
“No plano internacional, já havia nos anos 1970 um grupo de marxistas vinculados à chamada escola da derivação que defendiam que, no capitalismo, o movimento do capital não é enfrentado pelo Estado, mas reforçado por ele. O Estado usa as próprias forças e as forças que nele gravitam, usa a institucionalidade, via políticas publicas, segundo a lógica da valorização do capital. O que, é claro, coloca limites para uma atuação contra o capitalismo por dentro do Estado”, diz.
Já no plano nacional, completa Áquilas, autores como Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior apontavam para as engrenagens do subdesenvolvimento e para como o Estado acabava servindo à ‘exportação’ de riquezas. “No caso do Brasil, trata-se de um Estado construído sob bases escravocratas e patrimonialistas, que dá força ao movimento do capital para que os recursos sejam emitidos para fora. Por ser completamente atrelada aos interesses do capital exterior, nossa burguesia vai construir um Estado igualmente atrelado, seja na capacidade de financiamento público, seja na formulação das políticas”, diz Áquilas. E completa: “Nesses 30 anos de SUS, o que a gente assistiu foi justamente à fragilidade financeira do fundo público, a insuficiência dos recursos, o baixo volume de gastos e, desde sua criação, uma situação contemporânea mais desafiadora: um Estado capitalista sem praticamente o menor espaço de disputa no interior dele”.
Lá e cá
A chamada ‘Constituição Cidadã’ de 1988, na qual o SUS se inscreve como uma das grandes conquistas, chegou num momento bastante contraditório. Por aqui, a Carta coroou a reabertura democrática, iniciada três anos antes, em meio à ebulição da mobilização social e da organização popular. Mas as inovações do texto constitucional vão na contramão do neoliberalismo econômico que já andava a passos largos no mundo, e também na América Latina. “O momento em que o Brasil atinge essa conquista se revela contrário àquilo que está acontecendo na própria região. É como se a Constituição marcasse o ponto alto imediatamente anterior à queda, ao arrefecimento das lutas e aos avanços da própria burguesia brasileira que, logo, começa a pressionar pela mercantilização do sistema”, reflete Marcela.
A sanitarista Sonia Fleury explica que o SUS enfrentou no nascedouro um contexto com muitas barreiras à universalização. No final dos anos 1980, diz, o setor da saúde já havia passado por transformações e atingido um grau de mercantilização e densidade tecnológica em tudo distintos do momento anterior, quando foram criados os sistemas universais de saúde europeus. Mas para ela, três diferenças entre cá e lá são fundamentais. A primeira delas é a dinâmica estabelecida entre o setor público e o setor privado. “A relação público-privada sempre existiu, mas quem se beneficia com isso? Pode ser o público ou o privado”, diz, dando como exemplo a atuação dos médicos generalistas no NHS, o sistema nacional de saúde dos três países do Reino Unido. Esses profissionais autônomos atuam em sinergia com os princípios do sistema, mesmo não sendo servidores públicos. “Aqui essa relação não foi regulada e a tendência tem sido favorecer o privado”, diz. Além disso, naquele momento, o capital se imiscuiu nas áreas sociais, como saúde e educação, cobiçando os recursos destinados a serviços antes prestados pelo Estado diretamente à população. “O fundo público passa a ser alvo de uma disputa”, explica.
Na América Latina, observa Sonia, há também uma tensão entre as políticas públicas universais e aquelas conhecidas como focalizadas, por mirarem uma parcela da população, geralmente a mais pobre. “No caso da saúde havia duas tendências nesses sistemas de bem-estar tardios, de sociedades com democracias retardatárias e economias emergentes”, diz. E dá como exemplo o Bolsa Família, que, segundo ela, pode ser parte de um sistema que visa universalizar direitos ou pode ser um mecanismo de produção de consumidores individuais para o mercado. “Essa tensão é própria do nosso sistema, que vai trabalhar com uma população que não está incluída nem no mercado. E, portanto, isso vai se refletir no formato do Estado de bem-estar social”, afirma. E completa: “Essa tensão entre os incluídos e os excluídos, entre as políticas universais e as políticas focalizadas e como isso vai ser resolvido – se pró-mercado ou pró-direitos e cidadania – depende da cada país e das forças sociais. Na América Latina são várias possibilidades”.
Marcela concorda que nos países latino-americanos, formataram-se arranjos capazes de alargar ou encurtar o espaço público, a partir da maior ou menor pressão popular. Mas, para ela, em nenhum dos casos houve algo como o Estado de bem-estar social. “O Estado de bem-estar é um fato histórico muito particular, que só foi possível durante um breve período de tempo em alguns países do capitalismo central, precisamente pela condição destes países de extrair sobretrabalho não só de seus trabalhadores mas também da mão de obra da periferia do capitalismo, através de diversas formas de subordinação”, afirma. E sentencia: “Podem acontecer arranjos com algumas semelhanças, mas o Estado de bem-estar é irreproduzível”.
Marcela dá o exemplo do Uruguai, que construiu um sistema público de educação sem paralelo na América Latina. Mas, ao mesmo tempo, até dez anos atrás os serviços públicos de saúde eram destinados aos indigentes. “E isso tem a ver com as lutas que se desenvolveram lá, que serviram para estruturar um sistema sólido de educação, que até hoje resiste aos embates da privatização, mas não se traduziram de modo automático no alargamento de direitos para todos os setores da vida social”, explica.
E hoje?
Mas as coisas não são mais as mesmas também naqueles países que implantaram plenamente o Estado de bem-estar social. Tudo começa a mudar no final dos anos 1970, com a crise. O conjunto de leis e direitos que garantiam melhores condições de vida aos trabalhadores começa a ser enxergado como a principal barreira para a recuperação da economia. A trégua acaba. É o início do neoliberalismo que, segundo Marcela, tem seu laboratório justamente na América Latina, em contextos autoritários, nos quais a quebra da resistência dos trabalhadores acontece pela repressão direta, como nas ditaduras militares de Argentina, Chile e Uruguai. Essas experiências seguem para países em contextos não propriamente repressivos, mas onde há um desbaratamento da organização trabalhista. Nos anos 1980, com a vitória eleitoral de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e de Ronald Reagan, nos EUA, duas categorias importantes – os mineiros e os controladores de voo – decretam greves e vão ser derrotadas por estes governos, servindo de exemplo e arauto destes novos tempos.
Os entrevistados da Poli afirmam que a chave para entender a transição está na forma de acumulação de riquezas, que mudou. Crescem o espaço e a importância das finanças em relação à produção de produtos, como carros e geladeiras. Mais do que isso, explica Jairnilson, as duas coisas são inseparáveis: “Não dá mais para distinguir claramente o que são as finanças do que é base produtiva de equipamentos, medicamentos, automóveis, etc. E, com isso, há uma dificuldade maior do ponto de vista da própria ação do Estado. Quando se tenta regular de alguma maneira, há muita resistência. Tivemos um exemplo recente, quando Dilma Rousseff forçou uma baixa nos juros [em 2012]. Muito possivelmente foi a partir daí que ela cavou sua derrota. Dilma supunha que havia uma diferença entre os interesses da Fiesp [Federação das Indústrias de São Paulo] e os interesses dos bancos quando, na realidade, tanto as empresas industriais quanto as comerciais já tinham sido financeirizadas. Ainda se imaginava que havia um capital ‘bom’ e um capital ‘ruim’. Mas a financeirização já invadiu todos os espaços, inclusive a saúde”, diz.
E, com isso, os sistemas universais públicos perderam espaço. “O capital financeiro não tem interesse na saúde das pessoas como tinha o capital industrial, que precisava do trabalhador rígido. O trabalho está cada vez mais flexível”, nota Sonia, em referência às variadas formas de contratação vigentes, que vêm substituindo o vínculo direto entre trabalhador e empresa. “Hoje basta uma saúde mínima, que sirva para que esse exército industrial de reserva se mantenha vivo, e uma educação que garanta um patamar de conhecimentos básicos para que os trabalhadores assumam postos quando forem solicitados. E o mercado se encarrega do resto”, descreve Marcela.
No “capitalismo da barbárie”, caracteriza Áquilas, o pêndulo se volta contra os trabalhadores de muitas formas, seja através de contrarreformas, como a trabalhista, seja a partir da crescente impermeabilização do Estado às demandas populares. “O Estado capitalista contemporâneo opera para segurar a crise do capital e já não cabem mais ideias como ‘direitos’. Hoje o crescimento se dá pelo capital financeiro e, portanto, a lógica não é usar o fundo público para políticas sociais, pelo contrário. Sistemas universais, como o de saúde, não cumprem mais o papel que cumpriam no capitalismo do período 1945-75”, observa.
É comum ouvir que essa transformação do Estado aconteceu para reduzi-lo ao tamanho mínimo necessário. Mas as coisas são um pouco mais complexas, frisa Marcela. “Hoje se fala muito no processo de desresponsabilização do Estado em relação às políticas sociais quando, na verdade, o que aconteceu foi uma reconfiguração da relação entre Estado e sociedade, em que o primeiro passa a ter um papel de retaguarda, garantindo financiamento público para a oferta privada desses, agora, serviços mercantilizados”, explica.
Novo papel do fundo público
Os recursos públicos, portanto, também cumprem um novo papel neste nada admirável mundo novo. Segundo relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado em abril, o endividamento dos países bateu recorde, e já supera (e muito) o patamar verificado no ápice da crise econômica mundial de 2008. Nos países desenvolvidos, está em 105% do PIB, nível mais elevado desde o fim da Segunda Guerra. Nos países periféricos, alcançou 50% – algo inédito desde a crise da dívida dos anos 80. “Temos uma situação extremamente adversa, não há dúvida. O Estado deixou de ser um arrecadador, que poderia redistribuir, para ser um devedor, que canaliza o dinheiro do povo de cada nação para o capitalismo financeiro internacional através das dívidas. Todos os Estados estão endividados”, ressalta Sonia.
Em 2017, a Auditoria Cidadã da Dívida calculou que nada menos do que 39% do orçamento da União foram destinados para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública no Brasil. Já a saúde levou apenas 4%. “A história do subfinanciamento do SUS pode ser contada através de números e dados, mas também pode ser contada a partir do seu sentido. E o sentido atual é a inversão do papel do fundo público”, diz Áquilas.
A Emenda Constitucional (EC) 95, aprovada no fim de 2016, exemplifica o coroamento desse processo ao impor um teto para as chamadas despesas primárias, como saúde, e não falar em nenhum limite para as despesas financeiras, nas quais se incluem a dívida, mas também isenções para a contratação de planos de saúde, por exemplo. “É a total inversão do sentido original do fundo público na perspectiva de Estado que a Reforma Sanitária apostou”, afirma.
A tendência por aqui vai ser, cada vez mais, diminuir o gasto público e aumentar o gasto privado em saúde, garante. Segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), com dados de 2015, o Brasil gasta 7,7% do seu orçamento geral com saúde. A taxa é inferior à média mundial, de 9,9%, e mesmo ao gasto nas Américas (12%) e no Sudeste asiático (8,5%), só superando a média africana, de 6,9%. E, ainda assim, 17 países africanos destinam mais dinheiro público para a saúde do que nós. Entre eles estão Madagascar (15%), Suazilândia (14,9%) e África do Sul (14,1%). Mas não para por aí: apenas cinco países no continente americano gastam menos do que o Brasil: Barbados, Grenada, São Cristovão e Nevis, Haiti e Venezuela.
Já em relação ao gasto privado, ou seja, o desembolso direto feito por indivíduos e famílias, o Brasil vai para o topo do ranking. Apenas quatro países no mundo contam com índices superiores ao brasileiro: Geórgia, Nicarágua, Nepal e Egito. Por aqui, 25% das famílias destinam mais de 10% do seu orçamento doméstico para a saúde. No mundo, esse nível de gasto só é observado em 11,7% das famílias (na Europa, em menos de 7%). E uma parcela de 3,5% da população brasileira é obrigada a gastar ainda mais: a saúde consome inacreditáveis 25% de seu orçamento.
Em países com sistemas universais de saúde consolidados, aponta Áquilas, também há redução do gasto público e, em paralelo, privatização por dentro. “Há uma relação cada vez mais forte com o setor privado, que faz com que modelos de atenção, formas de gestão e alocação de recursos estejam em sintonia com a expansão e a valorização do capital. O exemplo mais claro é o processo de mercantilização do NHS inglês”, diz. O sistema universal de saúde mais conhecido do mundo completa 70 anos em julho deste ano em meio a uma crise que, segundo especialistas, começou na década de 90 e se acirrou, em 2010, com a crise econômica.
Por um lado, reformas foram abrindo mais espaço para o setor privado. A lista de hospitais passou a incluir, necessariamente, um prestador privado em 2012. E, antes, no governo trabalhista de Tony Blair, ficou decidido que se hospitais públicos precisassem construir uma nova ala ou novo prédio, por exemplo, teriam que fazer parcerias público-privadas. Os consórcios de investidores, que normalmente incluem bancos e financeiras, emprestam os recursos sob a condição de que as unidades públicas paguem um percentual da receita obtida ao longo dos próximos 20, 25 ou até 30 anos. Já em termos de financiamento, como parte do novo regime de austeridade, houve uma redução e, em 2010, o gasto público em saúde retornou ao patamar de dez anos antes, quando representava 79% do total de recursos do setor. Fechamento de leitos e falta de profissionais de saúde são algumas das consequências que vieram à tona no início deste ano, com uma epidemia de gripe que colocou o NHS inglês na UTI.
Apostar no quê?

Ato contra desmonte do SUS em Brasília (2016) Crédito: Mídia Ninja
Mesmo nos países europeus, então, podemos considerar que o Estado de bem-estar social ainda existe? Para Marcela, a resposta é não. “Já se perdeu muita coisa. O que vemos hoje são resquícios do que não pôde ser destruído graças à resistência e organização dos trabalhadores”, diz. É claro que se compararmos o Brasil com esses países, vamos achar que por lá a situação é boa, pondera ela: “Aos nossos olhos, o que existe na Europa parece muito semelhante ao que foi o bem-estar social. Mas só porque estamos em uma situação calamitosa na garantia dos direitos sociais”.
Já para Sonia, há um projeto de bem-estar social em permanente disputa com as alternativas de apropriação dos recursos públicos para outras finalidades. A sanitarista, contudo, não acredita que essa situação seja sustentável, pois não há regulação do capital financeiro, os Estados estão prisioneiros do mercado e os interesses das populações estão subordinados. “Estamos assistindo a uma situação de grande tensão que pode inclusive resultar numa guerra mundial”, alerta. “Situações que pareciam estar equacionadas no capitalismo retornam e saem do controle. A Europa está assistindo aos imigrantes morrerem nas balsas como se fosse normal. Não se pode falar em universalização quando os imigrantes são tratados de forma diferente. A cidadania não se globalizou como as mercadorias e o capital se globalizaram. Há hoje um tratamento de segunda classe ou simplesmente a exclusão. E essa é uma tensão enorme – e não democrática – dentro de sistemas que eram democráticos”, aponta.
Para ela, é nesses marcos que o bem-estar social é mais atual do que nunca. “É a única possibilidade. Até mesmo para o próprio capitalismo sobreviver, porque se não é a barbárie”, afirma a sanitarista, que relembra que o Estado de bem-estar social foi uma forma de equilibrar as relações sociais dentro do capitalismo e dar sobrevida ao sistema. “Eu acredito que a luta pelo direito universal à saúde é uma luta dentro do capitalismo, reformando o capitalismo, e que pode dar alguma sobrevida a ele. Do contrário, as situações vão chegar a um ponto de deterioração muito grande”, pontua Sonia. E cita o filósofo Karl Polanyi, para quem o capitalismo gera um duplo movimento. De um lado, o mercado se infiltra sobre todos os âmbitos da vida em sociedade – incluindo a saúde. E de outro, a sociedade tenta se proteger. “Essas contradições vão se avolumando a cada dia. Não sei quanto tempo pode demorar, mas certamente reformas virão”, acredita. A alternativa, diz Sonia, é pensar que não tem solução. “Ao abrir mão dos direitos sociais, na verdade, estamos abrindo mão não do capitalismo, mas da democracia no capitalismo”.
Tanto para Marcela quanto para Áquilas, no entanto, é preciso fazer outras apostas. “Temos que tirar da cabeça essa ideia de que o Estado de bem-estar é um modelo”, defende a pesquisadora da EPSJV/Fiocruz. “No fim das contas, o Estado de bem-estar social nada mais é do que a face mais ‘humanizada’ do capitalismo. Mas o capitalismo nunca será humanizado”, afirma. Pela mesma razão, Áquilas prefere chamar Estado de bem-estar social de Estado social. “Porque o Estado capitalista nunca esteve e não está voltado para o bem-estar da população como um todo. Se ele introduziu mecanismos de ampliação dos direitos sociais, foi por muita luta entre a classe trabalhadora e o próprio capital. E num contexto histórico muito especifico”, pondera. E, de qualquer forma, ele não acredita que seja possível garantir a saúde como direito no capitalismo. “Não vai dar para voltar ao passado e implantar o Estado social. Muito menos aqui, onde nunca teve isso. Partimos de uma situação completamente diferente de luta social. E cumprimos um papel diferente no mundo”, resume.
O SUS na encruzilhada

Manifestação em 2016 contra a EC 95 e o desmonte do SUS Crédito: Mídia Ninja
Mas o que tudo isso significa para o futuro do SUS? Em primeiro lugar, responde Jairnilson, que a batalha pelo direito à saúde no Brasil hoje é “imensamente maior” do que era na época de sua criação. E, acrescenta, o movimento sanitário ainda não tem clareza da dimensão da guerra. Para ele, o que está se delineando é um simulacro de sistema universal de saúde. “Tem nariz, cabelo e boca de SUS, mas não é SUS. Mas como este Sistema que aí está não atende apenas aos interesses da população ou dos trabalhadores de saúde que nele estão empregados, também é útil como espaço para a realização das mercadorias produzidas pelo capital, algum SUS deve se manter”, explica. Mas isto não é destino, garante o professor da UFBA. “Quem faz a história diante das circunstâncias colocadas são as forças sociais organizadas, que podem dar outro sentido àquilo que se coloca como tendência”.
E da parte da sociedade? “Não conseguimos nunca que a população sentisse que o SUS era uma grande conquista dela própria, como na Inglaterra acontece com o NHS. Porque a população foi maltratada durante esses anos todos pelas próprias condições de funcionamento do SUS”, lamenta Sonia, ponderando, no entanto, que a noção de direito à saúde chegou aos brasileiros como mostraram, por exemplo, as manifestações de Junho de 2013. A título de comparação, a opinião pública (incluindo a mídia) tanto pressionou o governo que, por lá, acaba de ser anunciada uma injeção de £ 20 bilhões (algo em torno de R$ 100 bilhões) no NHS. Os recursos vão compor o orçamento a partir de 2023. E mesmo assim, alertou uma entidade de saúde, vão ficar abaixo do ideal, já que o aumento representa 3,4% em relação à inflação quando o necessário seria 4%.
Também para Marcela, como a sustentação dos sistemas universais de saúde está na contramão das agendas dos governos no Brasil e no mundo, qualquer projeção no sentido contrário só poderá ser sustentada com as lutas. Mas ela acredita ser preciso repensar o que o SUS representou como projeto de sociedade, já que a luta da Reforma Sanitária não se resumia a sua implementação. “Este sistema só fazia sentido numa sociedade que não fosse regida pela lógica do mercado, mas pela lógica da igualdade. Essa sociedade não foi conseguida e o SUS também não funcionou como deveria. Talvez seja necessário, neste momento, repensar não só que saúde queremos, mas que sociedade queremos. É a sociedade que se pauta pelos limites da humanização do capitalismo? Ou queremos ir além e construir uma sociedade onde todos tenham igualdade e direitos na realidade e não somente no papel?”, questiona.
Ela cita o exemplo cubano. “Cuba viveu uma revolução socialista e, aí, as prioridades sociais se invertem. A proteção da vida e o desenvolvimento das capacidades de cada um dos habitantes na construção de uma sociedade igualitária tornam-se mais importantes”, diz. Isso fez com que o governo cubano, desde o início da revolução, fizesse da saúde e da educação os pilares da estruturação social. “E fez um investimento grande nessas áreas, nos limites das suas possibilidades, é claro, constrangido pela posição que ocupa no mundo”, diz. Mesmo assim, continua, Cuba consegue uma saúde e uma educação que estão muito além do que muitos de nós temos acesso ou poderíamos até desejar. “Cheia de problemas e contradições, mas com indicadores fantásticos. Isso tem a ver com uma definição de prioridades, com uma forma de organização social em que o mais importante não é o ganho das empresas e o desenvolvimento econômico como um fim em si mesmo e, sim, a condição de vida do conjunto da população”, argumenta.
Antes de mais de nada, Áquilas reconhece que, comparando com o período anterior, o SUS trouxe muitos avanços. Mas, daqui para frente, defende, é preciso fazer uma crítica mais radical aos caminhos que foram trilhados. “Apostou-se na construção de políticas públicas como forma de concretizar o direito à saúde numa perspectiva incremental, regular e contínua que, se já não encontrou espaço no passado, agora, então, nem se fala. Não tem mais espaço para sistemas universais no capitalismo contemporâneo”, sentencia. E como construir uma alternativa? Ele alerta: “Minha aposta é numa reflexão de que a garantia do direito à saúde não passa por dentro do capitalismo mas pela construção de um novo modo de produção social. Por isso, a luta. Não vai ser com mais gestão nem com mais financiamento, nem com campanhas eleitorais e lutas institucionais. Se continuarmos nesse caminho, o SUS não terá futuro”.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.