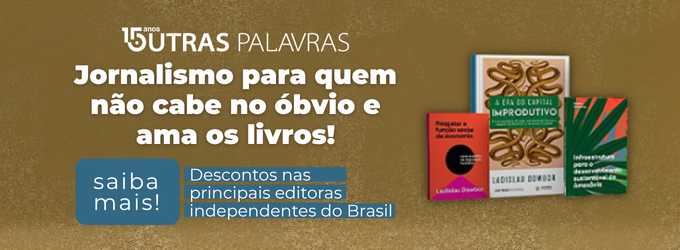Os ecos de Fanon na luta antimanicomial
Em novo livro, professora da UFRJ traz à luz esquecida influência de Frantz Fanon sobre Franco Basaglia, precursor da Reforma Psiquiátrica. Laço de pioneiros do cuidado em liberdade é chave para repensar rumos clínicos e políticos da saúde mental no Brasil
Publicado 03/08/2025 às 19:18 - Atualizado 03/08/2025 às 19:36
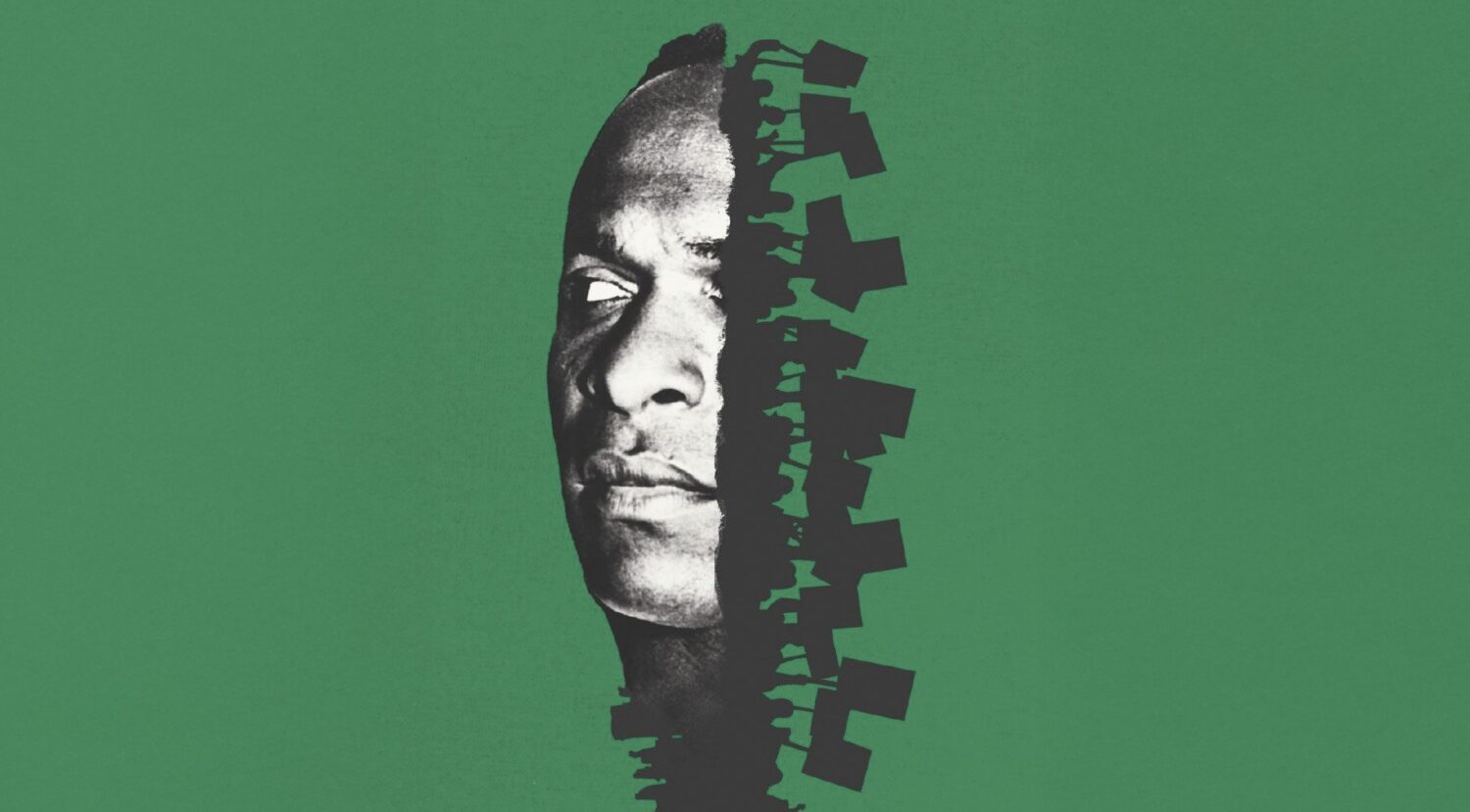
As visitas que fez ao Brasil em 1978 e 1979, quando denunciou os horrores do manicômio de Barbacena e ajudou a desencadear o início da Reforma Psiquiátrica, tornaram o psiquiatra italiano Franco Basaglia uma figura particularmente lembrada – e querida – pela luta antimanicomial do país. Além disso, seu papel de proa na pioneira experiência que fechou o hospital psiquiátrico da cidade italiana de Trieste na década de 1970, substituindo-o por serviços comunitários de cuidado em saúde mental, transformaram o médico em uma referência histórica incontornável.
Apesar de seu lugar especial na memória brasileira, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Rachel Gouveia Passos aponta que há uma lacuna importante na interpretação nacional de Basaglia. Pouco se lembra da influência decisiva do psiquiatra martinicano e revolucionário negro Frantz Fanon, que completa seu centenário neste ano, na “virada ético-política” que levou o italiano à ruptura final com as instituições manicomiais – apontando que era impossível reformá-las.
Buscando investigar a fundo o conteúdo dessa conexão e também torná-la mais conhecida no Brasil, Passos escreveu o livro Ecos da Liberdade: um Encontro entre Frantz Fanon e Franco Basaglia, que está em pré-venda e será lançado no dia 22 de agosto. A obra faz parte da Coleção Comemorativa 100 anos de Basaglia, publicada pela editora Hucitec. Ambos, ela destaca, “apontam para a produção do cuidado em liberdade num sentido que rompe com a dinâmica do capitalismo” e trazem ferramentas para entender a origem colonial dos manicômios em um país onde as “relações étnico-raciais que estruturam a formação social dão um contorno muito particular” à sua história, como o Brasil.
Por isso, em entrevista a Outra Saúde, Passos destaca que, muito mais do que promover uma justiça historiográfica, ressaltar o diálogo entre Fanon e Basaglia é de suma importância para pensar os rumos clínicos e políticos dos serviços de saúde mental no Brasil. O encontro entre os “ecos fanonianos” e os “ecos basaglianos” permitiria repensar os caminhos da Reforma Psiquiátrica de forma a abarcar as demandas de populações excluídas desde a colonização – em especial, a população negra.
A seguir, fique com a íntegra da entrevista com Rachel Gouveia Passos, professora da UFRJ.
No início do livro, você faz uma observação sobre como o Franco Basaglia é muito conhecido “de nome” no Brasil, citado nos cursos de graduação pela influência que teve na Reforma Psiquiátrica do nosso país, mas suas obras ainda são pouco lidas e absorvidas. Fale um pouco mais sobre essa observação e também sobre essa coleção comemorativa dos 100 anos de Basaglia que você está coordenando, de que o “Ecos da Liberdade” faz parte.
Pensar Basaglia é algo extremamente importante para o campo da saúde mental. Mas sua contribuição política e teórico-científica está completamente esquecida.
Ele é muito citado devido à visita em que comparou Barbacena aos campos de concentração nazistas (o que é diferente do Holocausto, uma interpretação brasileira dessa fala). Basaglia visitou o Brasil três vezes, em 1978 e 1979, e circulou por várias cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas foi a visita a Minas Gerais que mais ganhou destaque, já que conhecer o Hospital Colônia de Barbacena o comoveu muito e ele se mobilizou em torno dessa questão enquanto esteve aqui. Isso tudo ficou como um grande marco para o Brasil, especialmente para os que estiveram presencialmente com ele e ecoaram sua voz. Os brasileiros vão passar a ter uma grande presença em Trieste [cidade onde Basaglia conduziu o processo de fechamento de um manicômio e sua substituição por centros comunitários], mesmo com o falecimento de Basaglia em 1980.
Uma geração foi a Trieste. Mas as gerações seguintes, inclusive a minha, não vão estudar muito o Basaglia, vão estudar os seus intérpretes brasileiros e fazer leituras sobre Basaglia. No entanto, no apêndice 2 de um de seus principais livros, chamado A Instituição Negada, ele traz algumas inquietações e cita de forma bastante central o Frantz Fanon no seu raciocínio. Essa obra está disponível no Brasil desde 1985, mas pouco exploramos essa influência teórica, científica e política de Fanon sobre Basaglia.
Ler esse texto, para mim, foi uma virada de chave. Como citamos tanto a influência de Sartre e Merleau-Ponty sobre Basaglia, mas Fanon desaparece? E porque estudamos tão pouco o próprio Basaglia? Em décadas passadas, houve um esforço para traduzir seus escritos – Paulo Amarante é uma figura que se dedicou a isso –, mas por que isso foi paralisado e não continuamos esse mergulho sobre suas influências e seu pensamento?
No marco dos cem anos do nascimento de Basaglia, em 2024, houve o início de uma retomada do seu pensamento. Daí a emergência, para mim e para o professor Pedro Costa (UnB), de organizar a Coleção Comemorativa 100 anos de Franco Basaglia.
No primeiro volume da coleção [100 anos de Franco Basaglia: memórias, indagações e análises brasileiras, Hucitec, 2025], nós buscamos realizar quatro grandes entrevistas com pessoas que conviveram com Franco Basaglia e também com Franca Basaglia, sua companheira de vida, reflexão e atuação. Entre outras coisas, fica destacada a relevância internacional das Conferências Brasileiras de 1979, que ficaram registradas no livro A Psiquiatra Alternativa. Além disso, também entrevistamos pessoas mais jovens que estão estudando o pensamento e a influência de Franco Basaglia nas múltiplas interfaces do campo da saúde mental, da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial, mostrando a atualidade desse pensamento.
No segundo livro da coleção [Franco Basaglia e a crítica das “comunidades terapêuticas” no Brasil, Hucitec, 2025], o professor Pedro Costa mobiliza o pensamento de Basaglia para trazer um tema muito atual no Brasil, que são as comunidades terapêuticas. Ele explica que Basaglia foi influenciado pela experiência das comunidades terapêuticas inglesas de Maxwell Jones – foi até lá, viu o que poderia implementar em Gorizia para depois fazer uma crítica, apontando seus limites. Costa retoma essas bases para demonstrar que as CTs brasileiras não são influenciadas pelos ingleses nem pelos italianos, mas sim por uma corrente norte-americana e pelo próprio pensamento conservador nacional.
Já o terceiro volume da coleção [Movimento antimanicomial e luta de classes no Brasil, Hucitec, 2025], escrito pela Daniela Albrecht, traz a luta antimanicomial na perspectiva da luta de classes, destacando que o campo precisa retomar essa leitura mais radical, inclusive do pensamento do próprio Marx, que é uma influência basilar para Franco Basaglia na conjuntura em que ele estava inserido na Itália.
Por fim, o quarto volume [Ecos da liberdade: um encontro entre Frantz Fanon e Franco Basaglia, Hucitec, 2025], que é o meu novo livro, trata da influência do pensamento de Fanon sobre Basaglia, algo ainda muito pouco explorado no Brasil. Estou indo atrás de vestígios, restos – uma verdadeira escavação. Na Itália, isso está muito mais explícito, devido à recepção ampla de Fanon e de Os Condenados da Terra ainda nos anos 1960 e 1970. De certa forma, o pensamento fanoniano atravessou não só Basaglia, mas muitos de seus companheiros, como os escritos vão mostrando. Isso também demonstra o quanto o Brasil tardou a absorver a influência da Revolução Argelina, do pensamento crítico de Fanon e da radicalidade do próprio Basaglia, que estava atento a esse psiquiatra revolucionário imerso nas revoluções africanas.
Se Franco Basaglia ainda é pouco conhecido em seu sentido mais aprofundado, ainda menos conhecida é essa relação dele com as obras de Fanon, tema do seu livro novo. Conte um pouco sobre como o pensamento e as obras dele influenciaram as formulações teóricas e práticas de Basaglia.
Na obra A Instituição Negada, essa influência fica bem demarcada na experiência de Gorizia [comuna no nordeste da Itália, onde dirigiu um hospital psiquiátrico nos anos 60], onde aconteceu a primeira tentativa de transformação de um hospital psiquiátrico. Basaglia fala dos limites da possibilidade de reformar a instituição. Analisando esse livro, identificamos que ele aciona o pensamento de Fanon para auxiliar nas questões que a equipe de Gorizia estava passando: apostamos ou não na instituição, sabendo dos seus limites? Continuamos aqui dentro ou saímos, negamos e destituímos essa instituição?
No anexo 2 do livro, Basaglia cita a carta de demissão de Fanon do Hospital de Blida, um hospital psiquiátrico em que ele atuava na Argélia. Ali, Fanon já estava envolvido na Revolução Argelina, atendendo pacientes internados durante o dia e guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional (FLN) à noite. Ele pede demissão exatamente por conta das dificuldades e limites que estavam se tornando claros. Após se demitir, Fanon publica uma carta que enviou ao ministro residente da França na Argélia, uma carta política em que ele localiza a psiquiatria enquanto um instrumento de dominação colonial e reprodução de um poder que precisa ser rompido. Por isso, ele rompe com a dinâmica institucional do manicômio, entendendo sua função e a função da psiquiatria como a reprodução dessa ordem colonial.
É essa carta que Basaglia usa para apontar que Fanon optou pela solução mais radical, pela revolução, dizendo: “Aqui [em Gorizia], a gente não consegue tomar agora esse caminho por fatores da conjuntura. Nós permaneceremos na instituição, mas negando-a”.
Naquele momento, Fanon sai da Argélia e vai para a Tunísia, onde continua atuando como psiquiatra, mas em um contexto em que produziu uma dinâmica de cuidado em liberdade. Na Tunísia, ele funda o primeiro hospital-dia da África, o Centre Neuropsychiatrique de Jour (CNPJ). É importante sinalizar que ele não abandona a psiquiatria, mas faz uma crítica dela enquanto instrumento de dominação e vai propor uma outra psiquiatria. Basaglia se vê profundamente influenciado por essa carta. Para autores como John Foot, Basaglia tem uma virada ético-política a partir da influência dessa experiência de radicalidade política do Fanon.
Depois, você tem a demissão do próprio Basaglia e de sua equipe, também falando dos limites de sua atuação em Gorizia. O Ernesto Venturini compara essas duas demissões, apontando a influência do Fanon sobre a carta que essa equipe vai publicar explicando os motivos de sua saída. Essa primeira virada do Basaglia é fundamental, mas no Brasil não a exploramos. Ele não aposta numa solução totalmente radical naquele momento, mas começa a apontar para um outro caminho.
Depois, Basaglia passa rapidamente por Parma e segue para Trieste. Ali, a gente vê a radicalidade surgir nessa produção da destruição da experiência do manicômio e na criação de uma outra dinâmica de cuidado no território, que também modifica a dinâmica da cidade. Essa nova dinâmica percebe que, para que haja uma potência de vida para aqueles sujeitos que estavam institucionalizados, é necessário a modificação da sociedade, um cuidado mais coletivo e ter a liberdade enquanto princípio – o que dialoga com o Fanon. Para mim, o sentido do cuidado em liberdade se faz presente nos dois psiquiatras. No livro, essa virada ética-política do Basaglia sob a influência do Fanon é identificada como um marco.
No aspecto clínico, as perspectivas eram menos parecidas. De toda forma, Fanon morreu muito jovem, antes mesmo da libertação da Argélia, e não dá para saber o que ele iria produzir. Em termos de uma psiquiatria pós-fanoniana, a própria Itália teve uma influência grande do Fanon na sua Reforma Psiquiátrica e que nós não tivemos em termos diretos. Mesmo assim, tem essa virada ético-política do Basaglia.
No livro, você fala de “fazer um encontro entre os ecos fanonianos e os ecos basaglianos na saúde mental brasileira”. Acho que isso se expressa bastante nessa sua discussão acerca de que, mais do que a um campo de concentração nazista, o manicômio no Brasil remete ao colonialismo – ou ao navio negreiro, como em seu artigo de 2018. Como esse reconhecimento pode reforçar a luta pelo fim dos manicômios no Brasil?
Quando faço essa discussão a partir do título “Holocausto Brasileiro”, busco problematizar o quanto somos impactados pelo Holocausto nazista. Não se trata de comparar os processos de desumanização. Quando nossas lentes se viram automaticamente para a Europa, abandonamos nosso passado marcado pela colonização e escravização. Minha provocação é para buscarmos entender os processos que vão formar o Brasil e também aquilo que o professor Emiliano Camargo chama de “manicolonização”.
Ainda nas experiências do navio negreiro, existe um processo de mortificação das subjetividades por meio da violência, do estupro, do aniquilamento da cultura, dos afetos e da ética, da destituição das identidades. Eram pessoas oriundas de territórios distintos, com culturas e valores distintos, mas você as põe todas em um espaço onde não são nada mais que “um monte de negros juntos”. Por meio da violência, se vai produzindo uma castração subjetiva e física, e isso já vai conformando uma dinâmica manicolonial.
Fanon aponta que o processo de colonização faz emergir a necessidade de hospitais psiquiátricos. Eles vão servir para ordenar a colônia, estabelecendo processos a partir de uma lente colonial – extremamente branca, eurocêntrica e patriarcal. Isso vai produzindo certas concepções de sintomas e diagnósticos e chega no ordenamento da colônia à luz da metrópole e de sua ciência, negando os demais conhecimentos. ÉO que Fanon nos ajuda a pensar ao refletir sobre medicina e colonialismo, alienação e liberdade.
Aqui no nosso país, essa lente nos ajuda a tecer uma reflexão sobre a formação social brasileira. Pensar sobre como já havia um processo de manicolonização bem antes dos hospitais psiquiátricos no Brasil – o primeiro é de 1852. Esse processo vai condicionando certas pessoas para o perfil do sujeito perigoso e doente mental: para os manicômios, mas também para as prisões, para as instituições de medida sócio-educativa…
Quando a gente resgata a história da psiquiatria, os diagnósticos sofrem uma distinção a partir da racialização. Há diagnósticos para pretos e para brancos. É o imbricamento entre doença mental e periculosidade, pela via do racismo científico, e isso vai conformando os manicômios no Brasil, seja o manicômio clínico ou o manicômio judiciário. Me parece que a Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial não “pegaram” essa dimensão da racialização na formação social brasileira. Isso tem a ver com o mito da democracia racial, nós todos no Brasil fomos banhados por uma construção que busca ignorar esse processo. Busco demonstrar a necessidade de pensar isso, dialogando com Fanon e com Basaglia.
Basaglia vai pensar o manicômio a partir do seu lugar no capitalismo e da necessidade de sua existência para a reprodução do capitalismo e da violência que se faz presente na sociedade capitalista. Não é muito diferente do que Fanon pensa. Como não vamos pensar isso no Brasil, um lugar onde essa conformação do capitalismo a partir da racialização foi criando um espaço de depósito para pessoas indesejáveis, negros, pobres, periféricos, pessoas em situação de rua que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, mulheres, LGBTs? O manicômio é esse espaço, como estamos vendo. Se não nos atentarmos para fazer esse resgate, vamos reproduzir uma homogeneização da experiência da loucura até nos próprios dispositivos de cuidado.
A partir dos diagnósticos “de branco” e dos diagnósticos “de negro”, você tem uma deformação quase que ontológica dos sujeitos negros, que é importante a gente perceber. Isso se materializa nas políticas públicas, e é necessário que a Reforma Psiquiátrica e a luta antimanicomial se atentem.
Os ecos fanonianos e basaglianos nos remetem à necessidade de um debate crítico não só para repensarmos os caminhos clínicos, mas também os caminhos políticos na direção dos serviços de saúde mental.
Falando em colonialismo, acho que você expande para o público brasileiro esse aspecto anticolonial da luta pelo fim dos manicômios trazendo a história da influência basagliana também em países como Moçambique após a revolução. Conte um pouco mais sobre isso.
Essa percepção [de Basaglia] sobre a situação colonial está ligada aos “ventos fanonianos” que estavam ocorrendo na Itália após a publicação de Condenados da Terra. Lá, o livro foi publicado apenas um ano depois de seu lançamento na França, e a Itália teve um papel fundamental na propagação do pensamento de Frantz Fanon. Esse “pequeno grande detalhe” ainda nos escapa aqui no Brasil, quando se pensa sobre como esses ventos fanonianos chegaram ao Basaglia e à sua crítica.
Basaglia não chega a ser um anticolonial, mas tinha uma percepção crítica que ajudou a tensionar a esquerda italiana a se posicionar frente às lutas africanas. Consideramos ele mais como um anti-imperialista. Isso não está tão explícito nos seus escritos, mas está presente na sua crítica anticapitalista. Alguns dizem que ele não era comunista, mas a tese da Daniela Albrecht vai demonstrar a influência do pensamento marxista e da relação com o Partido Comunista sobre seu trabalho. É importante demarcar o posicionamento de Basaglia numa perspectiva crítica, marxista e comunista – não necessariamente anticolonial, mas atenta aos movimentos anticoloniais.
O livro Basaglia’s International Legacy: From Asylum to Community [“O legado internacional de Basaglia: do hospício à comunidade”, ainda sem tradução para o português], organizado pelo John Foot, mapeia a influência do Basaglia sobre outros países e é interessante notar que, no final da década de 1970, ocorreram encontros que permitiram uma experiência em Moçambique, algo que não era conhecido.
Para o nosso livro 100 Anos de Franco Basaglia: Memórias, Indagações e Análises Brasileiras, que faz parte da mesma coleção que o Ecos da Liberdade, nós entrevistamos Ernesto Venturini, o colaborador do Basaglia que se deslocou para Moçambique. Hoje, ele mora aqui no Brasil. Na entrevista, ele explica um pouco mais sobre as articulações do Basaglia para pensar as mudanças ali. O Ernesto ajudou a fechar alguns manicômios que existiam em Moçambique e isso expressa a concretude da influência de Basaglia naquele país.
Ainda é preciso explorar mais essa história, e estou tentando me aproximar e conhecer essa disseminação do Basaglia no continente africano. É sintomático como, aqui no Brasil, ficamos muito presos na experiência italiana ou na influência norte-americana. Existe uma necessidade de conhecermos outras formas de produção de cuidado e saúde mental.
Os “ecos fanonianos” e especialmente os “ecos basaglianos” têm um espaço importante aqui na América Latina, com os atores que trabalham com Basaglia ocupando espaços institucionais de destaque, até mesmo na OMS. A partir daí, esses ecos foram se propagando e expandindo – mas vale lembrar que existem diferenças. Entre Basaglia e Franco Rotelli [o “sucessor” de Basaglia na direção do trabalho de saúde mental em Trieste], por exemplo. Isso incide sobre as interpretações e os diálogos que os brasileiros mantiveram com esses atores, e acaba conduzindo a Reforma Psiquiátrica para caminhos distintos. Fazendo algumas das entrevistas que fundamentaram os livros da nova coleção, foi possível notar uma diferença entre os que dialogaram com Basaglia – e, entre eles, diferenças entre os grupos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas – e os que dialogaram com os sucessores, quando foram a Trieste.
Sem negar os intérpretes posteriores, penso que a nossa geração está retomando as bases de Basaglia, para repensar algumas coisas que ficaram pelo caminho. Entre elas, as relações étnico-raciais que estruturam a formação social brasileira e dão um contorno muito particular para o capitalismo dependente no Brasil. É importante pensar o que elas significam para a promoção de saúde mental na linha da atenção psicossocial e da luta antimanicomial.
Apesar de não ter acontecido um encontro físico entre Fanon e Basaglia, é possível tecer laços firmes entre os dois. Ambos apontam para a produção do cuidado em liberdade num sentido que rompe com a dinâmica do capitalismo. Essa dimensão ético-política coaduna com a necessidade da superação da própria psiquiatria enquanto saber e poder. Também aponta para a urgência de retomarmos esses clássicos aqui no Brasil, não para tomá-los de forma idealizada, mas enquanto inspiração para construirmos nosso próprio caminho de superação dos problemas no nosso país.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras