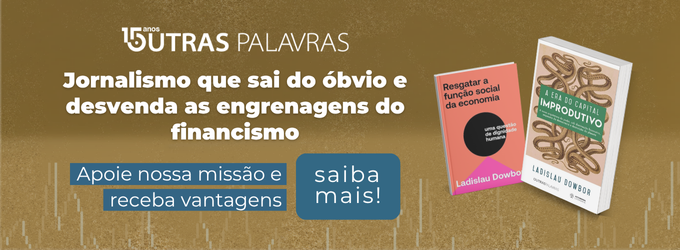COP-30: o que propor para a saúde da Amazônia
Garantir cuidado às comunidades tradicionais – guardiãs e inseparáveis das próprias florestas – pode ser decisivo para proteger biomas das mudanças climáticas. Por isso, a cúpula em Belém também deve debater propostas que ampliem seu acesso à saúde
Publicado 04/02/2025 às 07:11 - Atualizado 19/12/2025 às 14:31

Em novembro de 2025, será realizada no Pará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Trata-se de um encontro anual que reúne líderes mundiais, cientistas, representantes de ONGs, empresas e outros grupos interessados na questão, para discutir e tomar decisões sobre questões relacionadas às mudanças climáticas. No Brasil, é imperativo que inclua representantes de todas as comunidades tradicionais da Amazônia, os Povos-Floresta [1].
Lamentavelmente, nem mesmo um evento da magnitude da COP30, que tem como foco principal a promoção de políticas e ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa, adaptar-se às mudanças climáticas, financiar ações climáticas e proteger a biodiversidade, entre outros tópicos – ou seja, tentar “adiar o fim do mundo”, como nos diz Krenak –, foi capaz de arrefecer a política colonialista e de invisibilização do governo do Pará para com as comunidades tradicionais, inclusive os povos indígenas.
Tem causado grande indignação em amplos setores o fato de que a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) tenha aprovado no final do ano passado a Lei 10.820/2024, que alterou a carreira do magistério no estado e abriu caminho para a troca do ensino presencial por educação à distância (EAD) em escolas de áreas remotas, incluindo comunidades indígenas. A nova lei não considera a cultura oral dos indígenas, onde muitos se comunicam no idioma do seu povo, e as interações pela oralidade são fundamentais para o processo de aprendizagem. Reivindicando a revogação desta Lei, representantes de diversos povos indígenas têm ocupado a Seduc em Belém desde janeiro de 2025, exigindo a revogação da lei e a exoneração do secretário de educação.
Parafraseando Krenak, “a COP30 já começou”, com a mobilização dos indígenas contra a invisibilidade, pelo compartilhamento de decisões, transparência, e o seu direito à educação com qualidade. E esta é a questão fundamental: a COP30 deverá incluir os povos-floresta, entre eles os indígenas, nas discussões da Cúpula do Clima. Isto significa incluir na Conferência o acumulado de milhares de anos em que este povo tem de conhecimento da região, por habitar a Amazônia e com ela conviver. Neste contexto, além do clima, é importante discutir diversas questões que afligem os povos que moram na floresta, como por exemplo, o acesso a serviços de saúde.
Os desafios enfrentados pelos povos indígenas
De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, a população indígena na Amazônia Legal, que inclui estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, é de aproximadamente 867.919 pessoas. Isso representa cerca de 51,2% da população indígena total do Brasil, que é de 1,7 milhão de pessoas.
A Amazônia Legal é a região com a maior concentração de indígenas no país. O estado do Amazonas, por exemplo, tem a maior população indígena, com cerca de 490.9 mil, o que representa 29% do total do Brasil.
Os povos indígenas da Amazônia falam mais de 180 línguas diferentes, pertencentes a diversas famílias linguísticas. Essa diversidade é um testemunho da riqueza cultural da região. Cada povo possui suas próprias tradições, cosmovisões e práticas de manejo ambiental, que contribuem para a conservação da biodiversidade.
As comunidades indígenas enfrentam enormes problemas, como as ameaças a seus territórios, feitas principalmente pelo avanço do desmatamento, garimpo ilegal, agropecuária e grandes obras de infraestrutura (como estradas e hidrelétricas), que colocam em risco os territórios e os modos de vida dos povos-floresta, inclusive indígenas; a falta de reconhecimento, isto é, uma certa invisibilização pelo poder público, que se soma ao fato de que muitas comunidades ainda lutam pela demarcação de suas terras, um processo que enfrenta resistência política e econômica; a precariedade da saúde e educação, serviços em que ainda há dificuldades de acesso e são limitados em muitas comunidades, agravando desigualdades e vulnerabilidades; e, claro, as mudanças climáticas, que causam devastadores impactos ambientais, como secas prolongadas e incêndios florestais, que afetam a toda população da floresta.
Um programa de cuidados intermediários para os HPPs
No que se refere ao acesso a serviços de saúde, uma boa solução se encontra na possibilidade de otimizar uma espetacular rede já existente, de Hospitais de Pequeno Porte (até 50 leitos), amplamente difundidos principalmente em pequenos municípios, garantindo alta capilaridade nos territórios. Hoje eles são subutilizados, menos de 30% da sua capacidade operacional.
É o que busquei discutir em contribuição para o livro A Saúde Coletiva na Amazônia (que pode ser baixado gratuitamente): “De acordo com o Ministério da Saúde, na Região Norte do Brasil há 435 HPP’s que disponibilizam 9.292 leitos, equivalente a 71,8% do total de hospitais na região, sendo que destes 303, detendo 7.071 leitos, representando 63,9% do total, pertencem à Rede SUS (CNES, 2019). O paradoxo com o qual lidamos neste contexto, diz respeito ao fato de que embora necessitando de equipamentos e recursos na rede de saúde, estes hospitais apresentaram uma taxa de ocupação de apenas 23% para o ano de 2018 (SIH/SUS, 2018). Ao mesmo tempo consomem a maior parte dos recursos da saúde nos pequenos municípios”.
O que se propõe é que essa rede de HPPs pode muito bem abrigar um Programa de Cuidados Intermediários, que se situa entre a Atenção Básica e Hospitalar, conectado aos serviços de referência nos territórios, Rede Básica, o que aumenta sua capacidade de atendimento, e oportuniza produzir um cuidado territorial robusto, resolutivo, operando de forma compartilhada com as medicinas tradicionais indígenas, e de outros povos que habitam a floresta. Tudo isto com participação comunitária, como é da tradição do SUS.
Esse debate deve compor a pauta política da COP30, como soluções viáveis de organização da rede de serviços públicos, de baixo investimento e alto impacto, porque vai utilizar-se de uma rede já existente para implantação.
Colocamos aqui essas questões como disparadoras de um debate necessário e urgente, no âmbito da saúde, e das questões que afligem as comunidades amazônicas, em especial os indígenas, diante de uma oportunidade importante de intervenção na região, como a COP30.
NOTAS
[1] Povos-Floresta é a denominação utilizada por Eliane Brum para expressar a fusão, inseparabilidade de habitantes da floresta – indígenas, ribeirinhos, beiradeiros e quilombolas – com a própria floresta, e todo contexto territorial, cultural, social, afetivo em que vivem.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras