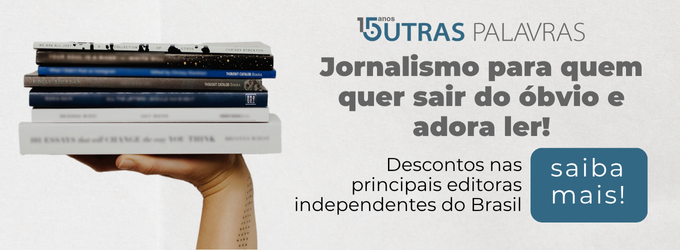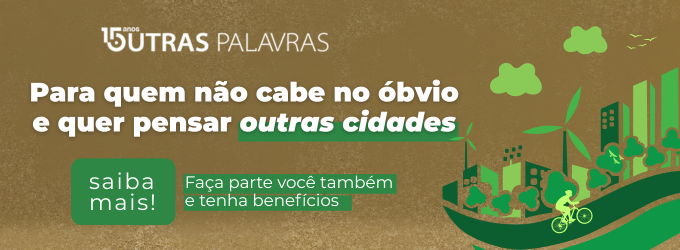História: de Montes Claros ao SUS, lutas e utopias
Há 50 anos, em cidade do norte mineiro, tinha início experiência singular de saúde pública, que foi um dos embriões da Reforma Sanitária. Como ela ecoa no Sistema Único ainda hoje, e quais são os obstáculos
Publicado 02/10/2025 às 10:29 - Atualizado 26/12/2025 às 10:07

Título original: De Montes Claros ao SUS: 50 anos de lutas e utopias pela saúde no Brasil
Em artigo para uma publicação conjunta do blog do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz (CEE-Fiocruz) e do site Outra Saúde, Sonia Fleury, pesquisadora sênior do CEE, revisita o Projeto Montes Claros (MOC), uma experiência inovadora que se tornaria símbolo de luta pelo direito à saúde no Brasil. Implantado há 50 anos, na cidade de Montes Claros, uma região árida do norte de Minas marcada pela pobreza e desigualdade, o projeto não foi pensado para oferecer apenas serviços médicos.
O MOC ousou propor algo novo: uma rede de saúde organizada de forma regionalizada, com participação ativa da comunidade, integração entre ensino médico e atendimento, além de práticas pedagógicas inspiradas em Paulo Freire. Em plena ditadura militar, o projeto mostrou que a saúde pode ser um espaço de transformação social e de construção da democracia. Essa experiência fez de Montes Claros a chamada “Meca da Saúde Pública”, vitrine da Reforma Sanitária Brasileira.
Ao resgatar sua história, a autora explica que a força do MOC ecoou nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1980, quando o país caminhava para a redemocratização. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) consolidou a ideia de que saúde deveria ser direito universal. Dois anos depois, a Constituição de 1988 oficializou esse princípio: saúde como direito de todos e dever do Estado. Assim nascia o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado em 1990. Desde então, o SUS se tornou a maior política pública de inclusão social do Brasil. Está presente em todo o território nacional, do atendimento básico às campanhas de vacinação em massa, como a que ocorreu durante a pandemia de covid-19.
No texto, Sonia Fleury ressalta que o SUS carrega continuidades do Projeto Montes Claros – como a aposta na atenção primária e na participação social – mas ainda convive com hiatos históricos e enfrenta desafios complexos que combinam velhos problemas com novas pressões globais.
Um primeiro ponto é a participação social: embora os conselhos e conferências tenham institucionalizado o diálogo democrático, hoje muitos estão fragilizados, capturados por interesses locais e distantes dos usuários. O desafio é fortalecer a participação direta e garantir que continue sendo espaço de deliberação e não apenas de legitimação.
Na atenção primária, a Estratégia Saúde da Família universalizou a cobertura, mas persistem desigualdades regionais, vínculos de trabalho precários e carências em áreas vulneráveis. Já no atendimento especializado, as longas listas de espera continuam sendo um gargalo histórico, e novas propostas, como o programa Mais Especialistas, aumentando a oferta de médicos especialistas em todo território nacional, levantam dúvidas sobre a dependência da rede privada e o risco de aumento da fragmentação atual da rede de serviços com o programa.
Outro desafio central é a relação público-privado. Desde a criação do SUS, o setor privado ocupa grande parte da oferta hospitalar e pressiona por mais recursos públicos. Hoje, a financeirização da saúde suplementar e as tentativas de transformar o SUS em um sistema público-privado ameaçam seu caráter universal e público.
A soberania sanitária também está em jogo. A pandemia expôs a dependência externa de insumos e vacinas, reforçando a necessidade de investir no Complexo Econômico-Industrial da Saúde para garantir autonomia tecnológica e produtiva. Ao mesmo tempo, cresce a pressão internacional e geopolítica sobre a saúde, o que exige alianças regionais e globais, como as parcerias Sul-Sul.
No campo digital, o Programa SUS Digital abre possibilidades para integrar informações e ampliar o acesso. Mas a dependência de grandes empresas estrangeiras, como o armazenamento de dados na Amazon, levanta preocupações sobre colonialismo digital e soberania tecnológica.
Por fim, o financiamento continua sendo o maior obstáculo: o SUS nasceu subfinanciado e foi alvo de sucessivos cortes e medidas de austeridade. Hoje, a disputa por orçamento, agravada pelo peso das emendas parlamentares, ameaça a capacidade de planejamento e execução de políticas públicas universais.
Entre avanços e retrocessos, SUS e o Projeto Montes Claros carregam a mesma lição: sem participação social, sem financiamento justo e sem soberania tecnológica, não há saúde universal possível. Revisitar a utopia do MOC, como diz Sônia “não é olhar para o passado com nostalgia, mas imaginar o futuro que queremos”: um país onde a saúde seja de fato um direito de todos e um pilar da justiça social. Para avançar, será preciso enfrentar desigualdades, garantir financiamento estável, fortalecer a soberania sanitária e digital, e preservar o caráter público e universal do sistema.
(Andrea Vilhena)
Apresentação no III Congresso Internacional de Educação e Inovação, UNIMONTES, Montes Claro, Setembro 2025
Implantado em 1975 sob a direção de Francisco Machado (o Chicão)1, sucedido pela gestão de José Saraiva Felipe2 até 1982, o Projeto Montes Claros (MOC) está completando 50 anos. Sua história foi contada por esses protagonistas do período em que Montes Claros se transformou no que foi chamado de a “Meca da Saúde Pública” por ter se tornado a vitrine da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), ou, nas palavras de Sérgio Arouca, “uma imagem a ser difundida e defendida”3.
Em 1995, por ocasião da celebração dos 20 anos do Projeto MOC, coordenei uma pesquisa – Projeto Montes Claros – A Utopia Revisitada4 –, que buscou analisar esse momento singular e espaço contra-hegemônico de inovação na trajetória de construção do SUS, identificando em suas dimensões histórica, sociológica e política as sementes lançadas, bem como as possibilidades e limitações da mudança social que a RSB se propunha como utopia e práxis política.
Nesse livro, reunimos os resultados da pesquisa com a análise da documentação existente e dos depoimentos colhidos, bem como textos dos principais autores que estudaram e/ou participaram, de diferentes formas, do Projeto MOC, como eu própria. Naquele empreendimento, como agora, visitar e analisar criticamente a experiência passada é um esforço de compreensão do presente e de reflexão estratégica sobre o futuro do SUS. Nesse sentido, importa assinalar o caráter paradigmático do Projeto MOC, um fato singular que ajuda a compreender outras situações, que transcendeu a sua dimensão local para assumir um papel emblemático no processo de construção do SUS.
A singularidade do projeto MOC decorreu de um processo criativo de construção coletiva, marcado pelas seguintes características:
– um novo modelo hierarquizado e regionalizado de organização dos serviços;
– novas práticas pedagógicas de inspiração Paulo Freiriana, na produção coletiva de conhecimentos com respeito aos saberes populares;
– articulação entre os serviços e a formação médica por meio do Internato Rural;
– nova relação entre a equipe de saúde, alterando as relações de poder;
– práticas inovadoras de planejamento e gestão estratégica;
– um modelo de governança baseado na diluição das hierarquias de poder e na legitimação pela participação comunitária de todos os servidores na direção do projeto;
– autonomia e fortalecimento do poder local.
Em síntese, uma combinação de inovação técnica e gerencial – como o sistema de informação, planejamento, programação – subordinada a um processo político emancipatório que assume o conflito como forma de enfrentamento das contradições e se propõe à difusão de uma nova consciência sanitária, mobilização e interpelação de atores políticos e construção de uma nova base social para o exercício do poder.
A pergunta que se coloca de imediato é: como essa experiência de laboratório da democratização da saúde foi possível nos estertores do regime militar e período de transição à democracia, em uma região marcada por contrastes entre o domínio dos coronéis, a aridez do seu solo e a pobreza de sua gente, um pedaço de sertão que iniciava seu processo de industrialização?
As lições do Projeto MOC
A primeira lição que nos ensina essa visita ao Projeto MOC é a complexidade dos fatores que atuam em um dado período histórico, com seus antagonismos e possíveis convergências, algumas vezes fortuitas, mas grandemente decorrentes da capacidade política de suas lideranças para lidar com tais constrangimentos e forjar novas alianças que façam a proposta avançar em direção a uma estratégia definida.
Os recortes históricos são sempre fraturas analíticas, impossível deixar de considerar os antecedentes que formam a moldura na qual os atores se movimentam. A política da Aliança para o Progresso e o financiamento da USAID, mobilizados por uma pastor brasilianista para implantar um programa de controle da natalidade, está na origem do programa IPPEDASAR que foi sucedido pelo Projeto MOC. Esse esforço se entrelaça com a ênfase do governo militar na modernização e no fortalecimento das capacidades estatais, além do empoderamento de uma burocracia competente que se instala na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, contanto com o favorecimento da região pertencente ao Polígono da Seca da SUDENE.
Por outro lado, crescia a mobilização da sociedade nos movimentos sociais, nos movimentos de renovação médica, no movimento da reforma sanitária nos departamentos de Medicina Preventiva e Social, aprofundando as demandas pela democratização da saúde e mudança social. A perspectiva política de atores oriundos da juventude católica e do partido comunista assume a luta pela democracia como estratégia e como tática a ocupação dos espaços institucionais – do projeto MOC ao INAMPS e FIOCRUZ. Eram espaços gerados pelas contradições do modelo vigente na saúde: excludente, privatista e hospitalocêntrico, incapaz de expandir a cobertura e atender às crescentes demandas sociais fruto do acelerado processo de urbanização.
Não há convergências imediatas, há contingências e possibilidades a serem trabalhadas pela habilidade política e orientação ideológica dos principais atores no processo. Por essa razão, é sempre um exercício formal buscar o momento inaugural de um acontecimento político institucional, como o Projeto MOC ou o SUS – que serão demarcados por decretos e leis, mas que não podem ser compreendidos senão como processos históricos, com seus avanços inevitáveis e possíveis retrocessos.
Dois momentos de Montes Claros
As duas gestões do Projeto MOC evidenciam as diferenças no contexto político, social e institucional, além da importância das lideranças na condução do processo. Na primeira fase, se enfatizava o enfrentamento dos conflitos, um modelo de democracia participativa com radical descentralização do poder. Um modelo de planejamento e programação que se aproxima da realidade local, um modelo pedagógico, de supervisão e de trabalho em equipe voltado para a transformação dos agentes e da realidade social. A “administração pelo caos”, como foi algumas vezes intitulada, não deixou de ser inovadora na criação dos dispositivos técnicos, mas sempre subordinando-os à orientação política estratégica. Em outros termos, trata-se do momento de valorização do instituinte, nas relações de poder e nas práticas institucionais, em detrimento da sua institucionalização.
A segunda fase se dá em um outro contexto de transição à democracia, na qual as instituições públicas responsáveis pela saúde buscam saídas institucionais para a necessária expansão da cobertura com redução dos custos – tais como os projetos do PIASS, as AIS e o financiamento do Projeto MOC pelo INAMPS, além do natimorto PREV-SAÚDE. Trata-se do momento instituído, a ser construído em um ambiente de severas limitações financeiras, de fortes disputas com a agudização das contradições com o setor privado e com o saber médico, de busca de alianças com elites políticas locais para dar sustentabilidade ao projeto e favorecer as disputas eleitorais.
Os dilemas entre o instituinte e o instituído, ambos componentes essenciais da democracia, foram por mim apontados – pois não existe transformação social sem o sujeito político que a impulsione, nem um regime democrático sem instituições que assegurem a exigibilidade dos direitos e a provisão dos benefícios5. Trata-se de buscar o justo e oportuno equilíbrio entre essas dimensões democráticas, evitando suas hipertrofias.
As limitações e estrangulamentos enfrentados no Projeto MOC podem ser arrolados como sendo: o déficit e falta de sustentabilidade do financiamento; a oposição do setor privado ao crescimento da rede pública; a oposição da corporação médica às horizontalização das relações na equipe de saúde; a impossibilidade da hierarquização na ausência de serviços nos níveis mais altos de complexidade; as limitações da autonomia do nível local de organização; a precariedade das inserções e vínculos dos profissionais envolvidos nas equipes de saúde; a falta de insumos e medicamentos necessários; o ensino médico predominantemente voltado para a especialização e práticas privadas; a desigual distribuição de profissionais, recursos e equipamentos; dentre outros. Essa lista nos instiga a pensar nos problemas hoje enfrentados pelo SUS.
Críticas foram feitas ao caráter utópico do Projeto MOC assim como à RSB, por se proporem a uma transformação social radicalmente democrática, porque baseada na universalização do direito à saúde e uma prática emancipatória que se fundamenta em uma concepção ampliada da determinação social dos processos de saúde/doença/cuidado. Isto, em uma das sociedades mais desiguais do mundo onde o poder se concentra em mãos de elites conservadoras, exploradoras e extrativistas dos grupos socialmente mais vulneráveis.
Certamente, não se tratava de construir uma república socialista de MOC6, mas de tensionar as estruturas de poder e do saber, construindo novas correlações de forças e uma institucionalidade permeável às demandas populares. Essa utopia não pode ser encerrada no Projeto MOC, pois segue sendo a direção estratégica de muitos movimentos sociais, trabalhadores e usuários do SUS.
Montes Claros e o SUS
O momento de constitucionalização do SUS teve seu auge com sua inscrição na Constituição Federal de 1988 e com a promulgação de duas leis orgânicas (Lei 8080 e Lei 8141) ambas promulgadas em 1990 – sendo a segunda retomada após vetos do presidente Collor, que se recusara a aprovar os itens sobre descentralização e participação, ambos inscritos na CF/88.
O longo momento da institucionalização do SUS, que segue em curso, foi todo ele inscrito em um contexto de austeridade e ajuste fiscal, com predomínio da ideologia neoliberal que privilegia as relações mercantis em detrimento da ação estatal. Assim, as relações econômicas e sociais foram subordinadas a uma lógica financeira, em uma conjuntura de profundas transformações na estrutura do mercado de trabalho com a flexibilização da proteção trabalhista e precarização dos direitos laborais e previdenciários – com consequente redução da capacidade de mobilização de atores tradicionais como sindicatos e burocracia pública.
Assumir o compromisso de levar adiante a construção do SUS em um contexto político e econômico muito adverso – internamente desfavorável e com o assédio das agências internacionais como o FMI e Banco Mundial, além do retrocesso político da OMS/OPAS, bem como com o crescimento e internacionalização do setor privado de seguros e serviços médicos – foi uma opção política trágica, ainda que inevitável. Sem ela, não existiria o SUS – mas as suas marcas estão aí à mostra. Tomemos alguns pontos, sem pretensão de esgotar um tema tão complexo, para analisar hiatos, continuidades e desafios do Projeto MOC até o SUS atual.
1.
A participação no SUS foi institucionalizada a partir do inovador desenho da 8ª Conferência Nacional de Saúde, momento instituinte fundamental. Seguiu-se a organização dos Conselhos de Saúde em todas as instâncias federativas, com um modelo de representação de atores e a criação das instâncias de pactuação e negociação entre os entes governamentais – ou seja as Comissões Intergestores, tripartite e bipartite. Afastou-se assim do modelo basista implantado no Projeto MOC, essencialmente ligado ao planejamento e programação dos serviços locais.
A institucionalização da participação teve ganhos importantes ao desenhar uma estrutura que assegurou a capacidade de negociação dos conflitos, forjou alianças e instituições e aumentou a resistência, como demostrado pelo papel do CNS durante a pandemia. Também representou um avanço na arquitetura de um modelo de federalismo cooperativo – só alterado no governo Bolsonaro, em direção a um federalismo de confrontação. Instituições federativas importantes foram construídas e solidificadas nesse processo, como o CONASS e CONASEMS. Ambos mostraram sua capacidade de articulação, produção de informações e enfrentamento durante a conjuntura crítica da pandemia, aumentando a autonomia dos governos subnacionais em relação às posições negacionistas do governo central.
Ao mesmo tempo, artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 25/09/25, tem como manchete a perda de independência dos Conselhos de Saúde que terminam virando extensões das prefeituras, com suas direções exercidas pela administração municipal, comprometendo suas funções de fiscalização e deliberação. O desafio de enfrentar essa questão está em aberto e passa por medidas como a capacitação, buscada pelo CNS, ou até mesmo pela proposição de um modelo semelhante ao dos Conselhos Tutelares, com seus membros eleitos – o que também corre riscos de extrema politização. A busca da criação e fortalecimento da atuação de Conselhos de Saúde nos locais de serviços pretende tornar a participação mais diretamente vinculada aos usuários, ao invés da participação em Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional que favorece a representação de grupos corporativos melhor organizados.
As Conferências de Saúde em todos os níveis administrativos têm sido estudadas e, mesmo concordando com sua capacidade mobilizadora, discute-se o comprometimento e esvaziamento de seu caráter dialógico, imprescindível à democracia participativa, através do qual se podem chegar a consensos na formação da vontade política, e não apenas um momento de confronto de posições prévias a serem votadas.
Na conjuntura crítica da pandemia o Movimento Sanitário se reorganizou em torno da criação da Frente pela Vida (FpV)7 em um conjunto de ações de resistência e proposições de enfrentamento da pandemia que desaguaram na criação de um novo formato para a participação, as Conferências Livres e Democráticas que proliferaram em diferentes áreas e territórios, em um resgate do equilíbrio entre o instituinte e o instituído na participação social.
2.
O desafio da mudança de um modelo de atenção voltado para a doença em direção a um modelo preventivo que busca aumentar a saúde da população encontrou, na Estratégia de Saúde da Família (ESF), a possibilidade de universalização da cobertura com equipes multiprofissionais e agentes comunitários de saúde, saúde bucal e NASF (núcleo ampliado da Saúde da Família). Depois de 30 anos da existência da ESF o Censo das UBS identificou sua presença em 88,4% das UBS e indicou também a presença do profissional médico, com a retomada do programa Mais Médicos.
Além disso, houve um crescimento da saúde digital nas unidades básicas, necessária para integração das informações, prática da telemedicina e universalização do cuidado em zonas rurais e afastadas. O modelo de agentes comunitários de saúde tem sido exportado para o sistema de saúde inglês, que passa por severas restrições financeiras, como parte da parceria entre o projeto Tecnologia, Informação e Resiliência em Saúde Pública do CEE/Fiocruz e o departamento de Saúde Pública do Imperial College de Londres, como amplamente noticiado pela imprensa.
No entanto, a perspectiva atual se distancia do Projeto MOC em relação à ênfase no caráter político da atenção primária de saúde, assumindo atualmente uma perspectiva de busca de maior efetividade. Novamente a institucionalização em detrimento do processo instituinte da política.
Se o caminho demonstrou ser correto para a universalização do acesso, as enormes desigualdades e assimetrias existentes no país se materializam na rede de atenção primária de saúde – seja na precariedade encontrada nas favelas e periferias das grandes cidades, seja nas carências de equipamentos e profissionais em áreas rurais, indígenas e quilombolas.
Outro ponto central diz respeito à precariedade dos vínculos empregatícios e as baixas remunerações que junto à pouca capacitação das equipes, enfraquecem seu potencial. Constituem-se em desafios permanentemente, em um ambiente de escassez de recursos públicos que permita divisar uma mudança em direção a um novo modelo de vínculo empregatício na saúde.
3.
A hierarquização na rede de serviços, bem como o provimento dos insumos necessários a dar seguimento e referência ao atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), foi um gargalo não superado no Projeto MOC e segue até hoje como uma limitação ao acesso da população à atenção secundária especializada.
As chamadas “filas do SUS” 8 podem ser vistas como uma nomenclatura que carrega forte carga ideológica, influenciando negativamente a percepção da população e o debate político. Devem ser tratadas como listas de espera, na qual opera um processo de cuidado regulado por critérios clínicos de vulnerabilidade, risco e justiça sanitária. No entanto, o sofrimento de quem espera ser atendido, a falta de transparência e comunicação direta com a população e, mais importante, o letárgico fluxo no atendimento, não podem ser tratados como mera ideologia, pois comprometem a vida das pessoas e a imagem do SUS, subtraindo legitimidade aos governantes e gestores.
Neste sentido, um recém-lançado projeto do Ministério da Saúde pretende enfrentar esse problema, aumentando a oferta de médicos especialistas em todo território nacional com redução das desigualdades em sua distribuição territorial. Também promete ampliar o acesso da população à atenção especializada e promover a redução do tempo de espera para consultas, exames e procedimentos especializados. Com a aprovação da MP 1301/2025 pelo Congresso, foi criado o programa Agora tem Especialistas, introduzindo a inovação da troca de dívidas dos planos de saúde e dos hospitais privados por mais cirurgias, atendimentos e exames, dentre outras medidas como mutirões, carreatas, assessorias especializadas a estados e municípios.
Até o momento os hospitais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) têm sido os que imediatamente aderiram ao programa, oferecendo sua rede hospitalar para os atendimentos especializados. Ainda não está claro qual o nível de adesão dos planos de saúde e hospitais privados em relação à proposta de atendimentos por dívidas. As questões que são levantadas em relação a essa articulação com a rede privada para atendimento especializado aos pacientes do SUS são de várias ordens: A) qual o incentivo terá a rede privada para aderir ao programa, já que o pagamento das dívidas com o SUS está sendo protelado há anos? B) Caso a parceria se concretize, qual SUS resultará desse processo, um novo modelo misto público/privado? C) em que medida a fragmentação atual da rede de serviços será aumentada com tal programa?
4.
A relação com o setor privado foi desde suas origens um ponto de conflito e disputa com o sistema público de saúde, inicialmente boicotado em sua criação para, posteriormente, ávido ator nas disputas pelo fundos públicos. A privatização da atenção à saúde com recursos públicos vem desde os governos militares, favorecendo o financiamento com recursos do FAS e a contratação de serviços pela Previdência Social.
À época da criação do SUS a rede hospitalar privada já representava cerca de 70% da oferta de leitos hospitalares, cifra que se mantém até os dias atuais. Além de depender da oferta de serviços da rede incluída no setor complementar, subordinado às normas e parâmetros contratados pelo SUS, novas formas de articulação com o setor privado foram sendo desenvolvidas ao longo dessa trajetória. Com a reforma do Estado do ministro Bresser Pereira, foram introduzidas modalidades como as OS e OSCIPS que, em um contexto de restrição do gasto público com pessoal – imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal –, funcionou como um forte incentivo para que os gestores passassem a administração e prestação dos serviços de saúde para instituições privadas, liberando-se de problemas inerentes à gestão pública.
Já o setor de saúde suplementar, cujo mercado está estagnado na cobertura de cerca de 25% da população, busca aumentar sua lucratividade por meio de isenções e de uma intensa dinâmica de financeirização.
Além das operações na bolsa de valores e da veloz verticalização atualmente assistida, com vista à capitalização e à redução dos gastos, o setor suplementar tem como bandeiras a aprovação de planos populares de saúde – tendo o SUS como retaguarda e resseguro – e a transformação do sistema único em um sistema nacional, isto é, uma junção da rede privada com a rede pública. Só assim poderiam aumentar sua estagnada cobertura, já que o mercado da classe média brasileira não permite outras formas de expansão. A perspectiva de mercantilização da saúde é uma ameaça constante a um sistema em que a saúde é um direito a ser garantido com recursos públicos oriundos da solidária contribuição da sociedade.
5.
A ausência de soberania sanitária ficou escancarada durante a pandemia, mostrando nossa dependência desde equipamentos básicos de proteção até respiradores que poderiam salvar vidas. A vacina contra a covid-19 se tornou uma arena de disputa federativa9. E mesmo em um governo negacionista, as instituições científicas nacionais puderam demonstrar sua capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico, em associação a parceiros internacionais.
O saldo desse período turbulento foi a constatação de que a dependência tecnológica de fármacos e insumos impede a universalização da atenção à saúde, requerendo a implantação de uma política econômica, industrial e social que visa a alcançar a soberania sanitária. A proposta de um Complexo Econômico-Industrial da Saúde como política indutora do desenvolvimento avançou no governo atual, parte da Nova Política Industrial e investimentos do Novo PAC, por meio do lançamento do Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo e do Programa de Inovação e Desenvolvimento Local. A produção de medicamentos para doenças negligenciadas, o estímulo à produção de vacinas contra a dengue e zika vírus por meio do Programa para Preparação em Vacinas, Soros e Hemoderivados, são perspectivas alvissareiras. São esperados maior desenvolvimento tecnológico, a geração de empregos e o provimento de fármacos e insumos necessários à atenção às demandas nacionais.
A pandemia também trouxe também ensinamentos em relação à impossibilidade de enfrentamento das emergências climáticas e sanitárias de forma restrita aos recursos nacionais, sem uma articulação internacional. Nesse sentido, sob a liderança do Brasil na Cúpula dos BRICS em julho passado, foi chancelada uma parceria para a eliminação das doenças determinadas socialmente. A volta da produção de insulina no Brasil, em parceria com a China e a Índia, e de medicamentos para a tuberculose demonstram que o caminho de parceria Sul-Sul deve ser ampliado, envolvendo também os países do Mercosul.
O contexto internacional, no entanto, apresenta novos desafios para a soberania sanitária, a partir das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil pelo governo Trump e as sanções políticas aos profissionais envolvidos no desenvolvimento do Programa Mais Médicos. A saúde está sendo usada como arma em disputas geopolíticas e é preciso ousar mais, retomando a experiência da suspensão de patentes ocorrida em 2007, em relação ao Efavirenz, no tratamento para HIV/aids. A suspensão permitiria usar a tecnologia que está sob monopólio sem pagar royalties.
Mesmo sendo uma medida legítima, assim como o licenciamento compulsório, ambos previstos legalmente no Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio e na legislação nacional, é preciso ter força política para enfrentar mais essa batalha em um cenário no qual um governo autocrático norte-americano pretende se colocar como um poder imperial. A articulação regional e Sul-Sul pode ser um ativo importante nesse enfrentamento, mas será necessário desenvolver nacionalmente uma correlação de forças que sustente tal posição na sociedade e no governo.
6.
O sistema de informação em saúde, desde os primórdios, é visto como essencial para o planejamento, programação, monitoramento, vigilância e coordenação das políticas e programas. Com a expansão do uso das tecnologias digitais e da inteligência artificial a situação na área de saúde digital se colocou como um novo desafio que também abre inúmeras possibilidades na coordenação das informações e no acesso e utilização dos serviços de saúde.
Em 2024, o Ministério da Saúde lançou o Programa SUS Digital por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi), visando fomentar e orientar os planos de transformação digital em municípios e estados, destinando recursos aos níveis subnacionais que cumprirem os requisitos do programa. Os objetivos são fomentar a cultura digital em saúde e a formação permanente, buscar soluções tecnológicas e promover serviços de saúde digital no SUS, buscando alcançar a interoperabilidade na análise e disseminação de dados e informações de saúde.
O Programa SUS Digital se apresenta como uma perspectiva estruturante do sistema de informações e poderá reduzir a fragmentação e aumentar a coordenação de toda a rede, assim como introduzir inovações tecnológicas, capacitação e modalidades de acesso com uso de tecnologia digital. No entanto, alguns questionamentos têm sido levantados, a partir das contradições em relação à dependência da área de saúde da infraestrutura fornecida pelas grandes empresas de tecnologia digital, aumentando não só a dependência mas também os riscos do controle de informações por governos e empresas estrangeiros.
Ao deixar de investir em uma infraestrutura nacional e manter os dados do SUS na Amazon Web Services, medida tomada durante o governo Bolsonaro com a migração dos dados da Data SUS para a Amazon, o que se está promovendo é um colonialismo digital, segundo afirmação de Sérgio Amadeu10 . A redução do papel do Estado e dos recursos públicos para investimento leva os governos, sob o torniquete das medidas de austeridade, a adotarem a solução mais “viável” – sendo essa a compra de serviços no mercado internacional, como na nuvem de uma plataforma de dados, em franca contradição com os objetivos de alcançar a soberania sanitária e digital.
7.
Isso nos leva a terminar essa análise voltando ao tema de todas as lutas em prol da construção do SUS, isto é: que seja assegurado o financiamento público sustentável e suficiente para universalizar o pleno direito à saúde. O que tem sido negado desde o não cumprimento das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988, passando pela apropriação de recursos da CPMF e todas as medidas que implicaram no subfinanciamento como o teto de gastos do governo Temer e o desfinanciamento do governo Bolsonaro. A trajetória de idas e vindas na construção do SUS e outras políticas de proteção social produz brechas que podem ser facilmente utilizadas no desmonte de direitos e das capacidades estatais, das políticas e instituições tão arduamente construídos.
A manutenção do arcabouço fiscal no governo Lula vulnerabiliza a proteção social e transforma em retórica muitos dos programas e políticas inovadoras, sabotando expectativas e frustrando esperanças de um país mais justo e soberano. A apropriação de parcela significativa do orçamento pelo Legislativo, através de alocação de recursos para políticas públicas por meio de Emendas Parlamentares, tem provocado alguns fenômenos: um sequestro da política no parlamento, a reprodução do conservadorismo nas disputas eleitorais e a desarticulação das políticas públicas, como as de Saúde, para qual devem ser canalizados 50% dos recursos da Emendas. Além disso, elas não estão submetidas aos critérios que regem a administração pública como transparência, impessoalidade, moralidade e responsabilização.
O enfrentamento dessa situação será necessário para garantir o restabelecimento do pacto federativo, do equilíbrio entre os poderes e da efetividade das políticas públicas. Isso implica em que o governo aposte mais na construção de uma base social que lhe assegure governabilidade do que em um modelo defasado de alianças políticas com setores conservadores, que lhe tem negado a indispensável governança. Torna-se imprescindível buscar um novo equilíbrio entre as forças populares instituintes e as estruturas político-institucionais instituídas, sem absolutizar a negociação e a negação do conflito.
Por fim, revisitar as utopias de um país soberano é entender que não há soberania a não ser sob a primazia da justiça social e do direito à vida e à saúde. Não é olhar para o passado, é construir o futuro que almejamos.
1 Machado, Francisco de Assis – O SUS que eu Vivi – de Clinico a Sanitarista, rio de Janeiro, Cebes, 2010
2 Saraiva, José Felipe – SUS conquista do povo brasileiro – Narrativa de um Sujeito em Ação, Brasília, Editora Ecos/UNB, 2022
3 Citado por Van Stralen, C- do Projeto de Montes Claros para o Sistema Único de Saúde: o Hiato entre Ideologia e Realizações Práticas in Fleury, S Projeto Montes Claros a Utopia Revisitada, Rio de Janeiro, ABRASCO, 1995
4 Fleury, Sonia. (org.) – Projeto Montes Claros– a Utopia Revisitada; Rio de Janeiro, ABRASCO, 1995
5 Fleury, S. Reforma sanitária Brasileira: Dilemas entre o instituinte e o instituído. Ciênc. saúde coletiva 14 (3) • Jun 2009
6 Fonseca Sobrinho, D. Ascenção e queda da República Socialista de Montes Claros, in Fleury- Projeto Montes Claros – A Utopia Revisitada,, op cit.
7 Fleury, S et ali A Frente pela Vida e a atualização do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, SAÚDE DEBATE | RIO DE JANEIRO, V. 48, N. 141, e8973, Abr-Jun 2024
814 Elaine Maria Giannotti, Marília Louvison, Arthur Chioro Listas de espera na atenção ambulatorial especializada: reflexões sobre um conceito crítico para o Sistema Único de Saúde, Cadernos de Saúde Pública, v.41 n.6 (2025): junho
9 Fleury, S e Fava, V- Vacina contra a Covid-19: Arena de disputa federativa brasileira. Saúde em Debate 46 (spe1)2022
10 Amadeu da Silveira, S. A HIPÓTESE DO COLONIALISMO DE DADOS E O NEOLIBERALISMO in Cassino, C, Souza, J e Amadeu da Silveira, S – Colonialismo de Dados – Como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo, Autonomia Literária, 2021
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.