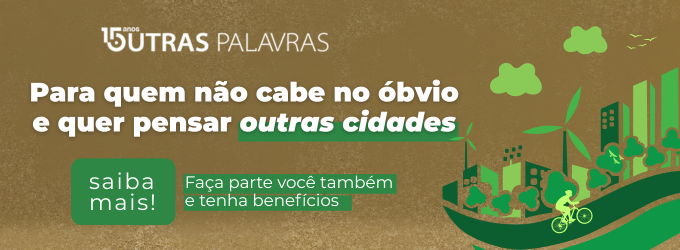Dia da Saúde Mental: repensar o trabalho
Autoritarismo, longas jornadas, assédio, hiperconectividade – e um cenário agravado com algoritmos e IA. Não adianta individualizar o sofrimento psíquico, é preciso transformar o trabalho e a produção social. E reconciliar a saúde mental com a saúde do trabalhador
Publicado 10/10/2025 às 10:15 - Atualizado 17/12/2025 às 18:26

O Dia Mundial da Saúde Mental vem sendo tratado, cada vez mais, como data do marketing e dos slogans, aprisionado em campanhas que sugerem hashtags, jornadas de autocuidado e resiliência em pílulas. Muito longe das causas reais que atravessam o sofrimento psíquico em tempos de crise social e produtiva. Não falta dado que escancare: segundo o levantamento Ipsos 2025, para 52% dos brasileiros hoje a saúde mental é considerada o maior problema de saúde — eram 18% em 2018.
O número de afastamentos do trabalho, tentativas de suicídio, prescrição de psicofármacos e uso de substâncias nunca foi tão alto. Para pensar o mal-estar contemporâneo, não basta inventar mais remédios: é preciso encarar a renda, o trabalho, a moradia, os algoritmos e todo o sistema social como determinantes da saúde mental.
Pesquisa do FGV Ibre mostra que 7,5% dos trabalhadores declaram insatisfação, que reside em salário baixo, carga horária exaustiva e saúde mental. Dois em cada três brasileiros cogitam pedir demissão, 16% pensam nisso com frequência. O FGV Engaja S/A indica: 66% dos profissionais já quiseram abandonar a empresa por falta de reconhecimento, conflitos éticos, chefias abusivas, ou simplesmente por não aguentarem mais o ambiente. Entre adolescentes e jovens, os principais motivos para abandonar empregos formais são salário, flexibilidade e saúde mental.
A narrativa dominante — de que o trabalhador insatisfeito é frágil, pouco resiliente ou ansioso demais — serve apenas ao gerenciamento da culpa e da medicalização. O adoecimento não está na psique isolada, mas na estrutura do trabalho precarizado. Setores como a saúde, bancos, segurança pública e agricultura concentram epidemias silenciosas de burnout, depressão e acidentes de trabalho. E, para muitos, resta apenas a saída de suportar o insuportável com psicofármacos.
Políticas públicas, sindicatos e a história da luta
O direito à saúde, só colocado em prática em nossa Constituição de 1988, surge de duas lutas: a Reforma Sanitária e o Movimento Sindical da Saúde do Trabalhador. Mas a integração entre saúde mental e saúde do trabalhador nunca foi plena — e os sindicatos, muitas vezes, preferiram negociar convênios médicos ao invés de disputar programas universais do SUS.
O Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde do Trabalhador (Diesat) e o Programa do Trabalhador Químico do ABCD Paulista são exemplos históricos de inovação. O SUS passou a incorporar o trabalho como determinante, mas a saúde mental nunca se tornou prioridade nas políticas públicas nem nos debates sindicais.
Precisamos de políticas públicas de Saúde Mental Relacionada ao Trabalho que articulem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) à Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (RENASTT). Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests) precisam se conversar, se articular e enredar uma rede que, hoje, não enreda. Com vigilância, participação popular e prevenção e promoção à saúde mental.
O primeiro tem dado conta das esquizofrenias e transtornos de personalidade crônicas e o segundo se ocupa daqueles acidentes aparentes ou adoecimentos visíveis de nexo causal facilitado em causa-efeito direto. Não há espaço para formulação de linhas de cuidado aos chamados Agravos de Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho.
As dimensões psicossociais
A Saúde Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT) parte do princípio que o sofrimento não reside no sujeito, mas nas relações entre organização do trabalho e subjetividade. Ambientes de metas inalcançáveis, controle excessivo, jornadas invisíveis, chefias por humilhação e instabilidade sistêmica criam adoecimento, alienação e exaustão. A identificação desses agravos e transtornos exige uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial — fugindo da armadilha do autocuidado individualista.
As dimensões psicossociais são velhas conhecidas do(a) trabalhador(a) brasileiro(a): autoritarismo da gestão, sobrecarga mental, jornada longa, desajuste pessoa-tarefa, deterioração das relações, assédio, comunicação falha e hiperconectividade. Não é questão de medir estresse como agente químico, mas de enfrentar a complexidade do adoecimento enquanto fenômeno social.
Violência psicológica e assédio moral/sexual, por exemplo, são endêmicos e raramente enfrentados. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 738 milhões de trabalhadores no mundo sofrem violência ou assédio. No Brasil, apenas 6% das negociações coletivas em 2023 incluíram cláusulas de combate ao assédio; menos da metade dos(as) trabalhadores(as) está coberta por acordos.
As empresas prometem campanhas e canais de denúncia, mas sem fortalecimento sindical e fiscalização, a cultura da humilhação vira rotina institucionalizada. Os mais vulneráveis — mulheres, jovens, negros, LGBTQIAP+ — pagam o preço da precarização do cotidiano laboral e social.
Plataformização, algoritmos, IA e saúde mental
O trabalho mediado por aplicativos e algoritmos acentua o adoecimento: jornadas intermináveis, domínio dos dados, expropriação de tempo livre e senso de propósito destruído. Mais de 1 milhão de pessoas dependem dos aplicativos para sobreviver, em meio à insegurança alimentar e aumento dos acidentes de trabalho. Pesquisas apontam que os docentes de instituições privadas vivem jornadas invisíveis, submetidos à gestão algorítmica, gamificação e remuneração por tarefa. A automação com IA expande a incerteza e a competição, com risco real de explosão do sofrimento psíquico.
A Inteligência Artificial (IA), por exemplo, chega ao Sistema Único de Saúde (SUS) com a promessa de democratizar o acesso, mas sem revisão de jornadas, metas, salários e vínculos, o sofrimento vira indicador de desempenho e reforça a medicalização do cotidiano. O famigerado e‑Saúde Mental e aplicativos de monitoramento só farão sentido se integrarem cuidado, privacidade dos dados e participação social — nunca como substitutos das soluções estruturais.
Clima, meio ambiente e saúde mental
É impossível pensar saúde mental sem encarar o desafio ambiental: calor extremo, agrotóxicos e crise climática. A Organização Mundial do Trabalho (OMS) alerta para 2,4 bilhões de trabalhadores expostos ao calor, acidentes e doenças associadas. Caso emblemático é o herbicida Paraquat, associado à onda de suicídios em países como Suriname e Sri Lanka, além de Parkinson, fibrose e câncer – banido no Brasil em 2017, mas alvo de lobby do agronegócio para sua reintrodução. Combater agrotóxicos e adaptar o trabalho ao clima são políticas de saúde mental e sobrevivência coletiva.
Enfim, a literatura internacional repousa sua esperança sobre receitas que, ao nosso ver, deveriam ser simples: políticas redistributivas. Aumento de salário-mínimo, programas universais de transferência de renda, aluguel social e tributação dos super-ricos, moradia digna em que famílias que saem da rua recuperam autonomia e reduzam agravos de ordem psíquica.
Caminhos e horizontes anticapitalistas
Podemos pensar algumas propostas iniciais para promover esse encontro entre a Saúde Mental e a Saúde do Trabalhador:
1. Aplicar o que já existe sem precisar “reinventar a roda”. Antecipar a inclusão das dimensões psicossociais seja via Norma Regulamentadora n. 01 (NR‑1) ou Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) de forma efetiva: adaptando processos, reduzindo jornadas (vide a luta pela extinção da escala 6×1) e garantir pausas remuneradas. Os dados informacionais públicos de saúde mental e trabalho devem ser integrados ao sistema de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
2. Tratar renda e moradia como medicamento. Renda básica, Bolsa Família ampliado, aluguel social e tributação dos super-ricos são políticas comprovadamente eficazes pela literatura científica mundial.
3. Retomar o SUS como projeto coletivo. Rede de CAPS forte, CERESTs, concursos públicos e vínculos estáveis — evitar terceirizações que precarizam os profissionais.
4. Garantir direitos concretos. Ampliar negociação coletiva, incluir cláusulas contra assédio e precarização; regular plataformas, revalorizar a tão aviltada CLT, dar autonomia e recursos aos sindicatos.
5. Controlar ambiente e clima. Banir agrotóxicos tóxicos, adaptar jornadas ao calor, oferecer equipamentos adequados e proteger o meio ambiente.
6. Humanizar a tecnologia. Ferramentas digitais podem ampliar o cuidado, mas só em diálogo constante com jornada, salário, reconhecimento e participação.
Unir os legados da reforma sanitária e da luta antimanicomial
Falar de saúde mental em 2025 é compreender o paradigma ético-político ampliado da questão e recusar o teatro cosmético do autocuidado singularizado. Empresas vendem bem-estar, mas ampliam jornadas e precarizam vínculos; trabalhadores e pesquisadores gritam por salário, moradia, tempo livre e reconhecimento.
O legado da reforma sanitária e das lutas antimanicomiais exige coerência: não há cuidado sem transformar o trabalho, a produção social. Esse 10 de Outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, tem que ser mais que propaganda. Não à toa, é a data em que completa-se 1 ano de existência de nosso projeto “Caminhos do Trabalho UFF” (@caminhosdotrabalhouff), em que prestamos assistência à saúde mental de trabalhadores(as).
Que seja, finalmente, uma data emblemática de exigência por jornadas decentes, política de renda e moradia, dados informacionais públicos, redes comunitárias e um SUS forte — porque saúde mental só existe onde há vida digna, trabalho como direito humano e solidariedade coletiva de classe.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras