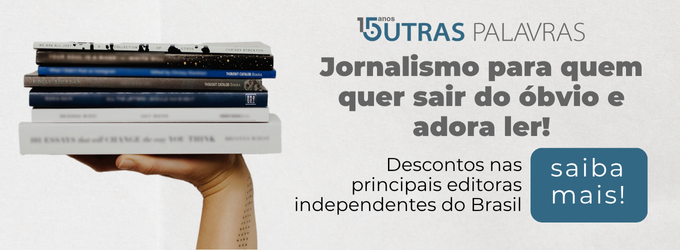Belém: as lutas pela saúde na cidade da COP
Vereadora denuncia: obras ampliaram desigualdades e mantiveram problemas estruturais de saneamento. Investimento público deve ser pensado para a realidade amazônica, junto à população. Mas não haverá avanços reais sem radicalidade na luta
Publicado 18/11/2025 às 12:45 - Atualizado 18/11/2025 às 15:59

Vivi Reis em entrevista a Sophia Vieira
Com os eventos da COP30 e da Cúpula dos Povos, os olhos do mundo se voltaram a Belém do Pará. Não faltaram críticas aos preços altos de hospedagem e alimentação na área central, que receberam a população de fora. Mas é necessário pensar e atuar também sobre a realidade de quem sempre esteve e permanecerá no local após esses eventos. Dados do Instituto Água e Saneamento mostram um enorme déficit sanitário da capital: 80% do município não é atendida com esgoto. Essa foi uma das polêmicas locais durante as obras que buscaram estruturar a cidade para acolher a Conferência, mas que mantiveram invisível parte da população.
No meio dessa disputa, movimentos indígenas levaram suas denúncias para dentro e fora dos espaços oficiais da COP. A ocupação da Zona Azul pelos indígenas do Baixo Tapajós expôs a contradição estrutural da conferência: discutir clima sem o protagonismo daqueles que enfrentam mais frontalmente os impactos da crise ambiental. A ação denunciou o Decreto nº 12.600 do governo federal, que privatiza as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós. Também expôs ausência de participação efetiva dos povos originários nos debates climáticos.
Ao mesmo tempo, a Marcha Saúde e Clima reforçou as críticas às desigualdades que afetam o cenário da saúde e saneamento da região, agravadas pelos preparativos da COP30. Enquanto bairros centrais receberam investimentos emergenciais, periferias seguiram sem saneamento básico e ainda acumularam resíduos das obras. Para movimentos sociais, profissionais da saúde e lideranças amazônicas, esse contraste escancara o racismo ambiental, parte estruturante das políticas urbanas da cidade e reforça como a emergência climática aprofunda vulnerabilidades históricas.
Para compreender a complexidade desse cenário, Outra Saúde entrevistou Vivi Reis, fisioterapeuta, ex-deputada federal e vereadora de Belém pelo PSOL. Atuante na luta por saúde pública, direitos dos povos indígenas, combate ao racismo ambiental e articulação entre juventude e movimentos sociais, Vivi tem ocupado as ruas da cidade durante as mobilizações populares que denunciam o que a “COP oficial” esconde.

Fique com a entrevista.
No dia 11, assistimos a um ato encabeçado pelos indígenas do Baixo Tapajós, que ocuparam a Zona Azul da COP ao lado da juventude ecossocialista. Algumas das demandas colocadas pelo bloco diziam respeito à não privatização do rio Tapajós-Arapium, além da denúncia sobre a falta de espaço real aos povos originários na COP. Você pode falar sobre a luta que os indígenas do Baixo Tapajós travam aqui na região e como é construída essa relação com o movimento estudantil e social?
Primeiramente, dizer que essa é uma luta histórica. Os povos indígenas vêm protagonizando lutas importantes e são resistência: os territórios indígenas são as áreas que estão melhor preservadas. Aqui, a gente vê uma política de tentativa de retirar os indígenas das suas terras, e por isso defendemos a garantia de demarcação dos territórios indígenas, para que estes possam seguir nos seus territórios e preservá-los.
Nesse sentido, a luta em defesa dos rios e da floresta é prioritária. Por isso, hoje existe essa pauta central contra a privatização do Tapajós, além da necessidade de defender a cultura, a língua e a educação indígena.
Aqui em Belém nós iniciamos o ano com a ocupação da Secretaria de Educação, que foi protagonizada por indígenas. Lado a lado com eles estavam também os trabalhadores e trabalhadoras da educação, a juventude e movimentos sociais. Esse foi um momento importante de derrota ao governador do estado [Helder Barbalho – MDB], que é altamente elitista, de uma família tradicional, oligárquica. Quando ocupamos a Seduc, dizíamos: é esse o tom que nós queremos para a COP30.
A ocupação da Zona Azul foi mais um episódio desse processo. Isso não está descolado de um acúmulo que já vem sendo feito, de lutas organizadas com o protagonismo de povos da Amazônia e com o apoio também da juventude ecossocialista, dos trabalhadores e dos movimentos sociais.
Se hoje, aqui em Belém do Pará, está em debate a política internacional, o meio ambiente e as mudanças climáticas, isso não pode ser feito sem o protagonismo daqueles que são os principais atingidos por essas mudanças climáticas. Nesse sentido, o recado que foi dado é que a luta que transforma a vida ocupa os espaços para denunciar a farsa e a tentativa de se iludir com o que a COP vem fazendo.
Já foi mostrado que, na prática, as COPs têm pouco influenciado o combate às mudanças climáticas, que muitas vezes as respostas e alternativas são construídas de fato por aqueles que estão no território e nas periferias. São esses que sabem onde a dor está mais forte e como pensar alternativas. As maiores tecnologias são as ancestrais, é o saber popular dos povos tradicionais. É um conhecimento que a gente não vai ver sendo debatido e colocado nos balcões de negócios. Não tem como ter expectativa e esperança num espaço patrocinado e ocupado por pessoas interessadas em aumentar os seus lucros acima da vida.
Durante a Marcha Saúde e Clima, profissionais da saúde comentaram sobre como a crise climática afeta principalmente a saúde das comunidades tradicionais, pois afeta os recursos, alimentos e agrava a crise econômica e social. Como você vê que a emergência climática agrava os efeitos da desigualdade aqui na região? E como a COP tem evidenciado essas vulnerabilidades?
Aqui o racismo ambiental fica muito evidente. Nesse período de COP, as obras e investimentos foram priorizados para os centros da cidade, para as regiões que já são privilegiadas. Enquanto isso, as regiões periféricas sofrem com o lixo das obras. Isso foi um projeto político mesmo: colocaram o lixo da obra da COP em regiões como a Vila da Barca, que é uma região de palafitas, periférica, em que a população não tem saneamento básico.
Também houve um projeto de esgoto nessa região: o esgoto do bairro central, do metro quadrado mais caro de Belém. Eles estavam com uma proposta de colocar para ser feita uma unidade de tratamento na Vila da Barca, que é uma região periférica. Aí a gente já percebe que o projeto voltado para a construção e preparação da COP foi baseado no racismo ambiental.
Isso atinge diretamente a saúde das populações. Estou falando aqui de uma realidade da periferia de Belém, em que a população sofre sem saneamento básico. A saúde é impactada diretamente pela falta de saneamento básico, enquanto se pensa toda uma estrutura, logística e investimento para as áreas centrais.
Se a gente for falar de regiões fora de Belém, podemos citar locais como Barcarena, que sofre com as mineradoras; a própria região do Tapajós, que sofre com a contaminação dos rios pela mineração; e regiões como Marabá, que sofrem com a tentativa de explosão dentro do rio. Eles querem explodir uma pedra, que é o Pedral do Lourenção, para criar uma hidrovia para escoar soja. Então, isso mostra que não é a saúde do ambiente, da natureza e das pessoas que está sendo priorizada.
Temos ainda a preocupação com a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Além da ameaça à biodiversidade, isso ameaça a própria vida dos povos que estão nesse estado, os territórios que serão impactados.
Quando falamos de saúde – e eu sou trabalhadora da saúde, sou fisioterapeuta –, falamos de determinantes sociais do processo saúde-doença e também do conceito de saúde única. Saúde não é só o orgânico: é saúde mental, condições de moradia, educação, acesso aos serviços. É também falar de classe, raça e gênero. As principais usuárias do SUS são mulheres negras, periféricas, que estão na fila com seus filhos no colo, mais impactadas quando falta política pública.
Falar de saúde é falar de comida na mesa, do combate ao agronegócio, ao agrotóxico, é falar de saúde mental. É falar de toda uma complexidade de elementos em que o capital vem nos adoecendo. Hoje é muito bonito dizer que todo mundo tem que fazer terapia, ter hábitos saudáveis, se hidratar, comer tal coisa. Mas quem de fato tem condições para isso? Quem tem acesso a comida saudável, transporte público de qualidade, espaços respiráveis?
Defender a saúde é defender um sistema que priorize os serviços públicos e garanta espaços saudáveis. Para isso, é fundamental combater o capitalismo, o racismo e qualquer forma de desigualdade e opressão.
Quais são as ações mais urgentes para garantir justiça socioambiental e melhorar a qualidade de vida em Belém e na região? Pensando em clima, território, saúde indígena e saneamento.
É uma questão complexa. Belém é uma cidade que precisa se debruçar muito mais na garantia de serviços públicos de qualidade e que sejam serviços adequados para a realidade da Amazônia.
Pensar um transporte público de qualidade, com mobilidade ativa e sustentável, é um ponto fundamental para nós. Garantir que a pavimentação das vias de Belém seja feita de forma prioritária com a pavimentação ecológica e não com asfalto.
Garantir comida saudável na mesa e que os serviços públicos do nosso município tenham um cardápio saudável, sustentável e com opção vegetariana. E que nós precisamos também legitimar os direitos da natureza e dos nossos rios, fazendo com que esses possam ser reconhecidos como sujeitos de direito.
E, por fim, existe um problema urgente, que é o combate às grandes corporativas que hoje estão à frente do processo de coleta dos resíduos sólidos de Belém, e que isso precisa ser pensado de fato. Quais as alternativas? Primeiro, pensar um programa de reciclagem com incentivo das cooperativas. Segundo, tirar esse monopólio tanto da coleta seletiva, da coleta de lixo e do transporte público, porque isso está na mão de grandes empresários e não serão eles que vão garantir, de fato, que se tenha uma política ambiental.
É preciso combater os modos punitivistas que tentam se impor aqui na cidade, voltados para a questão ambiental, e fortalecer uma política ambiental de consciência política e de garantia de que a população também daqui da Amazônia possa protagonizar esses espaços de discussão, de debate e de construção e fortalecimento das políticas públicas.
A ocupação explicitou a COP como um espaço que falha em acolher as comunidades tradicionais e os lutadores ambientais. Também evidenciou uma diferença central dentro dos movimentos sociais: aqueles que demandam das instituições e confiam a elas o futuro do planeta e os que não se contentam com os muros colocados pela diplomacia. Na sua opinião, qual deve ser a estratégia?
Primeiro, os grandes empresários não vão pensar soluções para os problemas vividos pela maior parte da população. A canetada não vai resolver os problemas que estão postos hoje.
Por isso, é papel dos movimentos sociais a radicalidade. Existe uma tentativa de cooptação por parte dos governos – sejam eles do centrão, da direita (que é a mesma coisa), e também por governos de esquerda. O papel dos movimentos sociais não é se render à política institucional, mas fazer a luta fora dos espaços institucionais como denúncia e pressão política.
Se vende muito a imagem de alternativas que, na prática, não passam de capitalismo verde e greenwashing. Precisamos de alternativas mais radicais. Eu apoio esse campo que entende que as respostas não virão de cima, mas do povo organizado. As denúncias e pressões políticas são mais eficazes do que ocupar espaços institucionais.
Nós, parlamentares, temos um papel também: fortalecer as lutas, levar denúncias para os nossos espaços e usar nossos mandatos como trincheira de luta.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras