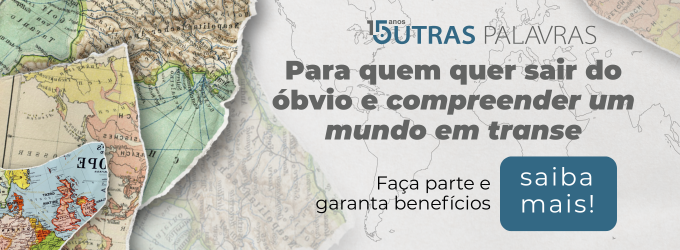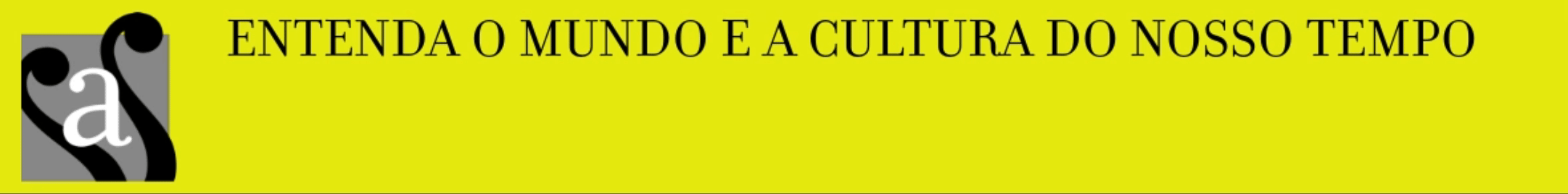De onde veio e para onde vai a Saúde Coletiva
Pensamento contra-hegemônico nasceu nas universidades latino-americanas, sempre ligado às lutas políticas e sociais da região. Hoje, encara enormes desafios, mas sua marca de solidariedade e seu repertório de 40 anos permitem enfrentá-los. Fala um de seus fundadores
Publicado 13/08/2025 às 10:32 - Atualizado 26/12/2025 às 10:07
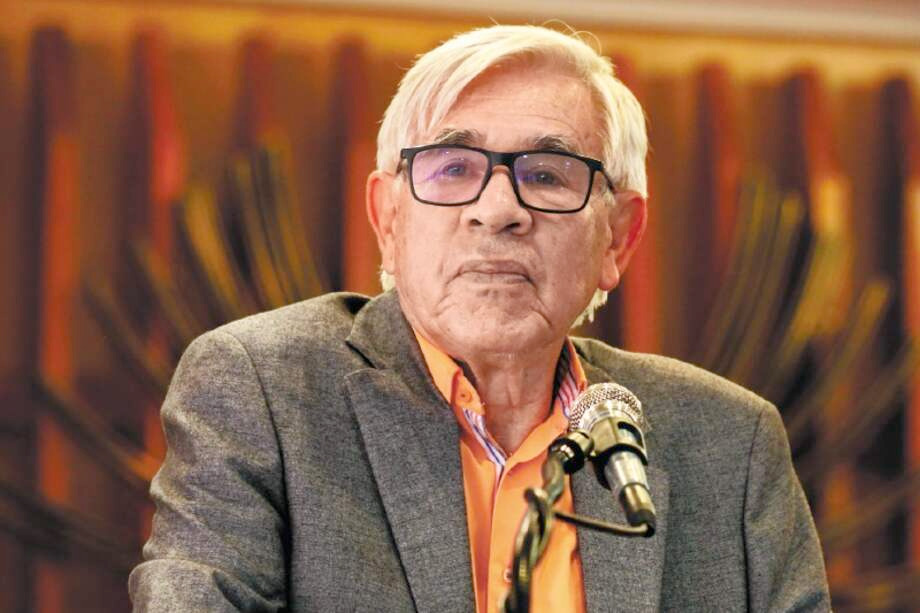
Ao final do XVIII Congresso Latino-americano de Medicina Social e Saúde Coletiva, na mesa Alames 40 anos: avaliar o presente e construir o futuro, Saúl Franco, médico social colombiano e cofundador da Associação, fez uma reconstituição da sua história e elencou os campos estratégicos para o pensamento e a ação. Hoje, Outra Saúde publica a íntegra de seu discurso, que você lê abaixo.
Por Saúl Franco | Tradução: Gabriela Leite
Sobreviver quarenta anos não é pouca coisa. E ainda mais quando se trata de um pensamento contra-hegemônico e de uma organização com presença regional e escassos recursos materiais. Na Associação Latino-Americana de Medicina Social (Alames), nós conseguimos. Estamos felizes por isso e esperamos continuar conseguindo por muitos anos mais.
Aproveitando a oportunidade deste ato comemorativo, compartilho hoje com vocês uma síntese das reflexões que venho fazendo a propósito destes primeiros 40 anos da Alames:
I) Sobre o surgimento do pensamento médico-social na região e o da própria Associação;
II) Sobre alguns dos traços identitários da Alames;
III) Sobre as possíveis frentes estratégicas de pensamento e ação.
I. Sobre o surgimento do pensamento médico-social e da Alames
Embora, como expressou o líder indígena Ailton Krenak neste Congresso, a saúde coletiva tenha nascido de baixo para cima, a corrente médico-social surgiu na região várias décadas antes da nossa Associação. Pessoalmente, considero que, com raízes centenárias na Europa Ocidental – Alemanha, França, Inglaterra e Bélgica (Rosen, 1985) –, a Medicina Social começou a se consolidar na América Latina em meados do século passado. Foram fundamentais as tentativas de integrar as ciências sociais ao campo da saúde e as reformulações na educação médica.
Um marco importante foi a criação, no Chile, em 1957, pela UNESCO, da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso), onde se formaram alguns dos médicos e/ou sociólogos da região que se interessaram em explorar as relações e a aplicação das ciências sociais à saúde, tornando-se depois líderes e promotores dessa área de conhecimento e ação.
Possivelmente, sem que fosse essa a intenção, o evento inaugural da corrente médico-social na América Latina foi a reunião sobre o ensino das ciências sociais nas faculdades de medicina, promovida em Cuenca, Equador, em 1972, pela Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) e liderada por Juan César García, médico argentino formado em sociologia pela Flacso.
Na década de setenta, multiplicaram-se os núcleos de pensamento médico-social, entre eles os da Flacso e da Escola de Saúde Pública da Universidade de Antioquia, em Medelín, Colômbia. Surgiram também alguns programas de pós-graduação em Medicina Social, em especial o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado da Guanabara em 1971 – hoje Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sede do nosso XVIII Congresso – e, em 1975, o Mestrado em Medicina Social da Universidade Autônoma Metropolitana, campus Xochimilco, no México.
Essas iniciativas contaram com o apoio de funcionários da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), como Juan César García e María Isabel Rodríguez, e com a participação de intelectuais de vários países, como a mestra e amiga Asa Cristina Laurell, aqui presente, além de acadêmicos exilados pelas ditaduras e pela perseguição política na região, entre eles seu primeiro diretor, o mestre e amigo Hugo Mercer, que também nos acompanha hoje.
Na mesma década, surgiram institutos de pesquisa médico-social em Quito (Equador), Rosario (Argentina), Santo Domingo (República Dominicana) e Havana (Cuba). Além disso, naqueles anos, começaram a ser produzidas pesquisas e teses que fundamentaram o desenvolvimento do pensamento médico-social. Dentre elas, quero destacar: a tese de doutorado de Sergio Arouca no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas (Unicamp), Brasil, em 1975: “O dilema preventivista” (Arouca, 2003); a tese de Alberto Vasco em sociologia na FLACSO, em 1973: “Saúde, medicina e classes sociais” (Vasco, 1986); e a tese de Ana María Tambellini sobre a “Epidemiologia dos acidentes de trânsito”.
A partir de 1981, começaram a ser realizados os Seminários Latino-Americanos de Medicina Social. Em dezembro de 1983, ocorreu em Cuenca um novo encontro sobre ciências sociais e saúde, liderado por Juan César García. E foi justamente no III Seminário Latino-Americano de Medicina Social, em Ouro Preto (Brasil), em novembro de 1984, com o tema geral “Crise, saúde e luta pela paz”, que se criaram as condições e se tomou a decisão de fundar a Alames (Abrasco, 1987).
No documento de sua criação – a Ata de Ouro Preto, de 22 de novembro de 1984 –, estão registradas as condições que a tornaram possível e os objetivos a serem alcançados. Entre eles, fortalecer e desenvolver a corrente médico-social no continente; garantir sua presença e participação nos campos da pesquisa, docência, serviços de saúde e trabalho com as populações; e tornar efetiva a solidariedade com os países, instituições e pessoas que dela necessitem.
No cumprimento de seus objetivos, a Associação realizou, em seus primeiros quarenta anos, uma ampla atividade acadêmica, política, de divulgação e de solidariedade. Seus êxitos, dificuldades e desafios vêm sendo discutidos nestes dias e estão registrados na relatoria apresentada neste Congresso.
II. Alguns traços da identidade da Alames
Dentre as múltiplas características que marcam nossa Associação, gostaria de destacar brevemente quatro:
1. Para além da saúde pública convencional: a construção do pensamento crítico em saúde
A corrente da Medicina Social surgiu como parte de uma ruptura com as bases teóricas e práticas tanto da medicina biomédica quanto, especialmente, da saúde pública e da medicina preventiva convencionais. A partir de uma série de encontros sobre seu ensino, realizados na década de 1950 em países da Europa, nos Estados Unidos e em nações latino-americanas como Chile e México, abriram-se as portas para uma crítica profunda a seus alcances e limitações.
A já mencionada tese de Arouca no Brasil, no início dos anos 1970 – O dilema preventivista –, pode ser considerada um dos marcos dessa ruptura teórica. Da mesma forma, as tensões entre a escola clássica de saúde pública do México e o mestrado em medicina social da UAM-Xochimilco representam expressões concretas desse processo de rompimento com o modelo tradicional e do surgimento da nova corrente. No caso do Brasil, a Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) introduziu mudanças radicais em 1967 (Castro, 2024).
Em todos os casos, tratava-se de a) a crítica ao uni ou multicausalismo e a abertura para a compreensão da determinação social dos processos relacionados à vida, à saúde, à doença e à morte; b) a consequente insuficiência das ciências bio-naturais para dar conta desses processos e a necessidade de abrir as portas e integrar os aportes das ciências sociais, em especial a antropologia, a economia, a sociologia e a história; c) os limites da quantificação de fenômenos isolados e a necessidade não apenas de métodos qualitativos, mas de uma abordagem dialética; d) a inconformidade com a tecnoburocratização do setor da saúde pública e a verticalidade de seus programas; e) a necessidade de bases mais científicas, programas mais ligados às dinâmicas sociais e práticas mais situadas e comprometidas politicamente.
Essas mudanças, por sua vez, reconfiguravam a maneira de abordar temas já incluídos nas preocupações da saúde pública – como a saúde no trabalho, as doenças tropicais e as relações entre o Estado e a saúde. Abriam espaço para outras temáticas como o direito à saúde, as relações entre democracia e saúde, crise e saúde, os problemas ambientais, e os questionamentos e propostas apresentados pelos movimentos feministas.
Além dos trabalhos já citados, entre as obras que primeiro impulsionaram e depois consolidaram essas rupturas merecem ser mencionadas as de Asa Cristina Laurell (1978, 1994); Juan Samaja (1977); Madel Luz (1988); Saúl Franco, Everardo Nunes, Jaime Breilh (1991); Jaime Breilh (2004); Mario Testa (1997).
Embora tenhamos avançado consideravelmente nessas frentes de ruptura e estejamos consolidando um pensamento crítico alternativo – com diversas vertentes e intensos debates internos –, o caminho a percorrer e os novos desafios a enfrentar são ainda maiores.
Podemos afirmar que a corrente médico-social na América Latina ainda está em construção e que a Alames, como instituição que buscou impulsioná-la e organizá-la, enfrenta hoje desafios e tarefas ainda mais complexos do que os previstos em 1984. Porém, felizmente, conta agora com um rico patrimônio temático, metodológico e prático que lhe permite olhar para o futuro com otimismo e tranquilidade.
2. A saúde na política e a política na saúde
Não é nova a consciência de que o campo da saúde é essencialmente político. É bastante conhecida a afirmação de Rudolf Virchow, em meados do século XIX na Alemanha: “A medicina é uma ciência social, e a política nada mais é do que medicina em grande escala” (Rosen, 1985, p. 79). Seu pensamento chocava-se então (e ainda se choca hoje) com concepções e práticas que pretendem manter os temas, as instituições e os profissionais da saúde – em particular da saúde pública – à margem da política, em nome de certos interesses e de uma suposta neutralidade científica e tecnocrática.
Porém, se todo o mundo da vida (e da morte) está atravessado pelas redes de poder, e se os processos de saúde e doença não podem ser compreendidos – nem vividos – fora das interações entre os diferentes campos do conhecimento, das trocas culturais, dos ordenamentos econômico-políticos e das tensões ideológicas, então é evidente que o mundo da saúde é, por essência, político.
A corrente médico-social latino-americana tem contribuído significativamente para fundamentar, documentar e debater cada um dos elementos que configuram este caráter político da saúde. Os trabalhos de Juan César García sobre a medicina estatal na América Latina (García, 1994, p. 95-144); as análises de Mario Testa e Carlos Bloch sobre Estado e saúde (Alames, 1987); a coletânea de ensaios organizada por Sonia Fleury sobre Estado e políticas sociais (Fleury, 1992); os estudos do Centro de Estudos e Assessoria em Saúde de Quito sobre cidade e mortalidade infantil (Breilh, Granda, Campaña, Betancourt, 1983); as investigações de Saúl Franco sobre a malária na América Latina (Franco, 1990); entre muitos outros, dão conta dessa contribuição para a configuração política do campo da saúde
Além disso, como destacou Armando de Negri na Cátedra Juan César García durante o congresso da Alames no Paraguai: “Se a política é a construção de uma ética coletiva, a Medicina Social Latino-americana tem contribuído para construir este sentido de ética coletiva” (De Negri, A., 2016).
Esta ética coletiva foi também desenvolvida por vários integrantes da corrente médico-social da América Latina, entre os quais Giovanni Berlinguer, de origem italiana, mas profundamente ligado à América Latina (Berlinguer, G., 1994); e Víctor Penchaszadeh (Penchaszadeh, V., 2024).
Mas, para a Alames, a saúde não é apenas uma questão política em termos teóricos. Ela tem igual ou maior importância como prática política. Partindo da concepção de saúde como direito humano fundamental e como campo de exercício da cidadania e da democracia, o movimento da Medicina Social tem participado ativa e permanentemente, em vários países da região, de processos de organização social e popular pelo direito à saúde, pela defesa da soberania e da autodeterminação dos povos, pelo enfrentamento de regimes ditatoriais e pelo retorno ou permanência da democracia, por sistemas de saúde não comerciais, públicos, universais e de qualidade (Hernández, M. 2000) e pela vigência dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário em casos de conflito armado.
A atitude diante das ditaduras do Cone Sul, ou diante dos processos revolucionários de Cuba, Nicarágua e El Salvador, ou diante dos governos progressistas do México, Argentina ou Venezuela, e a posição ativa – às vezes de liderança – nos processos de Reforma Sanitária e de luta pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, pela reforma do sistema de saúde na Colômbia, pela inclusão adequada da questão da saúde nas novas constituições do Equador e da Bolívia, refletem essa prática política, coerente com os postulados teóricos assumidos.
No entanto, nem o pensamento nem a ação política são estáticos ou isentos de contradições. Pelo contrário, estão em constante transformação, carregados de nuances, tensões e – por vezes – contradições. A corrente médico-social latino-americana tem debatido, assimilado e enfrentado essas tensões e contradições ao longo de sua trajetória.
Dentro da própria Alames, há discussões sobre o papel desempenhado por seus membros em funções governamentais, seja em âmbito local ou nacional, como no México, Brasil, Venezuela, Colômbia ou Argentina. Atualmente, também se debate qual deve ser a posição da Associação diante de processos como os da Nicarágua e Venezuela, que, em minha opinião, tomaram rumos distintos daqueles que motivaram nossa simpatia e apoio inicial. Além disso, há discussões sobre as novas propostas de reforma dos sistemas de saúde em vários países.
Porém, acredito que é necessária uma reflexão autocrítica mais profunda e urgente – não apenas sobre a prática política passada da Alames, mas, sobretudo, diante do cenário complexo que a região enfrenta hoje e das alternativas que se apresentam. Ouso pensar que o próprio futuro da Associação está intimamente ligado à sua capacidade de compreender e interpretar adequadamente este momento político na América Latina, bem como de definir diretrizes estratégicas para a ação.
3. Consciência e projeto latino-americanos
Desde seus primórdios, como foi esboçado inicialmente, esta corrente médico-social se compreendeu e se constituiu com um caráter latino-americano. Os encontros de Cuenca, os centros de pesquisa, as escolas e programas de pós-graduação específicos ou relacionados carregam essa marca, e tanto os pesquisadores quanto os docentes e estudantes da área vieram de diferentes países da região.
Mas o latino-americano não se limitou ao lugar de origem dos atores ou aos cenários dos eventos – até agora foram realizados congressos no México, Nicarágua, Brasil, Colômbia, Venezuela, Argentina, Cuba, Peru, Uruguai, El Salvador, Paraguai, Bolívia e República Dominicana. Houve um esforço constante para abordar os problemas com caráter regional, construir padrões interpretativos comuns e ousar propostas de alcance regional. Tanto na seleção do tema de cada Congresso da Associação, como ao abordar cada um dos temas que interessaram ao pensamento médico-social, ou ao formular projetos e propostas, o cenário, o referente e o objetivo sempre foi a América Latina.
É importante destacar que, nestes 40 anos da Alames, a realidade latino-americana nunca negou ou ofuscou as realidades nacionais. Pelo contrário, as contextualizou, aproveitou e transformou em objetos de interesse e ação política – e, quando necessário, de solidariedade.
As ditaduras em cada um dos países do Cone Sul foram alvo de preocupação, estudo e solidariedade por parte dos demais membros da Associação. O desenvolvimento da situação cubana esteve no cerne das preocupações da Alames desde sua fundação. O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil recebeu, desde seus primórdios, importantes contribuições de pensadores médico-sociais latino-americanos – entre os quais se destaca especialmente Mario Testa. Serviu como inspiração para a luta por sistemas similares em muitos países da região e continua recebendo a simpatia e o apoio constante dos integrantes da Alames em todos os países.
As novas Constituições da Bolívia e do Equador, no início deste século, receberam contribuições substanciais na área da saúde de membros da Associação provenientes de diversos países. Os exemplos poderiam continuar, mas estes são suficientes para ilustrar o efeito de vasos comunicantes que a Associação desempenhou entre os países da região.
4. A marca genética da solidariedade
Antes mesmo do nascimento da Alames, a corrente médico-social latino-americana já era essencialmente solidária. A solidariedade sempre esteve ligada à própria maneira de entender a vida e a saúde neste campo de pensamento e ação. Trata-se de uma solidariedade com perspectiva política, exercida tanto coletivamente pela organização quanto individualmente por cada um/a de seus/as integrantes.
A realização do II Seminário-Congresso Latino-Americano de Medicina Social em Manágua (setembro de 1982), por exemplo, foi um ato explícito de apoio ao processo revolucionário nicaraguense, que contou com a participação ativa de líderes da medicina social de vários países da região.
As Declarações oficiais dos Congressos da Associação constituem uma espécie de memória viva dessa tradição solidária. Na Declaração de Ouro Preto (1984), os participantes manifestaram apoio às lutas pela paz na região; ao povo hondurenho, então invadido pelos EUA; aos povos de El Salvador e Guatemala, vítimas de genocídio; às resistências democráticas no Chile, Bolívia e Argentina.
No 4º Congresso Latino-Americano, em Medellín, e no 5º Mundial de Medicina Social, que incluiu uma delegação da Austrália, a solidariedade estendeu-se aos povos aborígenes em sua luta secular por reconhecimento cultural e direitos.
E, por ter sido pessoalmente beneficiário, devo destacar outra forma de solidariedade que sempre caracterizou a Alames: o acolhimento generoso a exilados e exiladas. As lutas – sejam revolucionárias ou de simples defesa da democracia, liberdades e direitos humanos – frequentemente acarretam o exílio de dirigentes e militantes. Nossa Associação sempre compreendeu isso e praticou – continua praticando – a solidariedade ativa, não de caráter compassivo, mas de humanidade e compromisso político.
Podemos concluir então que, em essência, a Alames tem sido (e deverá continuar sendo) uma corrente de produção e aplicação de pensamento crítico-histórico-territorial em saúde a partir da América Latina; um espaço de encontro acadêmico-político-afetivo e social, com redes temáticas em permanente funcionamento; e uma escola de solidariedade efetiva.
III. Os campos estratégicos para o pensamento e a ação
Por respeito à criatividade da Alames e de seus integrantes, aos materiais já produzidos e apresentados, e aos debates em curso, limito-me a enumerar cinco dos que considero campos essenciais e tarefas prioritárias do pensamento e da ação médico-social no presente e no futuro:
1. A vida em paz na América Latina.
Nosso horizonte como humanidade deve ser a vida em paz – não a vida abstrata, mas a vida em curso, no pleno exercício da matéria organizada e da energia em movimento. Em quéchua: o sumak kawsay. Melhor ainda: a vida digna, o bem viver proposto e praticado por nossos ancestrais andinos.
Há três décadas, formulei a categoria processo vital humano (Franco, S., 1993), que acredito poder contribuir para esta discussão. E a paz não apenas como ausência de guerra ou, pior ainda, como produto da força (tal como ensinam e praticam hoje Rússia, Israel ou Estados Unidos), mas como convivência tranquila em sociedades equitativas, que garantem direitos e resolvem seus conflitos e tensões sem precisar matar.
A partir do campo da Saúde Coletiva, temos trabalhado, mas precisamos intensificar nossos esforços e explorar novos horizontes de pensamento e ação para contribuir com a transformação da vida em paz em objetivo central da sociedade – e garantir sua concretização. Como destacou Sonia Fleury em sua recente reflexão sobre os desafios da saúde coletiva na América Latina:
“Pensar como a saúde pode ser uma alavanca para a emancipação, a defesa da vida e a democracia é nosso desafio hoje e sempre” (Fleury, S., 2024).
2. Luta sem trégua contra todas as iniquidades
A equidade em saúde tem sido um tema recorrente no pensamento crítico da área. Dois congressos da Alames – o de Cuba em 2000 e o do Brasil em 2007 – inclusive o elevaram a tema central de debate. Esta luta pela equidade em saúde tem inspirado historicamente o trabalho da corrente médico-social na promoção das reformas sanitárias nos países da região.
Porém, as iniquidades em saúde, por mais graves que sejam, representam apenas uma parte das enormes desigualdades que permeiam todos os âmbitos da vida social: nas relações de gênero, na distribuição de renda, no acesso à moradia, à alimentação, à educação, à informação e ao poder.
A partir da corrente médico-social, devemos intensificar a luta contra todas as iniquidades em nossa região e em todo o mundo. Isto implica uma forte sintonia com as distintas realidades e mobilizações nacionais, a denúncia sistemática das iniquidades, a argumentação renovada sobre o valor da equidade e a conexão constante com as organizações e movimentos sociais e populares que lutam por ela.
3. Pela garantia efetiva do direito à saúde
A conceituação da saúde como direito humano fundamental e a consequente luta por sua garantia tiveram também lugar prioritário na Alames. Em países como México, Brasil, Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Bolívia, Peru e Equador registra-se uma sólida produção teórica a respeito e ocorreram importantes mobilizações por esta garantia. Seis dos dezoito congressos da Alames realizados até agora (Argentina, 1997; Peru, 2004; Brasil, 2007; Uruguai, 2012; Bolívia, 2018 e este no Brasil) incluíram este como tema central, impulsionando rica produção intelectual e contribuindo para fortalecer sua inclusão nas agendas políticas nacionais e regionais.
Como os avanços concretos na garantia do direito à saúde ainda são escassos, torna-se cada vez mais necessário intensificar tanto o trabalho intelectual quanto a ação política e a mobilização social. E é crucial enfatizar: por se tratar de um direito fundamental, sua defesa exige não apenas mobilizações setoriais, mas lutas sociais persistentes – o que demanda a construção e manutenção de alianças com outras organizações e frentes de ação política.
4. As relações com a natureza e o problema ambiental
Devemos reconhecer que chegamos tarde ao tema da questão ambiental. Apesar de que os ancestrais andinos tinham clara consciência de que pertencemos à natureza e da necessidade vital de manter adequadas inter-relações, e de que alguns teóricos e o movimento ecologista já haviam acendido alertas sobre os problemas do aquecimento global, a crise climática e a depredação ambiental, a corrente médico-social latino-americana só começou a assumir seriamente este tema-problema no início da década passada.
Vários centros de pensamento, alguns programas de pós-graduação e algumas das Redes temáticas da Associação começaram a abordar as diferentes facetas do problema. E foi precisamente nos congressos do Paraguai em 2016, Bolívia em 2018 e República Dominicana em 2021 que o tema recebeu atenção prioritária e a consciência ambiental se instalou na agenda da Alames.
Embora estejamos avançando – com desigualdades entre países e subtemas –, podemos dizer que ainda estamos dando os primeiros passos diante da complexidade do tema, do negacionismo persistente nos setores mais poderosos dos países que mais poluem e dos interesses econômicos em jogo. Felizmente, a questão ambiental já conquistou espaço na agenda global e hoje vemos a vigorosa presença de movimentos ambientalistas de diferentes perfis.
O lema da COP-16 [Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade] realizada no ano passado em Cali, Colômbia, pode nos ajudar a direcionar o trabalho nesse sentido: Paz com a natureza. O que significa: nos sentirmos parte dela, e não donos; reconhecê-la como sujeito de direitos; respeitá-la e cuidá-la; devolver a terra aos que foram despojados; subordinar a lógica mercantil – que desmata a Amazônia, polui os rios e explora predatoriamente o subsolo – à lógica da vida. É um lema suficientemente amplo e potente, que nos conecta com nosso desafio supremo: a vida em paz na América Latina.
5. A Medicina Social em tempos de pós-pandemia e saúde digital
A pandemia – ou sindemia – provavelmente marcará um antes e um depois em nossa época, como destacou Mario Róvere em sua intervenção na Cátedra Juan César García durante o último Congresso da Alames em Buenos Aires, cujo tema central foi justamente “Sindemia, reconfiguração do mundo e luta pelo bem viver”. Sem dúvida, a pandemia de covid-19 foi o evento sanitário de maior significado e mais profundas consequências que nos atingiu e possivelmente ainda nos afetará.
No Congresso de Buenos Aires, foram feitas importantes contribuições para compreender a pandemia e nos reposicionarmos diante de suas implicações futuras. Porém, nem todas as questões que ela levantou, nem as condições que a tornaram possível, nem o balanço das formas como a enfrentamos, nem o alcance de suas consequências estão ainda suficientemente esclarecidos, valorizados e assimilados. Temos ainda muito o que fazer e refletir sobre isso.
Uma das muitas consequências da pandemia foi sua contribuição para a consolidação definitiva das tecnologias digitais: Big Data, Inteligência Artificial e a genômica. Desde o último congresso em Buenos Aires, o tema da saúde digital começou a ganhar espaço na agenda da Alames. E justamente ontem (7/8), em um painel sobre este tema conduzido por especialistas renomados como Naomar de Almeida, Luiz Vianna e Angélica Baptista, foram discutidos com clareza seu momento atual, possibilidades, riscos e desafios.
Falou-se da necessidade de uma espécie de “alfabetização digital”, da importância de trabalhar para evitar que o uso das tecnologias digitais se torne um novo fator de desigualdade, da defesa da soberania digital e da necessidade de avançar rumo a reformas sanitárias digitais. Agora nos cabe a tarefa de encontrar formas de integrar criticamente esta nova realidade da saúde digital à vida da Alames, aos processos de formação e pesquisa em saúde e à luta pelas reformas sanitárias.
* * *
Quero encerrar esta mensagem comemorativa com duas notas essenciais e profundamente sentidas.
A primeira: em memória dos mestres e companheiros que já não estão fisicamente conosco, mas que continuam a nos inspirar como precursores, fundadores ou companheiros de trabalho da corrente da Medicina Social e da Saúde Coletiva latino-americana. Com o risco de omitir alguns nomes – peço desde já desculpas por eventuais esquecimentos –, permito-me mencionar: Juan César García, Giovanni Berlinguer, Sergio Arouca, Hesio Cordeiro, Mario Testa, Juan Samaja, Susana Belmartino, Carlos Bloch, Alberto Vasco, Edmundo Granda, Miguel Márquez, Francisco Rojas Ochoa, Catalina Eibenschutz, Francisco Javier Mercado, José “Pepe” Blanco e Francisco de Assis Machado. A eles, nosso reconhecimento, nossa gratidão e nosso compromisso de continuar trabalhando pelas causas, ideias e sonhos que plantaram em nós e nos ajudaram a cultivar.
E a segunda e última nota se resume numa única palavra: GRATIDÃO.
Obrigado aos fundadores e fundadoras da Alames, onde quer que estejam hoje. Obrigado a quem organizou e, com trabalho visível ou invisível, tornou possíveis os dezoito Congressos, incluindo este que hoje encerramos, e do qual, sem excluir nenhuma pessoa ou instituição, considero justo destacar o Cebes (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) e a professora e amiga Ana Maria Costa, sua coordenadora geral.
Obrigado a quem exerceu a coordenação da Associação ao longo de sua história, incluindo a atual coordenação colegiada, por seu trabalho e dedicação. Obrigado aos que não puderam estar presentes, mas que sabemos nos acompanham e seguem acompanhando, como a incansável mestra e amiga María Isabel Rodríguez e os companheiros de tantas batalhas, Oscar Feo e Mario Hernández.
E obrigado, sobretudo, a todos vocês que, com sua presença, experiências, exposições, pôsteres, debates, paciência e carinho, fizeram deste Congresso um novo passo firme em nosso caminho e um novo elo nesta rede de conhecimento e ação pela Vida, saúde, equidade e Paz que é – e seguirá sendo – nossa Associação Latino-americana de Medicina Social. Hoje renovada e fortalecida pela onda de juventude que chegou neste Congresso, cujo cultivo e expansão devem ser imperativos para nosso futuro.
Muito obrigado,
Saúl Franco
Médico social, cofundador da Alames
Referências bibliográficas:
ABRASCO. Memorias do III Seminario Latino-Americano de Medicina Social. Rio de Janeiro, 1987.
Arouca, Sergio. El dilema preventivista. Lugar editorial. Buenos Aires, 2008.
Berlinguer, Giovanni. Ética de la salud. Lugar editorial. Buenos Aires, 1996.
Bloch, Carlos y Testa, Mario. Estado y Salud. Tomado de: Rojas O. Francisco y Márquez, Miguel: ALAMES en la Memoria, selección de lecturas. Páginas 161-219. Editorial Caminos. La Habana, 2009.
Breilh, Granda, Campaña, Betancourt. Ciudad y muerte infantil: investigación sobre el deterioro de la salud en el capitalismo atrasado: un método. Quito, 1983.
Breilh, Jaime. Epidemiología crítica. Lugar editorial. Buenos Aires, 2004.
Casallas Ana L. Aportes y desafíos de la salud colectiva latinoamericana: una perspectiva histórica, páginas 40-46. Tesis doctoral. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Quito, 2019.
Castro, Arachu. La medicina social y las ciencias sociales en América Latina: tensiones conceptuales para la transformación de la salud pública en el siglo XX. Revistas Panamericana de Salud Pública. Vol. 48, 2024.
De Negri, Armando, 2016. Citado por: Casallas Ana L. Aportes y desafíos de la salud colectiva latinoamericana: una perspectiva histórica, página 224. Tesis doctoral. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Quito, 2019.
Duarte Nunes, Everardo. Ciencias sociales y salud en Américas Latina. OPS-CIESU, Montevideo, 1986.
Fleury, Sonia. Estado y políticas sociales en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco-Fundación Oswaldo Cruz, México, 1992.
Fleury, Sonia. Origen, reformas y crisis: desafíos de la salud colectiva en América Latina. CEBES, junio 4, 2024.
Franco, Núnes, Breilh, Laurel. Debates en Medicina Social. OPS-ALAMES. Quito, 1991.
Franco, Saúl. El paludismo en América Latina. Editorial Universidad de Gudalajara. México, 1990.
Franco, Saúl. Proceso vital humano – proceso salud/enfermedad: una nueva perspectiva. En: Ética, Universidad y Salud. Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Salud. Bogotá, 1993.
García, Juan César. Pensamiento social en salud. Interamericana, OPS. México, 1994.
Hernández, Mario, 2.000. Tomado de: Rojas O. Francisco y Márquez, Miguel: ALAMES en la Memoria, selección de lecturas. Páginas 490-507. Editorial Caminos. La Habana, 2009.
Laurell, Asa Cristina. Procesio de trabajo y salud. Cuadernos Políticos, 17: 59-77. México, 1.978
Laurell, Asa Cristina. Sobre la concepción biológica y social del proceso salud enfermedad. En: Lo biológico y lo social- su articulación en la formación del personal de salud, de Organización Panamericana de la salud, 1-12. Washington: OPS, 1994
Madel, T.L. Natural, Racional, Social. Editora Campus. Rio de Janeiro, 1988.
Penchaszadeh, Víctor. Bioética y Derechos Humanos. Cátedra Juan César García. XVII Congreso Latinoamericano de Medicina Social. Buenos Aires. 20223.
Rosen, George. De la policía médica a la medicina social. Siglo XXI editores. México, 1985.
Samaja, J. Lógica biológica y sociología médica. Revista Centroamericana de Ciencias de la Salud, 6-12. 1977.
Testa, Mario. Pensar en salud. Lugar editorial. Buenos Aires, 1997.
Vasco, U. Alberto. Salud, medicina y clases sociales. Editora Rayuela. Medellín, 1986.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras