A paranoia política, no passado e agora
Exame das teorias de conspiração no III Reich ajuda a entendê-las hoje. Congregam ressentidos, proliferam sob a despolitização e fragmentação das sociedades. Mais que decadência cultural, são sintomas da dissolução da vida coletiva
Publicado 28/06/2022 às 19:26 - Atualizado 30/06/2022 às 00:20

Por José Fernández Vega, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
O historiador britânico Richard J. Evans publicou Hitler y las teorías de la conspiración: el Tercer Reich y la imaginación paranoide (Crítica, 2021), trabalho singular que analisa vários episódios cercados de interpretações conspiratórias e de um clima denso de paranóia política. Eles marcaram de uma ou outra forma a história do Terceiro Reich. Mas que alcance podemos dar à expressão “paranoia política”?
O Dicionário de Psicanálise de Élisabeth Roudinesco e Michel Plon nos informa que a paranoia foi introduzida como termo psicológico no século XIX por especialistas alemães e constituía, para eles, uma das três formas de psicose. Foi caracterizada como “um delírio sistematizado, o predomínio da interpretação e a ausência de decadência intelectual”. Melanie Klein mais tarde a aproximou da esquizofrenia e, antes dela, em 1911, Sigmund Freud a considerou “uma defesa contra a homossexualidade” e a comparou a uma filosofia por sua consistência argumentativa interna e sua proximidade com a racionalidade “normal”.
Essa natureza sistemática, esclarece o dicionário, foi o que mais tarde fascinou Jacques Lacan e o levou a erigir a paranoia como modelo de loucura e a consagrar sua tese na medicina. Fato significativo, o caso princeps freudiano sobre o assunto é constituído pelo livro de um indivíduo que ele não tratou, Memórias de um paciente nervoso de Daniel Paul Schreber (1842-1911), um jurista alemão que tentou cometer suicídio após sua candidatura fracassada para o Reichstag. A eclosão de sua doença parecia ligada a um episódio político.
Sem abandonar o plano político, mas tentando uma abordagem da crítica literária, Ricardo Piglia explorou as ligações entre ficção e complô, uma das elucubrações associadas à paranoia. Em uma conferência que deu em Buenos Aires em 2001, poucos meses depois da maior crise social que a Argentina atravessou e diante de um grupo de artistas “juramentos” a resistir à desolação vivida, explicou os motivos que levam certas pessoas a imaginar a conspiração de grandes poderes contra si. Piglia procurou revelar a presença do complô nas tramas do romance contemporâneo, nas intenções da vanguarda e nos procedimentos da economia. Mas suas reflexões transbordaram essas razões. “Frequentemente”, afirmou em sua palestra, “para compreender a lógica destrutiva do social, o sujeito privado deve inferir a existência de um complô”.
Quando o mecanismo social se torna obscuro para indivíduos cada vez mais isolados, eles adotam visões conspiratórias para “decifrar um certo funcionamento da política”. Seu exemplo narrativo foi Os sete loucos, romance que Roberto Arlt publicou em 1929, pouco antes do crack financeiro mundial e do primeiro golpe de Estado que Argentina sofreu, mas quando Benito Mussolini já estava no poder. “Antes de se tornar clínica, a paranoia é uma saída para a crise de sentido”, concluiu Piglia.
O delírio paranoico seria então uma espécie de Ersatz. Ou seja, o substituto de um raciocínio substancial sobre a sociedade de que tem sido desprovida de comunidades, que nas últimas décadas vêm sofrendo um crescente processo de atomização e despolitização. Diante da ausência de quadros explicativos, os indivíduos estariam inclinados a adotar esquemas alucinados e, muitas vezes, também agressivos, mas coerentes pelo menos na aparência. Esses quadros foram no passado fornecidos por culturas políticas compartilhadas, que foram socializadas por meio de partidos, movimentos civis ou sindicatos. Após o fim da Guerra Fria, o trabalho conjunto de uma cultura pós-moderna emergente que questionava verdades robustas e de uma economia neoliberal com enormes repercussões na formação subjetiva anulou as matrizes ideológicas que moldavam as explicações políticas e dissolvia aqueles centros de encontro e formação. Isso abriu um horizonte de grande desorientação popular para compreender as drásticas transformações vitais que ocorreram nas décadas seguintes.
Em outra seção de seu ensaio, Piglia argumentou que uma “crise de experiência” marcou o início do século 20 e a atribuiu ao colapso de uma civilização liberal que teria tido justamente como efeito o surgimento de vanguardas artísticas como uma resposta cultural. Se projetarmos essas reflexões como modelo de análise, elas nos levariam a pensar que a crise do neoliberalismo, que eclodiu em através de etapas desde o início do século XXI e teve sua maior expressão econômica por volta de 2008, não gerou uma nova vanguarda, mas sim uma série de formações reacionárias cujas raízes se espalham por diferentes latitudes. Esses movimentos organizam versões paranoicas da realidade e a razão pela qual são críveis para audiências cada vez maiores está relacionada ao declínio das chamadas “grandes narrativas” que, até o final dos anos 1980, forneciam quadros de sentido para a experiência social.
Sem outros paradigmas para ordenar as mudanças na vida da população, ela torna-se vulnerável a narrativas mais ou menos alienadas e simples sobre a influência perturbadora de vários poderes sobre a vida: as ameaçadoras ondas migratórias, o crime onipresente, algumas sinarquias sombrias, a corrupção endêmica das lideranças, o Estado opressor de certas liberdades naturais ou a sua intolerável pressão fiscal, entre muitos outros. Tudo isso configura o que Alain Badiou chamou recentemente de “uma desorientação geral sobre o mundo” e, como outros comentadores, a comparou ao final da belle époque no Ocidente, quando a primeira etapa da globalização se concluía e uma Grande Guerra se aproximava.
Foi justamente durante a Primeira Guerra Mundial que começou o primeiro dos cinco episódios de conspiração que se projetam até o final da Segunda Guerra, os quais Evans se concentra em Hitler e as teorias da conspiração. O fio condutor de sua história é a figura de Adolf Hitler, a “figura moral negativa” do século XX, o paranoico político par excellence. A revisão histórica que o livro de Evans propõe, além do conteúdo de cada episódio, fornece chaves formais para compreender algumas mentalidades contemporâneas.
A série que Evans estuda começa com a questão da influência do libelo intitulado Os Protocolos dos Sábios ao antissemitismo criminoso que, mais tarde, desencadearia o hitlerismo – e continuaria com a lenda de “apunhalada pelas costas”, usado pelo alto-comando militar da Alemanha para justificar sua derrota em 1918. O autor continua com as disputas sobre a responsabilidade pelo incêndio do Reichstag, ocorrido na noite de 27 e 28 de fevereiro de 1933, e depois trata dos motivos da misteriosa viagem solitária à Grã-Bretanha de segundo nome mais importante do partido nazista, Rudolf Hess, em 10 de maio de 1941. Um capítulo final explora os mitos que se formaram sobre o que aconteceu com Hitler em seu bunker quando tudo já estava perdido no campo militar: ele se suicidou ali em 30 de abril de 1945 ou fugiu?
Episódios nacionais
Hannah Arendt considerou Os Protocolos dos Sábios de Sião um texto central para o nazismo. No entanto, a propaganda nazista fez pouco uso do livro, assegura Evans. Apenas uma referência passageira é encontrada em Mein Kampf, e o título não foi encontrado entre os 16 mil volumes da biblioteca de Hitler (embora ele tivesse uma cópia de The International Jew, de Henry Ford, traduzido para o alemão em 1922, que contém um capítulo dedicado aos Protocolos). Ainda assim, há poucas dúvidas de que o libelo exerceu uma vasta influência na formação da opinião antissemita não apenas na Alemanha. Os protocolos não fazem alusão a temas nazistas como o anticomunismo ou o racismo biológico; em vez disso, eles concentram a atenção em uma suposta dominação judaica da imprensa, da universidade e das finanças, visando minar os fundamentos da sociedade.
Possivelmente escrito entre o final do século XIX e o início do século XX, Os protocolos baseiam-se em uma literatura anterior que remonta às reações antijacobinas produzidas pela Revolução Francesa; mais tarde, o monarquista Arthur de Gobineau colocou em circulação a ideia de uma raça ariana dominante ameaçada pelo complô judaico. Mas se suas fontes mais antigas são encontradas na França, Os protocolos alcançaram sua forma final na Rússia czarista, onde foram publicados pela primeira vez em 1903. E sua trajetória alemã foi pródiga: em 1933, ano da ascensão de Hitler ao poder, já contava com 33 edições.
No entanto, já em 1921, um correspondente do The Times em Istambul relatou que Os protocolos eram um plágio de um livro publicado em Genebra em 1864, de acordo com o que um emigrante russo havia descoberto. A imprensa alemã ecoou esta notícia e Hitler, num típico movimento paranoico, não viu nela senão a prova da veracidade do conteúdo do texto. Joseph Goebbels, mais matizado, afirmou em seu diário que Os protocolos eram uma falsificação, mas apenas em um nível factual, pois continham uma “verdade interior” indiscutível. O livro não foi apenas um sucesso na Alemanha, mas também em outros lugares. Evans lembra que o próprio Winston Churchill reconheceu isso.
O partido nazista até publicou uma versão popular do livro. Mas a divulgação dos Protocolos durante o Terceiro Reich encontrou um grande obstáculo quando, em 1937, a Suprema Corte Suíça os considerou espúrios, embora autorizasse sua publicação como propaganda política. A repercussão desse fracasso moderou as referências nazistas ao livro, embora certamente não sobre a “conspiração mundial dos judeus”, que estava no centro de sua mensagem. Durante a Segunda Guerra não houve reedições e Evans considera que, de qualquer forma, eles não teriam cumprido nenhuma função já que a campanha antissemita foi mais bem servida pelo cinema nazista.
Os protocolos postulavam uma pulsão judia à conspiração antissocial baseada em atributo racial atribuído e não em um planejamento intelectual. Mas eles o fizeram em um momento histórico peculiar, quando os judeus europeus estavam nitidamente divididos entre “ortodoxos e reformistas, praticantes e indiferentes, crentes e agnósticos, assimilacionistas e sionistas, para não mencionar as diferenças de classe ou a lealdade política e nacional”. É verdade que essas considerações não afetaram o poder de propagação dos Protocolos, pois, segundo Evans, constituíam um texto “aberto” que aceitava qualquer tipo de leitura e oferecia um quadro de sentido a-histórico, blindado à crítica e que evitava a reflexão independente.
O livro de Evans então passa a considerar a “apunhalada nas costas” (Der Dolchstoss) que a frente interna teria infligido às tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial, levando-as à derrota. Existem três versões básicas dessa conspiração. O fardo da culpa no colapso econômico doméstico que privou os combatentes de suprimentos. O segundo acusava a esquerda de subverter a ordem de tomada do poder, animada pelo slogan leninista de “derrotismo revolucionário”; os pacifistas também foram cúmplices nessa conspiração. A última apontava diretamente para a “traição” dos judeus “antipatriotas” que supostamente evitavam ir para a linha de frente e conseguiram postos na retaguarda (na realidade, 80% dos soldados judeus estavam na linha de frente). Além disso, eles secretamente puxavam as cordas do país (sendo 1% da população alemã) e forneciam os principais líderes revolucionários (quando apenas alguns líderes eram de origem judaica). Após a guerra, eles foram acusados de se dedicarem ao mercado paralelo e à especulação, e até responsabilizados pela hiperinflação subsequente.
Embora Hitler tenha se refugiado posteriormente nesta última versão para promover a expulsão dos judeus da comunidade nacional, a verdade é que a teoria da facada perdeu força durante o nazismo. Hitler preferiu interpretar que a verdadeira catástrofe havia sido o período republicano que se seguiu à derrota militar e aceitou termos de paz humilhantes. O Kaiser não caiu em novembro de 1918 por causa de uma conspiração judaica ou revolucionária, mas por causa de sua própria falta de vontade de poder. O abandono da teoria da facada deveu-se ao cuidado com que os nazistas se dirigiam a um eleitorado que havia sofrido a guerra na frente ou na retaguarda e podia ficar ofendido por acusações de traição.
Mas a aceitação inicial que essa teoria gozou deriva de uma série de condições especiais de recepção. Em particular, a derrota militar foi recebida com surpresa por uma população anestesiada pela censura e propaganda de guerra tão bem-sucedida que não a preparou para o resultado e alimentou as divagações paranoicas subsequentes. É verdade que os alemães ainda ocupavam vastos territórios estrangeiros no final da guerra; por outro lado, a Revolução Russa e a assinatura dos tratados de Brest-Litovsk em março de 1918 permitiram-lhes transferir para o oeste as tropas engajadas naquela frente e recuperar a iniciativa. Mas a ofensiva militar alemã foi um fracasso. Embora a certa altura parecesse que Paris estava ao alcance de seu exército, entre março e julho perdeu um milhão de homens e seus melhores destacamentos. Os soldados começaram a invadir trens de suprimentos e a desertar. No início de setembro, o comandante supremo Erich Ludendorff informou a Berlim que não era mais possível vencer: a chegada das tropas estadunidense e a incorporação de tanques aliados tornaram as perspectivas mais sombrias. Em 11 de novembro, a Alemanha capitulou; dois dias antes, no dia 9, estourou uma revolução que derrubou a monarquia. Essa sequência encorajou a ideia de que os esquerdistas estavam por trás do desastre, pois já vinham minando a capacidade de lutar com a agitação social que desencadearam. Essa explicação apenas destacou o grau de polarização no cenário político alemão.
A imagem da facada nas costas se baseia em uma cena de Crepúsculo dos Deuses de Richard Wagner (Hagen ataca Siegfried com uma lança) e seu uso político começa quando os social-democratas conseguiram aprovar uma resolução no Reichstag pedindo a paz negociada em junho de 1917. Os comandantes militares começaram então a argumentar que a frente interna — também incentivada por outros traidores de esquerda e pacifistas — estava minando a capacidade de combate. Após o colapso, o então marechal Paul von Hindenburg defendeu no Parlamento a teoria da “facada” em 1919. Mesmo uma personalidade como Max Weber aceitou essa teoria. No entanto, entre os conservadores havia vozes dissonantes que o repudiavam, como a do eminente historiador militar Hans Delbrück, que carregava o peso do afundamento no chauvinismo e da incompetência da liderança militar que, com a teoria da facada, pretendia apenas salvar sua reputação.
Ascensão e queda
Mais restrita no tempo e limitada no espaço do que a vasta trajetória dos Protocolos, a lenda da “apunhalada nas costas” foi, no entanto, historicamente muito influente. Em contraste, a controvérsia desencadeada ao interpretar um evento específico como o incêndio do Reichstag, no entanto, teve uma validade incrivelmente maior. Estendeu-se ao nosso tempo e, durante todo esse período, deu origem a uma imensa literatura de todos os tipos que Evans examina cuidadosamente.
Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o último deputado a deixar o prédio do Reichstag foi o líder da bancada comunista Ernst Togler; pouco depois, um funcionário da instituição deixou o local e só ficou o porteiro. Minutos depois das 21h, ouviu-se o som de vidro partindo-se e o fogo começou imediatamente. A polícia que veio prendeu in situ o criminoso, um anarcossindicalista holandês chamando Marinus van der Lubbe, que já tinha um histórico de incêndio criminoso em sua luta contra o sistema. O tribunal que o julgou o considerou culpado e o sentenciou à morte, já no dia seguinte ao incêndio. O novo chanceler Hitler recebeu a sentença com indignação; seu principal interesse era culpar o búlgaro Georgi Dimitrov, líder da Internacional Comunista que mais tarde se refugiou na URSS e, depois da guerra, chefiou o novo governo de seu país. Os nazistas ainda não controlavam o aparato judiciário. Até agora esses são os fatos que Evans observa, mas eles, nesta história, como em todas as conspirações imaginárias, pouco importam.
Hitler assumiu o poder em uma posição de debilidade e temia um golpe dos comunistas que ainda mantinham uma força considerável. Nas eleições de 1931, o Partido Comunista Alemão (PC) conquistou seis milhões de votos e cem cadeiras no Parlamento, enquanto os nazistas haviam perdido algumas posições. A queima do Reichstag deu-lhes a desculpa perfeita para ordenar uma ofensiva contra seus inimigos. Hermann Göring, então presidente do Parlamento, lançou a polícia contra o ativismo do PC e do resto da esquerda. Como não confiava na instituição, que considerava controlada pela social-democracia, contou com as tropas da SA para intensificar a caçada. O governo conservador liderado pela já idoso presidente Paul von Hindenburg — que havia nomeado Hitler como chanceler da Alemanha — decretou a supressão das liberdades constitucionais e proibiu os partidos políticos; o nazismo manteve a validade deste decreto até o seu colapso em 1945. Em 23 de março, Hitler conseguiu investir-se de plenos poderes no Reichstag antes de dissolvê-lo na ausência dos deputados comunistas. Como escreve Evans: “O Terceiro Reich, portanto, foi construído com base em uma teoria da conspiração: a teoria de que os comunistas queimaram o Reichstag como o primeiro passo de um golpe que pretendia derrubar a República de Weimar”.
Por sua vez, a Internacional Comunista desenvolveu sua própria teoria da conspiração com fundamentos mais convincentes, embora não menos falsos. Na política, assim como nas narrativas policiais, geralmente prevalece a questão de quem se beneficia com esta ou aquela ação. A pergunta típica do pesquisador se resume na expressão latina cui bono? O incêndio do Reichstag trouxe grandes vantagens para os nazistas. Que outro setor poderia então tê-lo provocado? No julgamento de van der Lubbe, a atenção foi direcionada para um túnel que conectava a residência de Göring ao Reichstag. Ficou comprovado que o trânsito estava difícil e que ele não poderia ter sido usado para causar o evento. Mas o túnel forneceu um elemento inescapável em uma alegação de culpa nazista.
As teorias da conspiração sobre o incêndio do Reichstag proliferaram na Alemanha do pós-guerra. Eles tinham todos os elementos à sua disposição para prosperar: testemunhas mortas, um criminoso maluco – segundo alguns, sob a influência da hipnose – e um partido que, sem dúvida, recebeu um impulso a partir desse evento. Por outro lado, as represálias nazistas haviam sido preparadas com antecedência: a supressão das liberdades, bem como a lista de ativistas a serem perseguidos. Isso não prova que foi um incidente deliberado?
Evans diz que o que aconteceu foi mais que os nazistas estavam tramando uma ofensiva contra a esquerda e viram uma oportunidade adiantá-la devido ao incêndio; se aproveitaram do episódio para assumir o controle e eliminar a oposição. O historiador alinha-se assim com a chamada interpretação “funcionalista”, proposta por Hans Mommsen, decano da historiografia alemã sobre o Terceiro Reich, segundo a qual os nazistas agiram de forma oportunista. Em contraste, a visão “intencionalista” atribui todos os eventos às maquinações de Hitler.
Controvérsias sem fim
As controvérsias sobre os dois episódios seguintes analisados por Evans também continuam até hoje. A viagem de Hess para a Escócia de Augsburg em um caça pesado Messerschmitt adaptado com tanques de combustível extras é a primeira delas. Hess não conseguiu ver a pista de pouso programada e saltou de paraquedas; os aviões da Royal Air Force que, alertados pelo radar, foram interceptá-lo não conseguiram localizá-lo.
Hess tomou a decisão de voar por conta própria, diz Evans. Seu objetivo era formular uma proposta de paz aos britânicos. Ele se ofereceu para manter o império em troca de não interferir no controle nazista sobre a Europa. A oferta foi imediatamente rejeitada. Não havia ala suscetível a isso no governo britânico como Hess imaginava, e uma invasão alemã não era mais temida para justificar a reaproximação a fim de evitá-la. De sua parte, Hitler não teve impacto na operação e quando soube da notícia reagiu com uma típica explosão de raiva. Hess, por outro lado, nunca invocou ordens de Hitler, que estava focado no que seria a maior invasão terrestre da história: o ataque à URSS lançado em 22 de junho de 1941.
A especulação paranoica sobre o voo de Hess se alastrou desde o início. De fato, a maior usina de propagação de um suposto acordo entre Alemanha e Grã-Bretanha foi o Kremlin. Sem dúvida, Hitler havia enviado Hess, ou talvez isso fosse uma encenação dos serviços secretos britânicos para explorar uma resposta alemã, e Hess era apenas um bispo em um tabuleiro maior. Se um acordo fosse selado, a Grã-Bretanha poderia ser considerada segura e Hitler concentraria seus esforços na destruição do inimigo estratégico comum: a URSS. Se essa explicação soviética tinha motivações políticas compreensíveis e imediatas, outras visões conspiratórias tiveram posteriormente à sua disposição todos os ingredientes necessários para ascender ao delírio: documentos inacessíveis, classificados como “ultrassecretos” ou fontes suscetíveis a todo tipo de superinterpretação. Somado a isso, eles tinham um caráter popular por ser um dos poucos líderes nazistas com fama de honesto, embora inclinado à astrologia. Hess passou o resto de sua vida na prisão de Spandau, onde cometeu suicídio em 1987, aos 93 anos. Hipóteses loucas também foram tecidas sobre isso: ele não teria realmente sido assassinado por ordem de Margaret Thatcher? O morto era o velho líder nazista ou sósia? Normalmente, os analistas paranoicos alimentam seus argumentos com as “evidências” apresentadas por outros.
O episódio final que Evans analisa, e de longe aquele que ainda provoca especulações de todos os tipos, é o destino de Hitler. Em 30 de abril de 1945, o almirante Karl Dönitz, nomeado sucessor, anunciou pelo rádio que Hitler havia morrido lutando contra o bolchevismo “até o fim”. Ignorando seus próprios relatos soviéticos de sua morte, Stalin disse a um enviado estadunidense que Hitler estava, sem dúvida, escondido em algum lugar. Sua intenção, diz Evans, era apresentá-lo como um covarde que havia fugido diante do colapso iminente e, aliás, endurecer o tratamento aos alemães diante da possibilidade de retorno do líder nazista. O medo de uma reedição do mito do rei fugindo da morte (Arthur, Barbarossa) ou do chefe que retorna — o “efeito Napoleão” — deixou os Aliados no limite, muito preocupados em encontrar os restos mortais de Hitler. Além da incerteza inicial que Stalin semeou, as especulações sobre seu paradeiro se multiplicaram. Ele fugiu para a Colômbia ou Indonésia? Estaria em uma base subterrânea na Antártida? A ilusão mais difundida era que Hitler chegou à Argentina de submarino e terminou seus dias em um rancho secreto perto da cidade patagônica de Bariloche.
Além disso, foi produzida ao longo dos anos uma bibliofotografia extensa e disparatada sobre o assunto. O tema tornou-se um negócio lucrativo para a indústria do entretenimento que lhe dedicou episódios de séries e até filmes, vários deles produzidos em nosso século, ainda mais pródigo que o anterior em produções sobre o tema. A web provou ser um meio ideal para a divulgação de absurdos e falsidades em maior escala, com alcance geográfico ilimitado e em tempo real. As evidências exibidas, como é costume neste gênero, são geralmente declarações de segunda mão, repetições fragmentárias de outros discursos paranoicos. Muitas vezes, os autores também são fãs das ciências ocultas e da “ufologia” ou propagandistas ativos da direita radical que também inventam conspirações inéditas sobre o assassinato de Kennedy ou os ataques às Torres Gêmeas em 2001, criando um efeito de avalanche entre seu público.
A documentação soviética só se tornou acessível após o colapso da URSS e continha depoimentos de testemunhas da cremação do cadáver de Hitler, um fim que ele aparentemente escolheu para evitar uma profanação como a que Mussolini e sua amante sofreram em abril de 1945 nas mãos dos partisanos. Seu copeiro de campo garantiram aos investigadores soviéticos que ele havia se matado com um tiro depois de administrar cianeto a seu cachorro Blondi; sua nova esposa Eva Braun também morreu envenenada no mesmo quarto. Os aliados recuperaram pedaços dentários que confirmaram a identidade do cadáver de Hitler cujos restos, como escreveu seu grande biógrafo Ian Kershaw, cabem em uma caixa de cigarros.
Futuros passados
As conspirações descartam o papel do acaso; para elas é inaceitável que algo aconteça por casualidade. Um acidente torna-se inconcebível; seria antes uma desculpa para esconder algum ato voluntário. De acordo com esse racionalismo, ao mesmo tempo extremo e delirante, tudo o que acontece é deliberado, não há erros humanos. A ação insana de um indivíduo só pode ser aceitável para uma mentalidade muito inocente ou sem reflexão: sempre há um plano sombrio acontecendo nos bastidores. Interpretações simples são suspeitas e as versões oficiais estão apenas tentando semear a confusão. O conspiracionismo busca reforçar os preconceitos e a autoestima de quem neles acredita. Apenas alguns estão com a verdade e esse círculo seleto acrescenta o reconhecimento mútuo de sua identidade e um sentimento de pertencimento.
Evans se concentra nos altos e baixos de cinco loucuras paranoicas de seriedade indubitável, mas não lida com essas conspirações que ocorreram e cuja realidade é apoiada por abundantes evidências que as colocam fora de discussão. Um delas, que faz parte do recorte temporal que o historiador examina, é o ataque perpetrado no bunker de Hitler ao meio-dia de uma quinta-feira, em 20 de julho de 1944. A chamada Operação Valquíria falhou. A bomba plantada pelo chefe do exército de reserva de Berlim Claus von Stauffenberg explodiu sem atingir o objetivo de eliminar Hitler para acabar com uma guerra que já era considerada perdida. Tanto ele quanto seus cúmplices foram executados.
Em seu ensaio sobre a trama, Piglia chama a atenção para o fato óbvio de que as conspirações fazem parte tanto da vida política geral do Estado quanto daqueles revolucionários que buscam desafiar esse poder organizando-se na clandestinidade. Por sua vez, o filósofo Norberto Bobbio refletiu em seu livro Democracia e segredo sobre o que chamou de sottogoverno, a rede de conspirações de líderes e operações dos serviços secretos que buscam influenciar a orientação do Estado. Um verdadeiro “subgoverno” que atua paralelamente ao oficial e gera climas sociais ou promove medidas, longe de qualquer visibilidade democrática, e que tentam definir o curso dos acontecimentos. Os arcana imperii — segredos de poder —, reconhecidos desde os tempos antigos, não podem ser descartados; um diagnóstico seria incompleto sem integrar essa dimensão. No entanto, ao lado desse lado enigmático da política, opaco, mas real, são elucidadas narrativas delirantes que muitas vezes apontam para um objetivo específico, mas, sem dúvida, cumprem a função de encher de ruídos, confusão e fúria a conversa histórica e social. Esta é a variável que o livro de Evans tenta destacar, cuja visão retrospectiva é altamente atual.
Na era da “pós-verdade” e dos “fatos alternativos” proliferam as análises políticas que procuram repôr uma explicação sólida, mas são inabituais as considerações genealógicas. O primeiro ensaio sobre o tema da paranoia política registrado em Hitler e nas teorias da conspiração é um artigo seminal de 1964 sobre o macarthismo. É impressionante, no entanto, que um conhecedor da cultura contemporânea em língua alemã tenha esquecido as seções finais de Mass and Power, a grande obra de Elías Canetti, publicada em 1960. Tampouco faz referência às obras de psicologia.
Evans é um notável historiador do Terceiro Reich (sua biografia de Eric Hobsbawm foi recentemente traduzida para o espanhol). Em seu livro, ele lida com uma quantidade avassaladora de fontes documentais de diferentes épocas exibidas em uma narrativa simples e contundente. O interesse de seu estudo não se limita à iluminação de áreas obscuras do passado, mas também tenta esclarecer os mecanismos do raciocínio conspiratório. Hitler é o grande protagonista da obra de Evans. Stalin faz aparições ocasionais em sua história, mas sçao pouco cruciais; nada surpreendente em um líder que se acreditava cercado de traidores e conspirações no próprio Kremlin. A década de 1930 foi rica em conspirações e lideranças paranoicas; o século 21 parece estar se movendo firmemente na mesma direção confusa.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


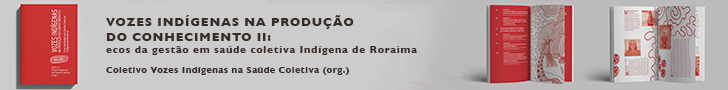
3 comentários para "A paranoia política, no passado e agora"