Venezuela: até onde irá Trump?
Concentração militar no Caribe é maciça, mas não sustenta uma invasão. Primeiros objetivos são intimidar Maduro, afastar a China e afagar a ultradireita. Mas pode haver ataques contra governantes e infraestruturas. Solidariedade é urgente
Publicado 27/10/2025 às 18:21 - Atualizado 27/10/2025 às 18:51

Por Manuel Sutherland, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
Nas últimas semanas, uma enxurrada de notícias circulou na mídia e nas redes sociais, alimentando a ideia de que a América Latina poderia estar à beira de um conflito bélico. Desde a invasão do Panamá em 1989, não se via um movimento naval estadunidense dessa magnitude no Mar do Caribe. O atual desdobramento, impulsionado pelo governo de Donald Trump, reaviva uma estratégia pré-beligerante que a Casa Branca começou a construir há pelo menos sete anos contra o governo de Nicolás Maduro.
Durante seu primeiro mandato, Trump foi acumulando argumentos políticos, legais e de segurança para justificar uma ação militar contra o regime venezuelano. A surpreendente derrota eleitoral de 2020 interrompeu esse processo, mas seu retorno à Casa Branca reativou a animosidade, que hoje ameaça se resolver pelas armas. Se concretizada, seria um retrocesso para o continente em direção a formas de resolução de disputas que pareciam superadas.
Diferentemente do episódio fracassado de 2019 em torno da “presidência interina” de Juan Guaidó, a Casa Branca não apresenta esta eventual operação como uma tentativa de “mudança de regime” ou de democratização. O enfoque atual está enquadrado no combate ao narcotráfico – em particular, ao tráfico de fentanil e cocaína – e ao terrorismo, entendido em chave interna: violência urbana e crimes violentos contra cidadãos estadunidenses em seu território. O objetivo declarado é neutralizar o Trem de Aragua e o Cartel de los Soles, organizações que, segundo Washington, são dirigidas pela cúpula do regime venezuelano e representam uma ameaça direta à segurança nacional.
Esta guinada retoma uma linha ideológica que remonta a 2015, quando Barack Obama classificou a Venezuela como uma “ameaça incomum e extraordinária”. E somou novos apoios: em 11 de setembro de 2025, o Parlamento Europeu declarou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, um passo que acrescentou pressão internacional por uma resposta “contundente”.
Mas é realmente provável que os Estados Unidos desenvolvam ações de guerra contra Nicolás Maduro, ou trata-se apenas de um blefe de Trump sem possibilidade de ação real?
Navios de guerra e execuções extrajudiciais
A escala do desdobramento militar estadunidense é inédita para uma operação que oficialmente se apresenta como parte da luta contra o narcotráfico. Três navios de assalto anfíbio de deslocamento rápido, três contratorpedeiros, um cruzador de mísseis guiados, dois submarinos nucleares e mais de 8 mil efetivos estão operando na área. Somam-se a eles aviões de vigilância P-8, caças F-35 e milhares de soldados treinando em Porto Rico com equipamento de assalto anfíbio. Trata-se de um poder de fogo muito superior ao requerido para o “combate às drogas”, o que poderia sugerir objetivos mais amplos. De fato, este desdobramento configura uma base com uma capacidade de ação bélica jamais vista no Mar do Caribe.
Embora Washington insista que se trata de uma patrulha antinarcóticos, as forças mobilizadas não têm relação operacional com o trabalho habitual da Guarda Costeira. A diferença ficou clara no último 2 de setembro, quando uma operação terminou com a explosão de uma lancha que supostamente transportava drogas e na qual viajavam 11 tripulantes.
Nos procedimentos antinarcóticos normais, a Guarda Costeira costuma emitir advertências para que as embarcações parem e, se não o fazem, atira-se nos motores por meio de helicópteros, para assim inutilizá-los antes da abordagem. A maioria dos narcotraficantes se rende rapidamente e os confrontos armados costumam ser escassos. Esses protocolos buscam garantir o Estado de Direito e o devido processo. Em 2 de setembro, em contrapartida, a lancha foi destruída diretamente, sem advertências, sem provas apresentadas e sem controle judicial, em um ato que se assemelha a uma execução sumária em alto-mar.
“Matar membros de cartéis que envenenam nossos cidadãos é o maior e melhor uso de nossas forças armadas”, declarou o vice-presidente estadunidense J.D. Vance, sintetizando a nova abordagem: o narcotráfico é equiparado ao terrorismo e se responde sob uma lógica de “estado de guerra”, sem contenção no uso da força. Segundo o próprio Trump, o Trem de Aragua estava por trás do envio de uma lancha que supostamente levava quilos de drogas que iriam “envenenar letalmente” o povo estadunidense.
O secretário de Estado, Marco Rubio, foi ainda mais contundente em relação a um dos ataques: “Em vez de interceptá-lo, por ordens do presidente, nós o explodimos. E voltará a acontecer. Talvez esteja acontecendo agora mesmo”. Até o momento, o governo Trump não apresentou justificativas legais nem provas que respaldem sua versão de que se tratava de narcotraficantes. Não seria a primeira vez que a Casa Branca exagera ameaças externas: de 238 venezuelanos enviados à megaprisão CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) em El Salvador, apenas 17 tinham vínculos com o Trem de Aragua, segundo dados oficiais. Os ataques devem ser lidos, portanto, como uma mensagem política e militar tão clara quanto impiedosa. Até meados de outubro, segundo o que informalmente a Casa Branca anunciou nas redes sociais, pelo menos cinco embarcações supostamente transportando drogas foram explodidas, com um saldo de 27 pessoas falecidas nessas lanchas. Até a presente data, ainda não há nomes dos tripulantes executados, nem explicações formais do ocorrido.
Motivações políticas internas
Setembro de 2025 tornou-se o mês de maior beligerância estadunidense contra a cúpula chavista desde a “presidência interina” de Guaidó. Diferentemente de 2019 – quando a estratégia combinava pressão diplomática, sanções econômicas e apoio à oposição política –, hoje o quadro é mais incerto: a intervenção militar surge como um caminho plausível para um governo que precisa de resultados rápidos em política externa e dividendos políticos internos. Esta leitura foi destacada pelos pesquisadores da VisualPolitik, que identificam quatro razões principais que poderiam empurrar Trump a agir militarmente na Venezuela.
A primeira é eleitoral. Em novembro de 2026, serão realizadas as eleições de meio de mandato, em um contexto em que cresceu a rejeição da população latina à política migratória de Trump. As ações brutais do ICE (Serviço de Imigração e Controle Alfandegário) afetaram até mesmo milhares de latinos com residência legal, o que gerou mal-estar entre setores que, entre 2016 e 2020, apoiaram entusiasticamente o republicano. Uma operação militar “bem-sucedida” na Venezuela poderia servir para dar-lhe fôlego. Trump poderia se apresentar como o líder que forçou uma mudança política em Caracas e, ao mesmo tempo, alimentar a expectativa de que Cuba e Nicarágua seriam os próximos regimes a cair. Essa mensagem ecoaria especialmente entre a comunidade cubano-americana e nicaraguense mais anticomunista, que representa um eleitorado crucial em estados como a Flórida.
Uma segunda motivação está vinculada ao discurso interno do movimento MAGA [Make America Great Again], que construiu boa parte de sua identidade política em torno da ideia – de inspiração abertamente xenófoba – de que os imigrantes são responsáveis pelos problemas sociais dos Estados Unidos. Embora a imigração seja, em termos econômicos, benéfica para um país com déficit de mão de obra e grandes espaços para o desenvolvimento agrícola e industrial, Trump e seus aliados difundiram com sucesso a ideia de que ela constitui uma ameaça. Nesse contexto, uma ação militar permitiria reforçar a mensagem de que o fluxo migratório da Venezuela, e eventualmente de Cuba e Nicarágua, para os Estados Unidos será drasticamente reduzido, e que muitos migrantes poderiam até retornar a seus países de origem. Essa mensagem tem eco na base mais reacionária do trumpismo, apesar de a realidade ser mais complexa: embora as interceptações fronteiriças tenham caído 92% graças a políticas mais restritivas, os centros de detenção estão em colapso e há uma séria insuficiência de juízes para processar deportações, o que torna a situação burocraticamente catastrófica.
A terceira motivação é geopolítica. Durante a presidência de Joe Biden, Washington concentrou sua atenção na Europa e no Oriente Médio e relegou a América Latina a um segundo plano. Trump fez da recuperação da influência estadunidense na região um de seus slogans: chegou a propor rebatizar o Golfo do México como “Golfo da América”, uma ideia extravagante que, no entanto, ilustra bem sua visão de controle hemisférico. Nesse esquema, Venezuela, Cuba e Nicarágua aparecem como peças-chave de um tabuleiro mais amplo: são plataformas políticas e logísticas para a presença de China, Rússia e Irã na região. Neutralizar essa “influência maligna”, como a descreve o discurso oficial do movimento MAGA, é um objetivo central. A ofensiva militar se apresentaria, além disso, como uma mensagem de força frente às redes do narcotráfico que, segundo a narrativa trumpista, esses países promovem para “envenenar” a juventude norte-americana.
Por fim, há uma dimensão simbólica e pessoal. Para Trump, enfraquecer o regime cubano, intimidar o governo de Gustavo Petro na Colômbia e ameaçar o regime momificado da Nicarágua poderia gerar dividendos políticos imediatos. A Venezuela reduziu suas exportações de petróleo para Cuba de 100 mil para 31 mil barris diários, mas continua sendo um sustento econômico chave para Havana. Atingir Caracas implicaria atingir uma Cuba submersa em gravíssimos problemas energéticos e que depende em grande medida dos envios de petróleo venezuelano. Em suma, seria como “matar dois coelhos com uma cajadada só”, na linguagem de Trump.
No imaginário do trumpismo, uma operação militar vitoriosa poderia valer-lhe homenagens na Flórida, ruas com seu nome e estátuas em sua honra. Aos 80 anos e em seu segundo e último mandato, seria sua maneira de deixar uma marca duradoura. Para Marco Rubio, um de seus principais aliados e agora secretário de Estado, seria ainda uma oportunidade para consolidar sua liderança dentro do Partido Republicano e se posicionar para as futuras primárias presidenciais.
Há também um cálculo de oportunidade. Trump fracassou em sua estratégia para a Venezuela em 2019-2020, até agora falhou em sua busca por estabelecer um “acordo de paz” na Ucrânia e teve resultados esquecíveis no Irã. Exceto pela delicada e incerta proclamação do fim da guerra em Gaza, assinada em 13 de outubro, o governo Trump não parece ter tido um sucesso sólido para apresentar ao seu público. Além disso, sua política tarifária resultou em um desastre que derivou no aumento do custo de vida, atingindo sua base operária, enquanto sua gestão econômica compete na agenda midiática com escândalos como o caso Epstein. Nesse contexto, uma “vitória” rápida na Venezuela – um inimigo “engordado” durante anos pelo próprio trumpismo – surge como uma das poucas cartas de sucesso sólido que ele poderia jogar, no meio de uma gestão marcada por fracassos.
Cenários e limites de uma possível invasão
Apesar da intensidade do desdobramento militar e do tom cada vez mais de confronto, uma invasão em grande escala da Venezuela parece, pelo menos por enquanto, improvável. A última vez que Washington interveio militarmente na América Latina foi em 1989, com a operação Causa Justa no Panamá. Na ocasião, 26 mil soldados desembarcaram para capturar Manuel Noriega, acusado de liderar um cartel de narcotráfico. A invasão durou duas semanas e deixou, oficialmente, 23 soldados norte-americanos e 516 panamenhos mortos (embora cifras extraoficiais cheguem a falar de cerca de 3 mil panamenhos mortos). O Panamá, no entanto, é um país de apenas 75 mil quilômetros quadrados, enquanto a Venezuela tem 916 mil: o desafio territorial, logístico e político é incomparável.
A experiência do Iraque em 2003 também serve como parâmetro. Os Estados Unidos perderam mais de 4.500 soldados durante a ocupação, gastaram cerca de dois trilhões de dólares e deixaram um saldo estimado de 200 mil civis mortos. Os especialistas militares concordam que uma invasão à Venezuela exigiria 150 mil efetivos militares, mesmo considerando os avanços tecnológicos em armamento e logística contemporâneos.
Nada disso se assemelha ao cenário atual. Os efetivos militares posicionados nas costas venezuelanas giram em torno de 7 mil, uma cifra insuficiente para afirmar que existe estadunidense John Polga-Hecimovich, não existe neste momento nem a força militar mobilizada nem o respaldo político interno necessário para tal empreitada. O Robert Lansing Institute (RLI) reforça este diagnóstico: nos Estados Unidos existe uma profunda fadiga política e social em relação a invasões militares, marcada pela lembrança dos fracassos no Iraque e no Afeganistão. Segundo o RLI, o objetivo atual de Washington não é ocupar a Venezuela, mas interromper as rotas do narcotráfico, neutralizar a presença da Rússia, China e Irã no país e reafirmar a influência estadunidense no hemisfério, evitando um desdobramento terrestre prolongado.
Uma mudança de regime orquestrada a partir dos Estados Unidos sem tropas em solo também se apresenta como altamente improvável. Uma transição desse tipo enfrentaria sérias dificuldades para estabilizar o poder: uma liderança civil desarmada teria legitimidade política, mas careceria de força coercitiva; enquanto uma liderança militar traria poder de execução, mas com legitimidade popular limitada. Em ambos os casos, a consolidação de um novo regime seria frágil e vulnerável.
Nesse marco, analistas militares não descartam operações mais limitadas, como ataques aéreos seletivos, sabotagens ou ações encobertas, sem ocupação territorial prolongada. A declaração do subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau – filho de um ex-embaixador estadunidense na Venezuela durante o mandato de Ronald Reagan – ilustra bem esta abordagem: “O povo da Venezuela tem que se levantar e reclamar sua liberdade. Não podemos sair pelo mundo mudando governos ao nosso bel-prazer (…) Se o povo não conquista sua liberdade, não a valoriza”. Que Landau diga isso é notável, vindo de um país com um longuíssimo histórico de golpes de Estado, intervenções militares e operações de mudanças bruscas de governo. Se nos guiarmos por suas palavras, a intenção desta fase pré-bélica se orientaria à desarticulação violenta de redes de narcotráfico e à captura ou neutralização dos líderes dos cartéis, não a ocupar países nem a instalar governos locais afins.
Uma ocupação de maior envergadura, além disso, ativaria custos políticos e humanos que funcionam como fortes desincentivos para Washington: o provável surgimento de guerrilhas rurais e urbanas ungidas por um discurso nacionalista e patriótico; uma rápida solidariedade internacional com o ator mais fraco; e, no plano doméstico, a imagem de aviões chegando com caixões envoltos em bandeiras, alimentando a rejeição tanto da base MAGA quanto da população em geral. Tudo isso seria, ainda, diametralmente oposto ao roteiro político que Trump manteve em sua carreira.
Nessa linha, o historiador militar Alan McPherson propôs que o desdobramento naval poderia constituir o preâmbulo de um “ataque cirúrgico” contra objetivos específicos. “Poderia ser, como se disse, a preparação de um ataque cirúrgico contra os narcotraficantes. (…) Mas nada disso exigiria uma flotilha tão grande. Talvez a Marinha queira atacar mais diretamente Maduro ou fomentar uma revolta interna, por exemplo, no Exército venezuelano. (…) É claro que Trump quer intimidar o regime venezuelano”, afirmou. Enquanto isso, o ex-oficial de inteligência militar Stephen Donehoo foi mais contundente: “Nunca tinha visto um desdobramento tão grande de forças navais no Comando Sul (…) [mas] isso não é uma força para invadir um país estrangeiro. Pode haver outras missões muito mais precisas (…) Pode ser que haja missões de drones armados sobrevoando o espaço aéreo venezuelano”.
Reações do regime venezuelano e estratégias de dissuasão
A explosão da lancha venezuelana ocorrida em 2 de setembro no estreito marítimo entre a península de Paria e Trinidad e Tobago constituiu um fato de enorme gravidade. Tudo indica que a embarcação se encontrava em águas venezuelanas, apesar de Trump ter afirmado inicialmente que o ataque ocorrera em águas internacionais. O episódio equivale a uma provocação direta a Miraflores [palácio presidencial], um autêntico casus belli. Ou seja, um motivo de guerra.
Nesse clima, vários analistas e colunistas descreveram a conjuntura como um ponto de não retorno. Como sintetizou Jorge Alejandro Rodríguez: “A sorte está lançada. Acabou o tempo do blefe, do diálogo como paródia (…) do cálculo miúdo e da intriga palaciana. (…) O dado foi lançado ao ar (…) Cruzamos o Rubicão”.
No entanto, a reação inicial do regime não foi escalar a situação. As autoridades venezuelanas divulgaram uma versão inusitada: afirmaram que a explosão da lancha era uma montagem realizada mediante inteligência artificial, uma narrativa que ignorava um fato básico: os 11 tripulantes falecidos tinham familiares que começaram a reclamar publicamente por suas mortes.
Quando estes pêsames e reclamações começaram a circular nas redes sociais, o governo optou por militarizar a pequena cidade de San Juan de Unare, de onde havia partido a lancha, e proibiu divulgar versões alternativas à oficial. Apesar do escândalo que foi o ataque, o regime não respondeu com força equivalente nem construiu uma narrativa consistente sobre a inocência das vítimas, algo que seria de se esperar numa situação desse tipo.
Poucos dias depois, Nicolás Maduro interveio diretamente. Em uma declaração televisionada, disse: “Inventam uma narrativa, uma história, em que ninguém acredita. A juventude nos Estados Unidos não acredita nas mentiras do mandachuva da Casa Branca, Marco Rubio. Quem manda na Casa Branca é Marco Rubio, a máfia de Miami, que quer encher [as mãos] de sangue do presidente Donald Trump”.
Esta intervenção “astuta” buscou deslocar a responsabilidade da agressividade militar estadunidense para Rubio, semeando a ideia de que o senador manipula Trump a partir de Miami. A aposta é que o próprio Trump ouça essas acusações e reflita sobre sua conduta, percebendo que está sendo instrumentalizado por um setor liderado pelo secretário de Estado.
Em paralelo, o regime tentou projetar uma imagem de força interna recorrendo a sua retórica defensiva. Maduro falou de uma “arma secreta”: a milícia. Segundo porta-vozes do regime, esta força contaria com 8,2 milhões de cidadãos recém-incorporados ao “sistema defensivo nacional”, que se somariam a 4,5 milhões de milicianos treinados previamente. No total, o regime afirma dispor de 12,7 milhões de reservistas, quase a metade da população que permanece no país.
Cenários de desescalada e conclusões
Diante do cenário atual, alguns especialistas sustentam que o desdobramento militar dos Estados Unidos pode ter mais de gesto simbólico do que de ação concreta. O analista político Geoff Ramsey considera que todo esse aparato bélico é “muito barulho por nada”. Segundo ele, é provável que continuem os “ruídos de sabres” vindos de Washington e que ocorram mais ataques contra embarcações ou voos ligados ao narcotráfico, mas não há sinais de que os Estados Unidos estejam dispostos a arriscar seus interesses migratórios e energéticos na Venezuela com uma operação em grande escala.
Em outras palavras, todas as opções estão sobre a mesa, mas uma retirada da frota após alguns golpes seletivos – como a destruição da lancha venezuelana de 2 de setembro – é perfeitamente possível, segundo Ramsey. Esta hipótese circula também entre setores republicanos e boa parte da população venezuelana, onde se popularizou um acrônimo irônico: TACO. A expressão remete à frase “Trump Always Chickens Out”, que significa literalmente “Trump sempre se acovarda”. Em suma, resume a ideia de que o presidente dos Estados Unidos costuma recuar no último momento e não concretizar suas ameaças.
No entanto, algumas proclamações e medidas de última hora parecem prenunciar que uma ação bélica terrestre poderia se tornar inevitável. A breve declaração de Trump a esse respeito foi lacônica e definitiva: “Certamente estamos pensando agora em agir por terra, porque já temos o mar bem sob controle”. Não satisfeito com isso, em 15 de outubro Trump autorizou formalmente a realização de operações encobertas da Agência Central de Inteligência (CIA) contra a Venezuela. Essa decisão estaria relacionada à ordem de executar ações de neutralização sobre alvos militares, civis e infraestruturas-chave.
Nesse mesmo dia, dois bombardeiros B-52 dos Estados Unidos sobrevoaram o Caribe a apenas 50 milhas das águas territoriais venezuelanas, ingressaram brevemente na Região de Informação de Voo Maiquetía e traçaram nos radares uma trajetória inusitada: uma figura fálica diante das costas da capital.
Nesse contexto, parece remoto o cenário de uma retirada abrupta da frota naval norte-americana do Caribe após ter conseguido apenas a destruição de cinco lanchas. É preciso considerar que uma ação militar de tal magnitude foi planejada com grande antecedência, e que uma eventual retirada sem alcançar objetivos vinculados à captura dos líderes dos grupos que eles classificaram como “terroristas que atentam contra a segurança dos Estados Unidos” representaria uma demonstração incomum de fraqueza e uma derrota estratégica vergonhosa. Um fracasso dessa natureza destruiria a credibilidade beligerante de uma potência cujos dias de esplendor parecem ter ficado no passado.
Para além dos cálculos estratégicos, a possibilidade de uma guerra na Venezuela obriga a refletir sobre seus custos e alternativas. O autor destas linhas rejeitou sistematicamente todas as invasões militares desde sua adolescência. A ocupação de territórios por tropas estrangeiras – seja a invasão russa à Ucrânia ou a intervenção estadunidense no Iraque em busca de armas de destruição em massa que nunca existiram – tem sido objeto de crítica pública constante. A defesa da paz e da resolução civilizada dos conflitos não é apenas um princípio ético, mas também uma necessidade política para evitar catástrofes humanitárias.
No entanto, a paz não pode ser proposta como um simples retorno ao status quo. Como têm assinalado diferentes setores da sociedade venezuelana, qualquer solução negociada deve se fundar na justiça. Isto implica a libertação imediata de todos os presos políticos e o arquivamento de mais de 10 mil processos judiciais abertos contra ativistas, opositores e sindicalistas. Mas também requer o reconhecimento pleno dos resultados eleitorais das presidenciais de 28 de julho de 2024, assim como a restituição dos direitos políticos e civis conculcados a organizações partidárias, classistas e sindicais.
Advogar por uma paz sem justiça nem direitos humanos seria, neste contexto, uma forma de colaboração com o algoz e de prolongamento do sofrimento das vítimas. Nesse sentido, é imperioso recordar que, no último dia 10 de outubro, o Comitê Norueguês do Nobel decidiu conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2025 a María Corina Machado por “sua incansável atuação na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura à democracia”. Textualmente, o Comitê explicou: “A Venezuela evoluiu de um país relativamente democrático e próspero para um Estado brutal e autoritário que agora sofre uma crise humanitária e econômica. A maioria dos venezuelanos vive em extrema pobreza (…) Quase oito milhões de pessoas abandonaram o país.”
A declaração, incomumente dura, do Comitê parece um esforço da Europa para não ficar à margem da luta política venezuelana e oferecer um contundente respaldo à atuação da líder da oposição. De modo semelhante, o Partido Democrata dos Estados Unidos não quis ficar para trás e concedeu à ativista venezuelana Sairam Rivas o Prêmio Hillary Rodham Clinton, outorgado pelo Instituto de Georgetown para a Mulher, a Paz e a Segurança (GIWPS, na sigla em inglês), em reconhecimento à coragem das mulheres venezuelanas encarceradas por motivos políticos.
Esses reconhecimentos internacionais buscam aumentar a pressão política e social sobre o regime venezuelano, em prol de uma solução que permita o retorno da democracia ao país.
O futuro imediato da Venezuela dependerá, em boa medida, da combinação destas variáveis: a disposição real de Washington de ir além dos gestos intimidatórios, a capacidade do regime de Maduro de sustentar sua retórica sem cair em provocações que não pode responder, e a pressão da sociedade venezuelana e internacional para que qualquer saída se baseie em garantias políticas e direitos fundamentais. Entre a ameaça da guerra e a possibilidade de uma paz sem justiça, o país se encontra numa encruzilhada decisiva.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

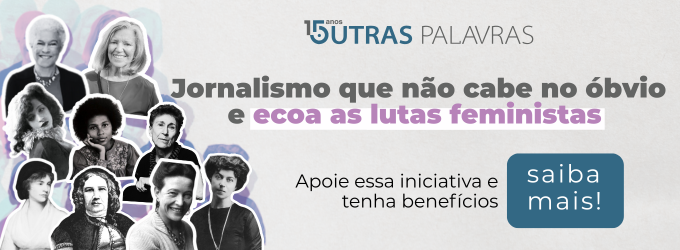
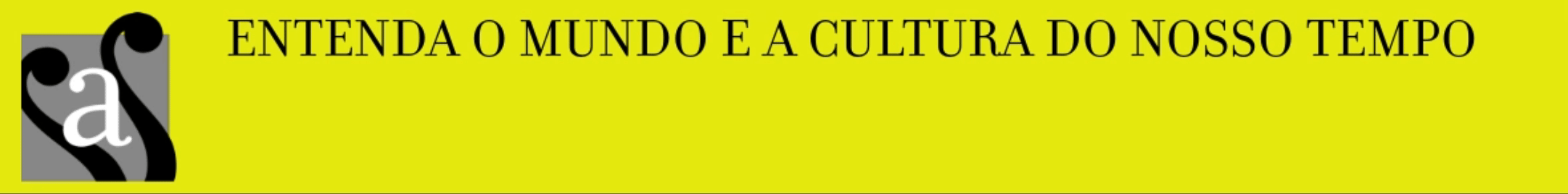
Direita, centro, esquerda. Tudo a mesma m.. A questão da desarrumação da sociedade humana não pode ser superada por ter base na estupidez humana cuja infinitude mestre Einstein disse não ter dúvida.