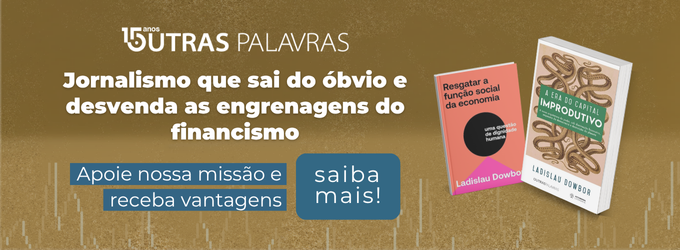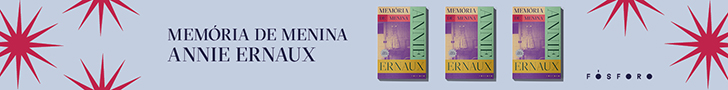Trabalho: Como o patriarcado sabota as mulheres
Apesar de avanços, desigualdades são brutais. Mais escolarizadas, ganham menos e não atingem cargos de liderança. Predominam em empregos temporários e precários. “Diversidade” nas empresas é retórica. Realidade é ainda pior para mulheres negras
Publicado 14/10/2025 às 19:21

Por Erik Chiconelli Gomes
Perspectivas Históricas e Construção Social das Desigualdades
A história do trabalho feminino no Brasil carrega consigo marcas profundas de uma construção social desigual que atravessa gerações. Desde o processo de industrialização iniciado no século XIX, as mulheres brasileiras ocuparam posições específicas no mercado de trabalho, frequentemente associadas a funções consideradas extensões do trabalho doméstico e maternal. Como demonstram as análises históricas, durante o final do século XIX e início do século XX, costureiras, mucamas e lavadeiras constituíam as principais ocupações femininas remuneradas, estabelecendo um padrão de segregação ocupacional que persistiria por décadas (MONTELEONE, 2019). Esse processo não foi acidental, mas sim resultado de representações sociais que naturalizavam certas atividades como femininas, relegando às mulheres as funções menos valorizadas econômica e socialmente.
A inserção das mulheres nas fábricas têxteis mineiras no final do século XIX exemplifica como se estruturou essa divisão sexual do trabalho. Consideradas pelos industriais como “os melhores empregados” devido à sua suposta docilidade e habilidades manuais, as trabalhadoras recebiam salários sistematicamente inferiores aos masculinos, mesmo quando desempenhavam funções similares (FERREIRA, 2009). A diferenciação salarial não encontrava justificativa na produtividade ou qualificação, mas sim em concepções patriarcais que definiam o trabalho feminino como complementar ao masculino, nunca como sustento principal de uma família.
O período entre 1917 e 1937 marca um momento crucial na história da legislação trabalhista brasileira e na luta pelos direitos das trabalhadoras. Durante esse intervalo, emergiram importantes debates sobre igualdade salarial, licença maternidade e proteção ao trabalho feminino, evidenciando as contradições entre o reconhecimento da presença das mulheres na esfera produtiva e a manutenção de estruturas patriarcais (FRACCARO, 2018). O Decreto do Trabalho das Mulheres de 1932 representou um avanço ambíguo: se por um lado reconhecia direitos específicos, por outro reforçava a ideia de que as mulheres necessitavam proteção especial, perpetuando estereótipos sobre sua fragilidade.
A questão da maternidade tornou-se central nos debates sobre a regulação do trabalho feminino. Durante a elaboração da Constituição de 1934, estabeleceu-se uma ampla discussão sobre como garantir que as trabalhadoras pudessem exercer simultaneamente suas funções produtivas e reprodutivas. A aprovação de benefícios à gestante mediante contribuição tripartite (União, empregador e empregado) refletia tanto um avanço quanto uma contradição: reconhecia-se a necessidade de proteção, mas transferia-se parte do custo para as próprias trabalhadoras (SILVA, 2016). Essa lógica contribuiu para que empregadores desenvolvessem preferências por contratar homens, perpetuando a exclusão feminina de determinadas ocupações.
A perspectiva da divisão sexual do trabalho, conceito fundamental desenvolvido por teóricas feministas, permite compreender como se estruturam as desigualdades no mundo produtivo. Essa divisão não se refere apenas à distribuição de tarefas entre homens e mulheres, mas à hierarquização dessas atividades, com a desvalorização sistemática do trabalho realizado por mulheres (HIRATA; KERGOAT, 2007). Trata-se de uma construção social mediada por relações de poder que atravessa diferentes contextos históricos e geográficos, adaptando-se às transformações econômicas sem perder sua essência discriminatória.
A questão da visibilidade estatística do trabalho feminino constitui outro aspecto crucial para compreender as desigualdades históricas. Durante décadas, o trabalho realizado por mulheres, especialmente no contexto rural e doméstico, permaneceu invisível nas estatísticas oficiais, contribuindo para sua desvalorização econômica e social. Somente a partir das mudanças metodológicas implementadas pelo IBGE na década de 1990, que passaram a incluir atividades para autoconsumo e produção familiar, começou-se a mensurar adequadamente a contribuição feminina para a economia brasileira (BRUSCHINI, 2000). Essa invisibilidade estatística não era neutra: refletia e reforçava a percepção de que o trabalho das mulheres tinha menor importância econômica.
Quadro 1: Construção Histórica das Desigualdades de Gênero no Trabalho Brasileiro
| Período | Características do Trabalho Feminino | Marcos Legais e Sociais |
| Final do século XIX | Concentração em atividades de costura, lavanderia e serviços domésticos. Presença em fábricas têxteis com salários inferiores aos masculinos para funções equivalentes. Trabalho visto como extensão das atividades domésticas. | Ausência de proteção legal específica. Naturalização da diferença salarial baseada em concepções patriarcais sobre o papel social da mulher. |
| 1917-1932 | Crescente presença nas fábricas durante processo de industrialização. Jornadas extensas sem proteções específicas. Início da organização sindical feminina. | Debates internacionais sobre direitos trabalhistas. Emergência dos movimentos feministas reivindicando igualdade salarial e condições dignas de trabalho. |
| 1932-1943 | Reconhecimento legal da presença feminina no mercado de trabalho formal. Tensão entre proteção e restrição: benefícios maternais versus limitações à contratação. | Decreto do Trabalho das Mulheres (1932). Constituição de 1934 com capítulo sobre ordem econômica e social. Elaboração da CLT. Estabelecimento de licença maternidade e proibições de trabalho noturno. |
| 1960-1990 | Expansão da participação feminina no mercado formal. Aumento da escolaridade feminina superando a masculina. Persistência da segregação ocupacional e diferenças salariais. | Mudanças nas metodologias de contabilização do trabalho feminino pelo IBGE. Redemocratização e Constituição de 1988. Crescente visibilidade estatística do trabalho feminino. |
| Década de 1990-2010 | Mercantilização acelerada do trabalho feminino. Reestruturação produtiva com impactos diferenciados por gênero. Flexibilização e precarização atingindo especialmente mulheres. | Implementação de políticas de igualdade de gênero. Criação de mecanismos de proteção contra discriminação. Avanços legais não eliminam desigualdades estruturais. |
Este quadro sintetiza como, ao longo de mais de um século, construiu-se uma estrutura de desigualdades que, embora tenha assumido diferentes formas em cada período histórico, manteve uma constante: a desvalorização sistemática do trabalho realizado por mulheres. Cada avanço legal trouxe consigo contradições que perpetuaram, sob novas configurações, as hierarquias de gênero no mundo do trabalho.
A mercantilização do trabalho feminino no Brasil, especialmente entre 1960 e 2010, revela um processo complexo de transformação. Observou-se um aumento significativo da participação feminina no mercado de trabalho formal, acompanhado por mudanças nas formas de contabilização dessa presença. No entanto, essa mercantilização ocorreu de maneira profundamente sexuada, com as mulheres concentrando-se em determinados setores e ocupações, fenômeno conhecido como segregação ocupacional (GUIMARÃES; BRITO, 2016). As transformações no modo de contar a atividade feminina refletiram mudanças na consciência social sobre o papel econômico das mulheres, mas não eliminaram as estruturas de desigualdade.
Desigualdades Contemporâneas e Interseccionalidades
O Brasil contemporâneo apresenta um quadro complexo de desigualdades de gênero no mercado de trabalho que persiste apesar dos avanços legais e educacionais alcançados nas últimas décadas. Os dados revelam que, embora as mulheres tenham alcançado níveis de escolaridade superiores aos dos homens, essa vantagem educacional não se traduz em igualdade salarial. Em estabelecimentos de grande porte, as funcionárias do sexo feminino ganhavam, em 2015, aproximadamente 21,5% menos que os empregados do sexo masculino no conjunto das ocupações, evidenciando que a discriminação salarial transcende questões de qualificação (SOUZA; GUEDES, 2016).
A análise por grandes grupos ocupacionais demonstra que a desigualdade salarial se manifesta de forma heterogênea conforme o nível hierárquico e o tipo de ocupação. Profissionais das ciências e das artes e técnicos de nível médio apresentam maior presença feminina, mas isso não necessariamente se traduz em equidade salarial. Paradoxalmente, em algumas ocupações onde as mulheres são maioria, como trabalhadores de serviços administrativos, observa-se manutenção de diferenças salariais significativas (SOUZA; GUEDES, 2016). Esse fenômeno sugere que a presença numérica não elimina a discriminação, podendo até mesmo contribuir para a desvalorização da ocupação como um todo.
A intersecção entre gênero e raça aprofunda drasticamente as desigualdades no mercado de trabalho brasileiro. Estabelece-se uma hierarquia clara nos rendimentos: homens brancos no topo, seguidos por mulheres brancas, homens negros e, na base, mulheres negras (SANTOS, 2005). Essa estratificação não resulta apenas da soma de discriminações, mas de sua interação complexa, onde ser mulher e negra produz desvantagens específicas que não podem ser compreendidas separadamente. As mulheres negras enfrentam simultaneamente barreiras relacionadas à formação educacional, inserção ocupacional e discriminação salarial direta.
Os estudos sobre desigualdade salarial entre mulheres brancas e negras revelam que o hiato salarial não apenas persiste, como se ampliou em determinados períodos. Em 1987, as mulheres negras recebiam em média 55% do que recebiam as brancas; em 1999, essa razão havia diminuído para 52% (SOARES, 2004). Essa tendência contraria expectativas de que o desenvolvimento econômico e a modernização reduziriam automaticamente as desigualdades, demonstrando que mecanismos discriminatórios se atualizam e adaptam às transformações sociais. A persistência dessa desigualdade em um contexto de decrescente desigualdade salarial dentro de cada grupo racial aponta para a especificidade da discriminação que atinge as mulheres negras.
A segregação ocupacional constitui mecanismo fundamental na produção das desigualdades de gênero e raça. Mulheres e homens, brancos e negros, não apenas recebem salários diferentes por trabalhos similares, mas são direcionados a ocupações distintas com prestígios e remunerações diferenciados. As mulheres negras concentram-se desproporcionalmente em ocupações de menor prestígio e remuneração, como trabalho doméstico e serviços de cuidado, enquanto enfrentam barreiras significativas para acessar posições de liderança e cargos executivos (SILVEIRA; LEÃO, 2020). Apenas 1,9% das mulheres negras ocupavam cargos de gerência ou direção, comparado a 5,0% das mulheres brancas, evidenciando como o racismo estrutural opera no mercado de trabalho.
A análise da composição do grupo de alta renda revela como a discriminação se intensifica nos estratos superiores da distribuição salarial. À medida que se avança na hierarquia de rendimentos, diminui drasticamente a presença de mulheres, e mais ainda de mulheres negras. Esse fenômeno, denominado “teto de vidro”, manifesta-se através de barreiras invisíveis mas extremamente eficazes que impedem a ascensão feminina, especialmente de mulheres negras, a posições de maior prestígio e remuneração (RIBEIRO, 2009). A resistência à ocupação desses espaços por mulheres revela como o prestígio social e o poder econômico continuam fortemente marcados por hierarquias de gênero e raça.
Quadro 2: Panorama das Desigualdades Salariais no Brasil Contemporâneo – Uma Análise Interseccional
| Indicador | Homens Brancos | Mulheres Brancas | Homens Negros | Mulheres Negras |
| Posição na Hierarquia Salarial | Topo (referência 100%) | 2ª posição | 3ª posição | Base da pirâmide |
| Rendimento Relativo | 100% (referência) | Aproximadamente 71-75% | Aproximadamente 55-60% | Aproximadamente 40-52% |
| Acesso a Ocupações de Média/Alta Classe Média | Maioria dos postos | Crescente, mas com barreiras | 20,6% dos negros ocupados | 8,7% dos negros ocupados |
| Presença em Cargos de Gerência/Direção | Predominância significativa | 5,0% das mulheres | Sub-representação marcante | 1,9% das mulheres |
| Discriminação Salarial em Grandes Empresas (2015) | Referência | -21,5% | Dados combinados com raça | Múltipla desvantagem |
| Relação Salarial Atual (2025) | Referência 100% | Mediana: 89,6% / Média: 88,8% | Dados não especificados | Dados não especificados |
Este panorama revela a estrutura piramidal das desigualdades no mercado de trabalho brasileiro, onde gênero e raça operam simultaneamente para posicionar diferentes grupos em estratos distintos de renda e prestígio. Homens brancos ocupam consistentemente o topo da hierarquia salarial, estabelecendo o padrão de referência a partir do qual todas as outras desigualdades são mensuradas. Mulheres brancas situam-se em posição intermediária, enfrentando principalmente discriminação de gênero que se manifesta através de barreiras à ascensão e diferenças salariais mesmo com qualificação equivalente ou superior. Homens negros experimentam desvantagens relacionadas à inserção ocupacional e formação educacional, resultado do racismo estrutural que limita suas oportunidades desde a base. Mulheres negras, na intersecção entre racismo e sexismo, encontram-se na base desta pirâmide, enfrentando simultaneamente todos os mecanismos de exclusão: menor acesso à educação de qualidade, concentração em ocupações de menor prestígio, ausência quase total em posições de liderança e os menores rendimentos relativos do mercado de trabalho.
As transformações no mundo do trabalho nas últimas décadas, marcadas pela reestruturação produtiva e flexibilização, impactaram diferentemente homens e mulheres. A terceirização, a informalidade e as subcontratações atingiram de forma mais intensa as trabalhadoras, especialmente aquelas em setores tradicionalmente femininos como a confecção. A cadeia produtiva do vestuário exemplifica como se atualizam formas de exploração sexuadas, com mulheres concentradas em atividades domiciliares, temporárias e precárias (SILVA; LIMA, 2017). O trabalho em domicílio, longe de representar flexibilidade positiva, frequentemente significa isolamento, insegurança e remuneração ainda mais reduzida.
Segundo o Relatório de Transparência e Igualdade Salarial (BRASIL, 2025), que utiliza como base os dados do eSocial, da Rais Mensal de junho de 2025 e do Portal Emprega Brasil de agosto de 2025, em uma empresa com 591 trabalhadores ativos, o salário contratual mediano das mulheres equivale a 89,6% do recebido pelos homens, enquanto a remuneração média mensal das mulheres equivale a 88,8% da recebida pelos homens. Esses números, referentes ao segundo semestre de 2025, demonstram que, mesmo com toda a legislação vigente e os avanços nas políticas de igualdade, a disparidade salarial permanece como realidade concreta no cotidiano das trabalhadoras brasileiras.
Reflexões Finais
A análise histórica e contemporânea das desigualdades salariais entre mulheres e homens no Brasil revela a persistência de estruturas discriminatórias que atravessam diferentes períodos e contextos econômicos. Desde a industrialização no século XIX até o Brasil contemporâneo de 2025, observa-se uma continuidade nas formas de desvalorização do trabalho feminino, ainda que essas formas se atualizem e assumam novas configurações. A segregação ocupacional, a discriminação salarial e as barreiras à ascensão profissional constituem manifestações interligadas de um mesmo fenômeno: a hierarquização social baseada em gênero e raça.
A dimensão interseccional das desigualdades torna-se cada vez mais evidente quando se examina a situação específica das mulheres negras. Não se trata apenas de somar discriminações de gênero e raça, mas de compreender como essas dimensões se entrelaçam produzindo experiências únicas de exploração e exclusão. As mulheres negras brasileiras enfrentam desafios múltiplos que vão desde o acesso desigual à educação de qualidade até a concentração em ocupações de menor prestígio, passando pela discriminação salarial que persiste mesmo quando alcançam níveis educacionais superiores. Essa realidade exige políticas específicas que reconheçam a especificidade dessa opressão.
A questão da divisão sexual do trabalho permanece central para compreender as desigualdades contemporâneas. Apesar da crescente participação feminina no mercado de trabalho formal, persiste a responsabilização desproporcional das mulheres pelo trabalho reprodutivo e de cuidado. Essa dupla jornada não apenas sobrecarrega as trabalhadoras, mas também serve de justificativa para sua exclusão de determinadas posições ou para a manutenção de salários inferiores. A conciliação entre trabalho produtivo e responsabilidades familiares continua sendo apresentada como problema feminino, quando deveria ser reconhecida como questão social que exige políticas públicas abrangentes.
Os critérios remuneratórios adotados pelas empresas frequentemente perpetuam desigualdades mesmo quando não são explicitamente discriminatórios. Disponibilidade para horas extras, reuniões com clientes e viagens; tempo de experiência profissional; e proatividade são critérios que, à primeira vista, podem parecer neutros. No entanto, em uma sociedade que atribui às mulheres a responsabilidade prioritária pelo cuidado familiar, esses critérios operam como barreiras indiretas ao avanço profissional feminino. A aparente neutralidade mascara o viés de gênero embutido nas próprias estruturas organizacionais.
As ações para aumentar a diversidade implementadas por empresas, como políticas de contratação de mulheres e programas de promoção para cargos de direção, representam avanços importantes mas insuficientes. Pesquisas revelam que apenas uma pequena parcela das grandes empresas adota políticas consistentes e com metas definidas para promover igualdade de oportunidades. Muitas dessas iniciativas permanecem no plano retórico ou são implementadas de forma superficial, sem questionar as estruturas profundas que produzem e reproduzem desigualdades. A mudança efetiva exige transformação na cultura organizacional e no reconhecimento de que a desigualdade não resulta de características individuais, mas de sistemas de opressão estruturais.
A persistência das desigualdades salariais em um contexto de avanço educacional feminino constitui paradoxo revelador. As mulheres brasileiras alcançaram e superaram os homens em escolaridade média, mas essa vantagem educacional não se converteu em igualdade salarial ou ocupacional. Esse fenômeno evidencia que as desigualdades de gênero não podem ser reduzidas a questões de qualificação ou capital humano. Há fatores estruturais, culturais e institucionais que operam para manter mulheres em posições subordinadas, independentemente de suas credenciais educacionais. A educação é necessária, mas claramente insuficiente para superar séculos de discriminação e hierarquização social.
A compreensão histórica das desigualdades permite reconhecer padrões de longa duração que se manifestam no presente. A associação entre trabalho feminino e determinadas ocupações, estabelecida no processo de industrialização, persiste através de novas configurações. A desvalorização das profissões feminilizadas, a remuneração inferior mesmo em funções equivalentes e a dificuldade de acesso a posições de poder são continuidades históricas que desafiam narrativas lineares de progresso. Reconhecer essas continuidades não significa negar os avanços conquistados, mas sim entender que a superação das desigualdades exige enfrentamento consciente e sistemático de estruturas profundamente enraizadas.
Referências
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens: 2º Semestre 2025. Empregador: 43.419.613/0001-70. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.
BRUSCHINI, Cristina. Instruídas e trabalhadeiras: trabalho feminino no final do século XX. Cadernos Pagu, Campinas, n. 17-18, p. 157-196, 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cpa/a/VTDTBZBKQjxkmCK8BQttYVw/. Acesso em: 20 set. 2025.
FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Os melhores empregados: a inserção e a formação da mão-de-obra feminina em fábricas têxteis mineiras no final do século XIX. Varia História, Belo Horizonte, v. 25, n. 42, p. 695-717, jul./dez. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/vh/a/66rwwFFwMCzJLXZ3k7crqpF/. Acesso em: 22 set. 2025.
FRACCARO, Glaucia Cristina Candian Fraccaro. Os direitos das mulheres: organização social e legislação trabalhista no entreguerras brasileiro (1917-1937). São Paulo: FGV Editora, 2018. Resenha de: TEIXEIRA, Marilane Oliveira. A história do trabalho das mulheres no Brasil: perspectiva feminista. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, n. 4, e00020119, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/fpwYtkVGQKjh3rwMxgkT47F/. Acesso em: 21 set. 2025.
GUIMARÃES, Nadya Araujo; BRITO, Murillo Marschner Alves de. Mercantilização no feminino: a visibilidade do trabalho das mulheres no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 31, n. 90, p. 17-39, fev. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/jRGLVMzX5myp7JcHZQvv8mL/. Acesso em: 22 set. 2025.
HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 595-609, set./dez. 2007.
MONTELEONE, Joana de Moraes. Costureiras, mucamas, lavadeiras e vendedoras: O trabalho feminino no século XIX e o cuidado com as roupas (Rio de Janeiro, 1850-1920). Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 1, e54074, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ref/a/6kxbrTgBwDptJJz9t9RCjRB/. Acesso em: 24 set. 2025.
RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. Riqueza e status entre mulheres negras no Brasil. Sociedade e Estado, Brasília, v. 24, n. 3, p. 815-835, set./dez. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/se/a/WLyKHQkz3KcVbS8BpPvWmnR/. Acesso em: 25 set. 2025.
SANTOS, Sales Augusto dos. Gênero e raça na desigualdade social brasileira recente. Estudos Avançados, São Paulo, v. 19, n. 53, p. 31-35, jan./abr. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/RGrfjV8wFpzRxkw4kmf9Dvz/. Acesso em: 21 set. 2025.
SILVA, Fernando Teixeira da; NEGRO, Antonio Luigi. A regulação do trabalho feminino em um sistema político masculino, Brasil: 1932-1943. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 29, n. 59, p. 667-686, set./dez. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eh/a/nC7nYwNgQRRSJ9c65byvvRx/. Acesso em: 11 set. 2025.
SILVA, Lorena Holzmann da; LIMA, Jacob Carlos. Adeus à divisão sexual do trabalho?: desigualdade de gênero na cadeia produtiva da confecção. Sociedade e Estado, Brasília, v. 32, n. 3, p. 709-732, set./dez. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/se/a/93kRWJRdWyT85LKRxtLZj3n/. Acesso em: 14 set. 2025.
SILVEIRA, Lorena Holzmann da; LEÃO, Luciana de Souza. Segregação ocupacional e diferenciais de renda por gênero e raça no Brasil: uma análise de grupos etários. Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, v. 38, e0146, p. 1-26, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepop/a/9ZbQKBWxQ3BwHbg6KNYCb3y/. Acesso em: 22 set. 2025.
SOARES, Sergei Suarez Dillon. Tendências da desigualdade salarial para coortes de mulheres brancas e negras no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 13, n. 1, p. 21-45, jan./jun. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ee/a/zvnJGCdwyHSkTMSGTB9M5Fw/. Acesso em: 21 set. 2025.
SOUZA, Elaine Martins de; GUEDES, Dyeggo Rocha. Discriminação de gênero em grandes empresas no Brasil. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 141-165, jan./abr. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ref/a/b63KGwqRVrTvtvhC6FkXLZf/. Acesso em: 21 set. 2025.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.