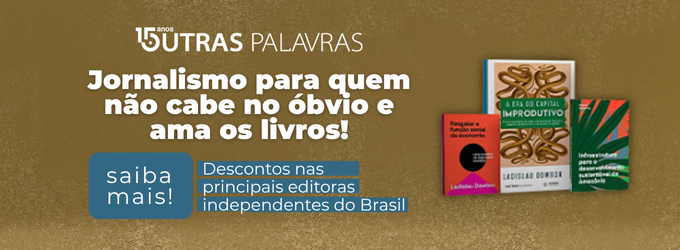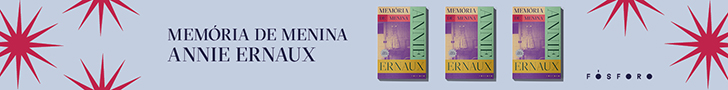Pós-capitalismo: outra família é possível?
Novo livro provoca: esquerda precisa superar o realismo doméstico que a impede de imaginar alternativas à família atomizada e consumista. Chave pode estar no conceito de “luxo público” e em infraestruturas coletivas voltadas ao Cuidado
Publicado 07/11/2025 às 20:16 - Atualizado 23/12/2025 às 18:04

Por Jazmín Bazán, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
Ao final do dia de trabalho, nem sempre começa o descanso: começa outro tipo de trabalho. Cozinhar, limpar, organizar, cuidar dos filhos ou familiares, resolver tarefas domésticas. Uma rotina que raramente aparece nas estatísticas, quase nunca é remunerada e, no entanto, sustenta a vida. Esse território invisível – o tempo destinado à reprodução do cotidiano – é o que Helen Hester e Nick Srnicek examinam em Depois do Trabalho. Uma História do Lar e a Luta pelo Tempo Livre (Caja Negra, 2024).
O livro insere-se numa série de ensaios que, nos últimos anos, buscam pensar horizontes além do capitalismo. Mas sua contribuição é singular, na medida em que situa o trabalho reprodutivo e as desigualdades de gênero no próprio núcleo dessa discussão. Em vez de se limitar a acrescentar um capítulo feminista à crítica do capital, o trabalho de Hester e Srnicek desloca o centro de gravidade para a vida doméstica, entendida como espaço de exploração e, ao mesmo tempo, como campo possível de emancipação humana.
Na sua abordagem, sem dúvida inovadora, Hester e Srnicek adotam a perspectiva do pós-trabalho, definida como uma corrente que imagina “visões de mundo alternativas que apontam para a abolição desta forma social”. A partir daí, colocam em primeiro plano o trabalho reprodutivo não remunerado e as assimetrias estruturais de gênero, um ângulo frequentemente relegado noutros debates do mesmo campo. Neste gesto residem tanto a premissa como a maior contribuição do livro.
O percurso do livro organiza-se em seis capítulos, cada um intitulado segundo os eixos que os estruturam. Após a introdução teórica, abre-se o capítulo “Tecnologias”, no qual ambos os autores exploram por que a promessa de alívio técnico no trabalho reprodutivo nunca se cumpriu. “Padrões”, o segundo capítulo, indaga sobre os mandatos que definem o doméstico e a moral implícita que os sustenta. Entretanto, a terceira parte, intitulada “Famílias”, analisa a função desta instituição como uma engrenagem adaptativa da ordem econômica. Depois, no capítulo “Espaços”, Hester e Srnicek perguntam-se como ampliar os postulados do pós-trabalho para o âmbito reprodutivo. Finalmente, “Depois do Trabalho” esboça medidas e orientações para avançar rumo a um modelo alternativo de cuidado e uso do tempo.
Trabalho assalariado e soberania temporal
O ensaio parte de uma premissa clara: o trabalho assalariado está desprovido de liberdade. Quem ingressa no mercado de trabalho o faz por necessidade, sem outras alternativas reais, e fica submetido tanto à dominação pessoal de gerentes e supervisores como à coação “impessoal” das lógicas do sistema. O projeto de Hester e Srnicek não se limita a melhorar as condições do emprego que descreve: o seu propósito é superá-las.
Os autores intervêm num debate histórico que atravessou feministas da “segunda onda”, teóricas da reprodução social e pensadoras socialistas. Nesse contexto, sustentam que as tarefas reprodutivas e de cuidado são uma forma de trabalho – “trabalhar é cuidar, cuidar é trabalhar” – e, como tal, devem ser reduzidas e redistribuídas socialmente. Só assim se poderá recuperar a “soberania temporal”, entendida como a capacidade coletiva de decidir o que fazer com o tempo liberado do trabalho necessário. Este horizonte pressupõe uma reorganização social na qual a acumulação deixa de ser o princípio orientador.
Neste ponto, a referência a Karl Marx é constante, ainda que sem adesão às suas teses mais radicais. Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, Marx alertava que uma comunidade só pode cultivar-se espiritualmente se romper com a escravidão das necessidades imediatas. Também sublinhava que, graças ao desenvolvimento das forças produtivas, o que antes requeria o esforço de centenas podia realizar-se em questão de horas. Para Hester e Srnicek, o tempo livre não equivale ao ócio passivo: constitui a condição mesma do desenvolvimento humano.
Num paradigma de análise deste tipo, não é casual que conceitos como o de “alienação” apareçam reatualizados num marco contemporâneo: as transformações do trabalho, as crises econômicas recorrentes e as mudanças tecnológicas que, longe de libertar tempo, frequentemente reforçam a exploração. O livro, então, propõe-se reativar essa tradição crítica em diálogo com as condições sociais e econômicas atuais.
Justamente nesse contexto, a crise financeira global de 2008 ocupa um lugar-chave. Os autores assumem que essa crise deixou para trás austeridade, desigualdade e sofrimento, mas afirmam que também abriu novos espaços de esperança e de imaginação política: desde buscas ecosocialistas até plataformas cooperativas e renovadas discussões sobre planejamento econômica. O acerto principal deste diagnóstico consiste em recolocar o trabalho doméstico no centro da análise.
Hester e Srnicek reconhecem o valor afetivo do lar como refúgio frente aos imperativos externos, mas insistem que essa dimensão não deve ocultar a necessidade de reduzir, redistribuir e desprivatizar as tarefas de cuidado. A exploração invisível da casa, lembram, tem sido denunciada por uma longa tradição feminista. Poderiam subscrever a conhecida frase da acadêmica e ativista feminista ítalo-americana Silvia Federici: “Isso a que chamam amor, nós chamamos trabalho não pago”. No entanto, afastam-se tanto da proposta de salário para o trabalho doméstico como das leituras mais recentes da autora, que tendem a reforçar a centralidade do lar como espaço político.
Embora reconheçam a importância pioneira de Federici, assinalam – seguindo Zoë Sutherland e Marina Vishmidt – que nos seus últimos textos a defesa do trabalho reprodutivo nem sempre se articula com uma crítica aberta às divisões de gênero, e que até mesmo essas práticas chegam a ser ressignificadas como formas de “resistência ao capital” em contextos comunitários.
Família, cuidado comunal e padrões culturais
O olhar sobre a família constitui um dos núcleos mais incisivos do livro. Na sua forma dominante – nuclear, heterossexual, privatizada –, não só reproduz desigualdades, como também se revela ineficiente como dispositivo de organização social. O problema, assinalam Hester e Srnicek, não é apenas como as tarefas são repartidas dentro do lar, mas o próprio desenho da família como unidade de reprodução. Funciona como um “amortecedor” que absorve responsabilidades deslocadas pelo capital e, ao estar organizada em torno do parentesco biológico, deixa de fora amplos setores da população.
Hester e Srnicek admitem que a palavra de ordem “abolição da família” possui uma “carga emocional explosiva”, mas delineiam uma alternativa fundada no princípio do “cuidado comunal”. Tratar-se-ia de criar redes de vínculos compartilhados que transbordem o isolamento doméstico e possibilitem outras formas de convivência. A pergunta central que colocam é direta: como organizar o cuidado de um modo diferente do modelo privatizado? A sua resposta aponta para um “ecossistema de instituições” que descentralize, socialize e democratize as tarefas reprodutivas.
A análise desloca-se também para as disposições culturais que regulam a vida doméstica. Padrões de limpeza, ordem e criação operam como pilares morais e mecanismos de distinção. As exigências de uma casa impecável, as refeições elaboradas como sinal de status ou a pressão para “investir” nos filhos não são meros hábitos: conformam, segundo os autores, um ideal de vida aspiracional sustentado pelo marketing e pelos meios de comunicação. Esta trama simbólica, advertem, legitima a autoexploração e naturaliza a sobrecarga.
Nesse contexto, a atual criação intensiva aparece como um fenômeno relativamente recente. “Com o decorrer do século XX – escrevem –, as tarefas de maternidade começaram a aproximar-se mais das que conhecemos hoje em dia”. Historicamente, a infância como etapa dedicada à educação e ao desenvolvimento pessoal, em vez do trabalho, só se consolidou depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive o termo parenting (“criação dos filhos”) só se tornou de uso comum na década de 1970.
Esta organização doméstica, baseada na individualização do cuidado, teve um impacto direto no desenvolvimento das tecnologias domésticas. Como explicam Hester e Srnicek, em vez de transformar de maneira integral a distribuição do trabalho, a inovação limitou-se a mecanizar tarefas pontuais. A lavagem de roupa, por exemplo, transferiu-se em maior medida para dispositivos específicos sem alterar a lógica geral das tarefas nem o seu sentido social.
Gênero, tecnologias domésticas e “paradoxo de Cowan”
A dimensão de gênero aparece com nitidez neste percurso. Muitas invenções primitivas – como o fogão, o tecido manufaturado ou a farinha industrializada – reduziram certas tarefas masculinas (cortar lenha, curtir couro, moer grão), mas ao mesmo tempo expandiram as femininas: preparar uma maior variedade de comidas, lavar peças mais delicadas ou responder às novas exigências da farinha branca. Deste modo, a inovação técnica aliviou o esforço dos homens enquanto multiplicava as obrigações das mulheres.
Esta transição insere-se num processo mais amplo, que Hester e Srnicek resumem com precisão: a passagem da casa como espaço de produção para a casa como espaço de consumo. Nessa transformação, a técnica não funcionou como um agente libertador, mas sim como uma engrenagem que reconfigurou o trabalho sem questionar a sua repartição nem o seu sentido social.
Aqui é fundamental a recuperação da tradição do feminismo materialista. Seguindo a feminista italiana Mariarosa Dalla Costa, Hester e Srnicek enfatizam que “a jornada de trabalho da dona de casa é interminável não por não dispor de máquinas, mas porque está isolada”. O diagnóstico desmonta a ideia de que a emancipação dependa unicamente do aperfeiçoamento técnico: o obstáculo é, antes de tudo, político e econômico. Enquanto o cuidado permanecer privatizado em lares fragmentados, nenhuma inovação conseguirá racionalizar o trabalho nem aliviar a sobrecarga das mulheres.
O chamado “paradoxo de Cowan” torna-se um ponto de apoio fundamental. Ao longo do século XX, apesar da proliferação de eletrodomésticos, o tempo dedicado ao lar não se reduziu de maneira significativa. Segundo a historiadora do trabalho Ruth Schwartz Cowan, a introdução de novas máquinas não simplificou as dinâmicas gerais, mas manteve – e até incrementou – as exigências sociais vinculadas ao cuidado: em vez de libertar tempo, redefiniu os padrões de limpeza, ordem e atenção que se esperavam das famílias.
Atualmente, assinalam os autores de Depois do Trabalho, a situação não é diferente. De fato, sustentam que “numerosos fornecedores de lares inteligentes conceberam futuros especulativos repletos de tecnologias de última geração”, mas sempre “no marco de um mundo de habitações familiares individuais e de uma divisão do trabalho em função do gênero”. Inclusive ferramentas que prometiam alívio, como a bomba extratora de leite, acabaram por reforçar a pressão para compatibilizar emprego e maternidade intensiva. Em última instância, o problema não são os dispositivos em si mesmos, mas o imaginário social que guia a sua criação, implementação e uso.
Alternativas ao tecno-otimismo, luxo público e comunas
Afastando-se do tecno-otimismo, os autores introduzem outra pergunta crucial: o que acontece quando – como em muitos trabalhos reprodutivos – não é possível ou mesmo não é desejável automatizar as tarefas? A falta de respostas claras levou a assumir que as únicas alternativas são valorizar esses trabalhos, exaltá-los simbolicamente ou, no melhor dos casos, reparti-los com maior justiça. Para Hester e Srnicek, essas saídas resultam insuficientes.
Perante este impasse, propõem explorar caminos baseados na cooperação cotidiana, na ajuda mútua e em novas formas de provisão coletiva. Esta perspectiva liga-se a uma das suas contribuições mais sugestivas: o conceito de luxo público. Em contraposição ao luxo privado – associado ao consumo exclusivo –, o luxo público designa uma infraestrutura compartilhada, gratuita e de alta qualidade que alivie a carga doméstica e eleve a qualidade de vida. Não se trata de acumular objetos em cada lar, mas de gerar serviços coletivos que devolvam tempo e energia a quem hoje vive exausto.
Embora o termo seja novo, a ideia tem antecedentes históricos. A socialização do cuidado foi uma das bandeiras do feminismo socialista. Neste ponto, Hester e Srnicek recuperam a experiência das comunas soviéticas como um “momento notável de experimentação” frente ao modelo de habitação unifamiliar. A primeira comuna de Moscou incluía cozinhas coletivas, lavandarias compartilhadas e serviços públicos pensados para racionalizar o trabalho doméstico. Estas iniciativas acompanharam outras medidas do jovem Estado operário, como a legalização do aborto e do divórcio, a criação de jardins de infância e a ampliação das licenças de maternidade.
No entanto, muitas comunas foram frustradas pela falta de recursos e pela limitada aceitação social. O livro recorda o seu carácter experimental, mas não chega a situar o seu declínio no marco da consolidação do stalinismo. A restauração de um modelo familiar conservador, juntamente com a restrição do aborto e do divórcio, formou parte de uma ofensiva reacionária mais ampla que desativou essa primeira tentativa de socialização do cuidado.
Para além destas omissões, Hester e Srnicek advertem que a expansão do subúrbio estadunidense após a Segunda Guerra Mundial significou a consolidação de um modelo oposto. A habitação unifamiliar tornou-se símbolo de sucesso e de “refúgio contra o comunismo”, no marco de uma estratégia ideológica deliberada. A casa aparecia como espaço de proteção, mas operava como tecnologia política: privatizava o cuidado, fragmentava os laços sociais, desencorajava a ação coletiva e produzia um “desperdício colossal de tempo, esforço e trabalho humano”.
Soluções individualizadas, mulheres no mercado de trabalho e realismo doméstico
Em continuidade com a sua crítica às soluções individualizadas, Hester e Srnicek rejeitam a ideia de que a desigual repartição de tarefas possa resolver-se apenas ampliando a participação das mulheres no mercado de trabalho. Embora reconheçam efeitos positivos – como maior autonomia material ou certa redução do trabalho doméstico –, advertem que esta estratégia equivale a “trocar uma forma de sujeição por outra”.
Aqui, no entanto, a análise apresenta um vazio. Figuras como Friedrich Engels, Aleksandra Kollontai e feministas da segunda onda, citadas pelos autores, não se limitaram a defender a incorporação das mulheres ao emprego assalariado. O seu horizonte implicava uma transformação profunda das relações sociais, onde a participação política, sindical e militante permitia questionar também a esfera reprodutiva. Esse aspeto não aparece totalmente desenvolvido no livro.
Hester e Srnicek assinalam, não obstante, que a casa e o terreno funcionam como tecnologias produtoras de subjetividade. Não são apenas ativos econômicos: induzem conformidade política através de distrações individualizadas. Longe de responder às urgências das pessoas, estas configurações habitacionais obedecem aos imperativos do capital de plataformas. Eletrodomésticos “inteligentes”, ambientes controlados por dados e objetos conectados apresentam-se como alívios ao trabalho, mas na realidade operam como dispositivos inteiramente capitalistas, desenhados para extrair lucros, informação e controle.
Inspirados em Mark Fisher, os autores identificam aí uma lógica de “realismo doméstico”: um limite que, no espaço privado, impede imaginar modos alternativos de vida. Retomando Fredric Jameson, sugerem que hoje parece mais fácil pensar o fim do mundo que o fim do lar tal como o conhecemos. A casa converte-se, então, na âncora de um presente sem horizonte, onde as rotinas de cuidado privatizado sustentam a reprodução social do capital.
No entanto, um dos pontos mais frágeis do livro reside na escassa definição dos seus caminhos estratégicos. Embora os autores sustentem a necessidade de transcender a relação capital/trabalho, não precisam como se poderia alcançar essa transformação. Srnicek, coautor de Inventar o Futuro e do Manifesto por uma Política Aceleracionista, tinha proposto antes medidas concretas como a redução da jornada laboral, o rendimento básico universal e a desvinculação entre salário e emprego. Em Depois do Trabalho, em contrapartida, o termo aceleracionismo desaparece e a orientação política torna-se mais ambígua: os benefícios que se projetam parecem os de uma revolução, mas sem uma rutura radical com as estruturas existentes.
Pós-capitalismo e transição
Os autores esclarecem que preferem falar de pós-capitalismo em vez de comunismo, devido à “bagagem histórica e política” que este último termo arrasta. A escolha não é apenas terminológica: para Marx, Engels e diversas articulações socialistas posteriores fundadas em leituras das suas obras, qualquer reorganização profunda das condições de vida requeria práxis revolucionária e organização política. Em Hester e Srnicek, em contrapartida, a aposta passa por uma reconfiguração institucional de grande magnitude, sem uma reflexão clara sobre o papel do Estado nem sobre os sujeitos sociais capazes de protagonizar a mudança.
Defendem que a sociedade pós-laboral não deve entender-se como um ponto de chegada utópico, mas sim como um “processo prometeico interminável para ampliar o âmbito da liberdade”. As reformas que propõem seriam apenas passos intermédios, orientados a preparar o terreno para uma socialização mais ampla do trabalho doméstico. Nessa linha, sintetizam: “Enquanto continuarmos a viver sob o capitalismo, o objetivo será desmercantilizar a habitação, de modo que o acesso a uma casa segura, confiável e de boa qualidade não dependa do salário”. Esta posição poderia constituir um eco das argumentações da chamada esquerda “autonomista”, que ganhou relevância durante a década de 1990.
A pergunta, no entanto, permanece aberta: trata-se de desenvolver uma política de acumulação progressiva de mudanças graduais dentro do sistema? A sua proposta de luxo público é sugestiva, mas encarna essa mesma tensão. Apresenta-se como infraestrutura transformadora, ainda que a sua implementação se imagine dentro de lógicas que não confrontam diretamente as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade. Inclusive os exemplos históricos que reivindicam – desde a Rússia revolucionária até o Estado de bem-estar do pós-guerra ou os experimentos comunitários e separatistas – reforçam essa ambiguidade entre rutura e reforma.
No plano técnico, algumas afirmações ficam pouco desenvolvidas. “Uma conclusão chave é que não temos as tecnologias que merecemos”, escrevem os autores. Se a técnica não é neutra e está atravessada por relações sociais, que incentivo teria o capital para promover inovações que reduzam o tempo de trabalho, se esse tempo constitui a sua principal fonte de lucro? A contradição fica planteada, embora não totalmente resolvida.
Ainda com estas limitações, o livro conserva uma vocação transformadora. Oferece uma leitura do lar como braço da exploração capitalista e da opressão de gênero, historiza práticas cotidianas que costumam ser naturalizadas – a limpeza, a criação, a maternidade intensiva, a distribuição do cansaço – e formula perguntas de enorme atualidade. “O futuro do trabalho não é a programação, mas o cuidado”, sustentam os autores, condensando uma viragem cultural e política. Reivindicam, além disso, que o lar, habitualmente despolitizado, deve ser ressignificado como um lugar neuralgico de liberdade e disputa.
A interseção entre classe, gênero e raça também aparece com força. Nos países de altos rendimentos, lembram, a alternativa para resolver as tarefas domésticas oscila entre “uma máquina custosa ou uma empregada barata”. A afirmação expõe com crudeza as desigualdades existentes. E embora a análise se concentre no Reino Unido e nos Estados Unidos, os próprios autores admitem que está pendente uma história mundial e comparada da reprodução social. Um marco assim permitiria examinar as tensões específicas do Sul global: acesso desigual à tecnologia, sistemas de cuidado frágeis e uma dependência ainda mais marcada da venda da força de trabalho, sem redes públicas ou privadas que amortizem a precariedade.
A maior virtude do livro é que ele não encerra o debate, mas o abre com perguntas urgentes: é possível uma soberania temporal sem uma transformação política de fundo? Que lugar conserva a classe como categoria estratégica em um cenário marcado pelas interseções do século XXI? Pode o tempo emancipar-se sem desmontar os alicerces da família? Quem tomará o céu de assalto, quando boa parte da sociedade segue confinada entre paredes domésticas?
“Quando o relógio se leva ao pescoço, repousa próximo às batidas menos regulares do coração”. Com essa imagem, Edward P. Thompson descrevia a violência do tempo capitalista sobre quem “não tem nada a perder, a não ser as suas correntes”. Também – como sugere este livro – as correntes que atam ao tempo.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras