“Direito dos homens”, a nova face da misoginia
Despontam grupos antifeministas escondidos sob a fachada do vitimismo. A estratégia: usar dados reais sobre o sofrimento masculino para manipular discursos. Um possível antídoto: criar espaços de diálogo para além de polarizações forjadas
Publicado 19/09/2025 às 18:49 - Atualizado 23/12/2025 às 17:38

Por Nuria Alabao, no CTXT | Tradução: Lucas Scatolini
Este é um terceiro texto de série que se propõe a percorrer as principais vertentes da masculinidade tóxica contemporânea. Em artigos anteriores, autora analisa a esfera vinculada às relações afetivas e sexuais, falando sobre Misoginia online dos jovens-machos ressentidos, e sobre Músculos e criptos: as novas usinas da misoginia.
As categorias se amalgamam na manosfera – aquele lugar da internet onde o antifeminismo se expressa e se compõe politicamente –, muitas vezes borrando os contornos das distintas subculturas. O Movimento pelos Direitos dos Homens – “Men’s Rights Activism” –, de origem anglo-saxã, surge como reação às propostas do feminismo dos anos sessenta e setenta do século XX, justamente quando se gestou boa parte dos argumentos sobre gênero que hoje estão em operação nas direitas radicais.
Uma das principais linhas políticas dos movimentos masculinistas sugere que o feminismo foi “longe demais” ou que prejudica os homens. Eles costumam citar estatísticas como: os homens representam aproximadamente entre 70 e 75% dos suicídios; têm taxas menores de graduação universitária em muitos países desenvolvidos – na Espanha, 60,1% dos alunos que concluem os estudos são mulheres; recebem menos a custódia dos filhos em casos de divórcio – em 2023, neste país, a custódia exclusiva foi concedida à mãe em quase 48% dos casos, ao pai em 3,5% e foi compartilhada em 48,4%. Dizem também que os homens constituem a maioria das mortes por acidentes de trabalho e são mais vítimas de homicídios; enfrentam taxas maiores de vício e problemas de saúde mental não tratados; e têm uma expectativa de vida vários anos menor que a das mulheres – 81 anos para homens e 86 para mulheres na Espanha. Também afirmam que existe um viés no sistema jurídico-penal, onde os homens recebem sentenças mais longas por crimes similares; que a violência doméstica contra homens é subnotificada e estigmatizada; e que os meninos, especialmente em famílias monoparentais, carecem de figuras masculinas de referência, o que, segundo esses movimentos, contribui para problemas de rendimento acadêmico e desenvolvimento. Muitos professores já devem ter ouvido argumentos desse tipo em suas aulas quando se abrem esses debates, repetidos pelos jovens mais expostos à manosfera.
A eficácia dessa estratégia reside no fato de que os dados são, em grande medida, verdadeiros, mas sua interpretação omite sistematicamente as causas estruturais que os explicam. É precisamente essa mistura de veracidade estatística e análise tendenciosa que transforma esses argumentos em ferramentas persuasivas, especialmente entre jovens do sexo masculino que os reproduzem de forma acrítica em salas de aula e debates, como bem sabem muitos professores expostos a esses discursos da manosfera. A paradoxo desses argumentos reside no fato de que muitas das problemáticas que eles denunciam têm sua origem precisamente na construção da masculinidade tradicional que o feminismo também combate. O suicídio masculino e as mortes por violência interpessoal, por exemplo, estão diretamente relacionados com as expectativas sociais que impõem aos homens assumir condutas de risco, mostrar-se sempre fortes e resolutos como prova de sua virilidade. Essas mesmas expectativas dificultam que eles busquem ajuda psicológica ou expressem vulnerabilidade emocional, fatores-chave na prevenção do suicídio.
Na questão laboral, a própria divisão sexual do trabalho faz com que os homens tenham assumido muitas vezes trabalhos mais penosos e perigosos, onde hoje ocorrem a maioria dos acidentes de trabalho. No entanto, aqui se poderia fazer uma ressalva considerável. Por exemplo, muitas doenças laborais em trabalhos feminizados não são reconhecidas, assim como também não é reconhecida a possibilidade de se aposentar antecipadamente para aqueles trabalhos que exigem muito esforço físico para serem desempenhados – as cuidadoras em residências de idosos são um bom exemplo. Mas não se trata aqui de fazer comparações entre os sexos, porque o ideal seria que ninguém tenha que trabalhar em empregos pesados, em jornadas penosas, sem descansos suficientes e remunerações adequadas, nem homens nem mulheres. Por isso, primeiro, seria preciso desmontar juntos os papéis de gênero, que têm prescrições diferentes e formas distintas de oprimir tanto homens quanto mulheres, assim como a divisão sexual do trabalho que se baseia neles. Dessa maneira, quando surgem esse tipo de argumento, a melhor forma de começar a questioná-los é reconhecer esse horizonte compartilhado: não se trata de quem está pior, mas de lutar juntos por um objetivo comum.
Na Espanha, influencers como Roma Gallardo ou Un Tío Blanco Hetero (Um Cara Branco Hetero) empregam estratégias retóricas que incluem a apropriação da linguagem dos direitos humanos e da igualdade para legitimar suas posições, sob a premissa de que os homens “estão pior que as mulheres”, como se fosse uma olimpíada da opressão. Essas posições vitimistas são, na realidade, um elemento privilegiado da política contemporânea que compartilham com outros movimentos. Todos querem ocupar esse lugar. No entanto, é preciso mirar melhor, porque os homens são vítimas, sim, mas da busca por “uma potência masculina mítica”, diz o filósofo Pankaj Mishra, “seja nos pátios das escolas, nos escritórios, nas prisões ou nos campos de batalha. Esta experiência cotidiana de medo e trauma os une às mulheres de mais formas do que a maioria dos homens, aprisionados pelos mitos da masculinidade intransigente, costuma reconhecer”. Os homens estariam, assim, tão aprisionados quanto as mulheres pelas normas de gênero em uma busca ruinosa pelo poder.
Sexismo brando
Esses influencers difundem principalmente um sexismo – chamado “moderno” ou brando – que sustenta que, como já existe igualdade entre os gêneros – entendida como uma questão puramente formal –, as leis feministas que entendem que a desigualdade é estrutural e precisa ser compensada, na realidade, servem para discriminar os homens. Este discurso é uma das principais linhas argumentativas do partido Vox e está incidindo especialmente entre a população jovem. Eles dizem viver sob uma “ginocracia”, na qual as mulheres controlam tanto a cultura quanto as alavancas do poder. A institucionalização do feminismo dos últimos anos e sua identificação com o governo, as autoridades escolares, a maioria da mídia, etc., sem dúvida, alimenta essas posições. Para eles, ser “antissistema” significa “ser antifeminista”.
Talvez não esteja tão estendido socialmente, mas nas redes também se podem encontrar variantes mais radicais. A esse sexismo brando se soma um tom hostil: a misoginia ou o supremacismo masculino, que faz apologia da superioridade masculina e até mesmo, nos casos mais extremos, da violência contra as mulheres. Nos EUA, a vitória de Trump, condenado por abuso sexual e com uma retórica abertamente machista, sem dúvida, empoderou esses setores. Percebe-se na guinada para o “durão” do dono do Facebook, Mark Zuckerberg, que lamentou a ascensão de empresas “culturalmente castradas” que tentaram se distanciar da “energia masculina”. Com isso, ele fez um apelo a uma cultura que “celebre um pouco mais a agressividade” e, em definitivo, acabe com as políticas empresariais progressistas nos EUA, as chamadas DEI (Diversidade, Equidade, Inclusão).
A meritocracia morreu, e a “cultura woke” não é a culpada
Um dos discursos antifeministas mais fortes entre os jovens dirige-se precisamente contra uma parte dessas políticas estadunidenses, justamente as de ação afirmativa ou cotas. Elas chegaram plenamente à Espanha há pouco tempo – para além da representação política, o Estado as regulamentou em 2024 na Lei de Paridade. Segundo os discursos da manosfera – e além –, elas impedem que homens mais preparados acessem determinados cargos, especialmente no funcionalismo público – a forma pela qual muitos jovens de classe média acessam bons empregos. São recorrentes, por exemplo, os debates sobre cotas na polícia e nos bombeiros – significativamente, ninguém as reclama para os segmentos mais explorados do mercado de trabalho, nem ao contrário: os homens não exigem ser aceitos como professores nas escolas infantis, por exemplo. Apela-se aqui a noções meritocráticas abstratas, de uma meritocracia que, como explicávamos no artigo anterior, está ferida de morte.
Normalmente, trata-se de combater essas ideias antifeministas explicando a necessidade dessas políticas para compensar a desigualdade estrutural, ou mediante discursos mais essencialistas, dizendo que as mulheres aportam “outros valores ou aptidões”. No entanto, nunca falamos que uma parte do feminismo que considera que as políticas de cotas não são o melhor caminho para acabar com a desigualdade estrutural, pelo menos não desde um feminismo de classe ou de transformação. A paridade pode parecer justa, mas que algumas mulheres alcancem postos de comando ou de representação não mudará em um ápice a situação daquelas que permanecem na base, nem tornará melhor a vida da imensa maioria das mulheres. Estas não deixam de ser políticas de integração para os segmentos de classe média ou alta que podem se beneficiar delas. Para os feminismos de classe, dever-se-ia colocar os interesses das mulheres mais exploradas no centro das políticas públicas. Seria pedir demais que explicássemos essas complexidades aos jovens? Talvez assim se abram novos mundos para eles, onde o feminismo não é um monólito, mas um campo atravessado por diferenças ideológicas e distintos interesses de classe.
Algo similar acontece com a questão das penas diferenciadas no crime de violência contra o parceiro ou ex-parceiro, um argumento que costumam utilizar. É certo que essas penas são maiores quando o agressor é um homem e a vítima uma mulher do que na situação inversa. Aqui, costuma-se argumentar que essa diferença responde à necessidade de proteger especificamente as mulheres, dada a evidência de que a maioria das agressões são cometidas por homens. No entanto, dentro do próprio campo feminista existe um debate a esse respeito, porque muitas feministas creem que endurecer as penas não é uma estratégia eficaz para erradicar as violências, e defendem, como alternativa, outro tipo de medidas – recursos habitacionais, inserção laboral, ajudas econômicas – e pela responsabilização coletiva – que acabar com a violência implique todos e todas. Aqui, como em muitos outros temas, não há unidade. Nem todas as feministas creem que o sistema penal é o que vai “proteger” as mulheres. No entanto, essas perspectivas antipunitivas têm uma presença marginal no debate público e midiático.
Um dos argumentos principais entre os jovens parte do temor de serem acusados falsamente por uma mulher de agressões ou violência machista. Essas ideias se alimentam das dinâmicas justiceiras e de cancelamento que os casos mais midiáticos dos últimos anos despertaram, e é precisamente nessa percepção que seus medos se arraigam, habilmente instrumentalizados pelos influencers antifeministas. Talvez nas discussões com eles também se possam reconhecer as contradições que os feminismos têm ao enfrentar essas questões: aprisionados entre a necessidade de acabar com a impunidade e as escassas ferramentas para fazê-lo, algumas das quais, como o cancelamento, produzem, por sua vez, problemas adicionais. Não, não temos todas as soluções.
Mas vamos nos sentar para conversar
Precisamente, talvez a melhor maneira de combater o aumento do antifeminismo entre os jovens – pelo menos em suas versões menos ultraconservadores. Evidentemente, o diálogo não pode tudo – mas ajuda a convencer que este movimento não é monolítico e incentiva a inseri-los nesses debates. Conversar com esses jovens pode implicar reconhecer suas dúvidas, não dar todas as respostas como sabidas – “o feminismo está fazendo tudo certo”, não critiquem, é a resposta mais habitual –, e conseguir envolvê-los na produção de um pensamento coletivo sobre as possíveis soluções para os problemas que eles identificam. No final, a melhor educação feminista é aquela que lhes ensina a pensar de forma autônoma, a discriminar argumentos, mais do que a que tenta fazer com que adiram a um dogma sem fissuras nem possibilidade de contestação. Poderíamos admitir que talvez exista um feminismo no qual eles – pelo menos alguns deles – possam se reconhecer, e outros que talvez não compartilhem. Afinal, não se usa o feminismo para justificar a massacre em Gaza, a exclusão de pessoas trans ou para perseguir migrantes “porque não se integram em nossa cultura” quando se trata de proibir o véu nas escolas ou se acusa menores migrantes de agressores sexuais?
Assumir a pluralidade do feminismo e a complexidade de suas posições é parte ineludível das possíveis soluções, em um mundo que as extremas-direitas pretendem fechar sobre si mesmo. Temos que criar espaços para pensar para além das polarizações sociais artificiais que querem reduzir tudo a dois extremos – as duas partes do mainstream – e arrasar com todo o resto. As possibilidades de emancipação e liberação são mais prováveis de serem encontradas fora das polaridades, em outro lugar que consigamos abrir juntos.
De fato, haveria que propor a esses jovens um espaço dentro do nosso movimento. Frente ao projeto reacionário que lhes oferece um lugar a partir de uma subjetividade agravada, o feminismo tem que propor-lhes um horizonte que vá para além da culpabilização, onde possam formar parte ativa de uma política emancipadora que os inclua como sujeitos de transformação. Nas palavras de Mishra: “Os homens desperdiçariam esta última crise de masculinidade se negassem ou minimizassem a experiência de vulnerabilidade que compartilham com as mulheres em um planeta que também está em perigo. O poder masculino (…) é um ideal inalcançável, uma alucinação de comando e controle, e uma ilusão de domínio, em um mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar (…) A masculinidade se converteu em uma fonte de grande sofrimento, tanto para homens quanto para mulheres. Entender isso não é apenas compreender sua crise global hoje. É também vislumbrar uma possibilidade de solução para esta crise”.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

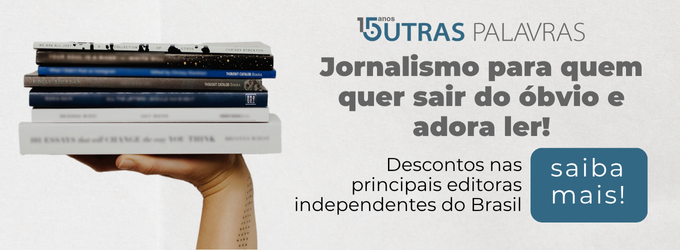
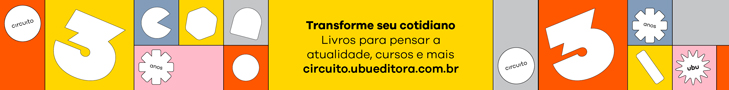
Handerzon, sugiro que leia novamente o texto, porque é justamente essa ideia de quem sofre mais que gera tanta confusão e falta de diálogo. O feminismo não diz que as mulheres sofrem mais que os homens, mas que uma sociedade machista e patriarcal tende a voltar a violência e a opressão para elas, embora os homens também sejam vítimas.
Feminismo diz que as mulheres têm condições piores.
E os homens não podem dizer que estão em condições piores?