Democracia: em defesa da escolha por sorteio
Capturado pelo poder econômico e fetiche do voto, sistema representativo produz contenção social. Busca de alternativas deve incluir, para certos processos, a seleção aleatória – em que os mandatos exigem diálogo com a sociedade, e atividade política deixa de ser profissão
Publicado 31/07/2025 às 19:27

Nota inicial
As ideias reunidas neste texto nascem tanto de leituras e debates quanto de experiências concretas. Entre as pessoas que participaram neste texto, várias exerceram mandatos institucionais em câmaras municipais e parlamentos regionais na Espanha. Essa vivência direta das dinâmicas partidárias e institucionais — com suas virtudes e suas frustrações — foi decisiva para fundamentar as reflexões que aqui propomos. Muito além da denúncia teórica da crise democrática, este texto expressa uma inquietação partilhada por quem já esteve por dentro do sistema representativo e conheceu seus limites por dentro: a profunda necessidade de reinventar a política desde baixo, com coragem, imaginação e radicalidade democrática.
O dia em que a praça deixou de governar
Muito antes dos parlamentos modernos, muito antes dos partidos, dos publicitários e dos ciclos eleitorais, existia uma praça. Na Atenas clássica — com todas as suas exclusões e limitações — muitos cidadãos eram escolhidos por sorteio para governar. Aquela democracia compreendia algo fundamental que hoje esquecemos: governar não é uma profissão, e sim um dever temporário de cuidado com o comum.
Durante séculos, a ideia de que a cidadania pudesse participar diretamente do governo causava resistência. Parecia instável, ingovernável, perigosa. A democracia por voto foi rapidamente absorvida pelos sistemas de poder quando estes perceberam seu potencial não para transformar, mas para neutralizar. Escolher pessoas, e não projetos, permitia canalizar o descontentamento sem tocar nas raízes do privilégio. Bastava controlar os critérios do voto. Construir as opções. Deixar sempre de fora quem não tem alto-falantes.
Foi no contexto das revoluções liberais — em plena consolidação do capitalismo — que o sufrágio se tornou uma ferramenta funcional: escolher, sim, mas dentro dos limites. Escolher sem tocar na propriedade. Sem tocar no mando. Sem tocar no sistema. E assim nasceu nossa democracia representativa: não como uma conquista total, mas como uma forma sofisticada de contenção. Os poderes de fato compreenderam rapidamente que permitir eleições não significava ceder poder real. Se quem vota não pode decidir sobre o que importa, por que não deixá-los votar? Bastava organizar o ritual: partidos, debates, promessas. E, a cada quatro anos, um gesto vazio. Uma simulação de soberania. Um domingo sem conflito.
O partido e o voto como máquina de simulação
A democracia deveria ser a representação da diversidade da vida, e não a reprodução do privilégio. Se o sistema que hoje defendemos se chama representativo, é hora de perguntar: o que o voto realmente representa?
Quase nada.
Vivemos na grande farsa de acreditar que escolhemos quem nos governa. Mas quantas pessoas realmente conhecem os nomes, trajetórias ou interesses dos deputados eleitos com seus votos? Quantos votam conhecendo as redes de favores, acordos opacos ou pactos partidários que colocaram esses nomes em listas fechadas? O sistema nos vende a ilusão da participação, enquanto concentra as decisões em estruturas blindadas que operam à margem da cidadania. O voto, mais do que uma ferramenta de poder, tornou-se um gesto simbólico que legitima uma arquitetura política desenhada para perpetuar hierarquias.
O voto — especialmente com listas fechadas, partidos hierárquicos e campanhas milionárias — não representa as mulheres, não representa as pessoas migrantes, não representa pessoas negras, indígenas ou pobres. Não representa quem está fora das universidades, dos cargos técnicos, das tribunas políticas. Ao contrário: exclui sistematicamente esses grupos ao impor barreiras estruturais de acesso. O sistema eleitoral transforma desigualdade social em desigualdade política. Nesta estrutura, escolher é excluir. E aqui está o problema: desde o privilégio não se sente a urgência. Desde um gabinete com ar-condicionado não se percebe o frio do despejo. Desde um carro oficial não se entende a espera na fila do posto de saúde. O que não se vive, não se legisla. Por isso é imprescindível que as classes populares se representem a si mesmas, sem mediações interessadas. O que é verdadeiramente radical — e profundamente democrático — não é que decidam os especialistas ou os ilustrados, mas que decidam aqueles que vivem as consequências.
O que temos hoje não é representação: é uma ficção gerida por elites que se reproduzem a si mesmas. São espasmos de um capitalismo parlamentar mórbido, incapaz de representar qualquer coisa além de suas próprias rotinas. Não deveríamos temer que o sorteio leve a formas radicais de representação. Ao contrário: é exatamente disso que precisamos. Uma representação sem filtros, sem maquiagem, onde os interesses materiais, culturais e simbólicos de classe se expressem com crueza, sem simulação nem espetáculo.
Acreditar que vivemos sob um “governo dos melhores” é, além de tudo, uma das falácias mais convenientes do presente: pensar que o poder atual se baseia no mérito, na preparação ou no conhecimento. Uma mentira bem embalada, útil para bloquear qualquer imaginação política. “Se não elegermos, seremos governados pelos ignorantes”, nos dizem. Mas a verdade é que já somos governados pela ignorância planejada, pela incompetência blindada pelo privilégio, por uma distância social que impede qualquer empatia. O urgente não é negar o saber, mas redistribuí-lo. Abramos, sim, um debate sério sobre os critérios técnicos, o papel da expertise e seu lugar nas políticas públicas. O sorteio não escolhe os melhores. Escolhe todos. E isso, justamente isso, muda tudo.
O sufrágio que não existe
A própria ideia de partido já parte: divide, fragmenta, opera por interesses fechados que se apresentam como universais. O parlamento, tal como o conhecemos, não foi desenhado para dialogar, mas para confrontar segundo regras viciadas, onde a lealdade partidária pesa mais do que a deliberação real. Votar se tornou escolher entre menus fechados que se assemelham mais a campanhas de marketing do que a processos de transformação coletiva. Mas não se trata de abrir mão da escolha, e sim de escolher com sentido: não rostos desenhados para seduzir, mas projetos políticos que emergem do fundo real da sociedade. O que é verdadeiramente radical não é o repúdio ao voto, e sim a urgência de reinventá-lo. Falamos em sufrágio, mas o sufrágio não existe. Não, ao menos, em seu sentido mais pleno. O sufrágio deveria ser o direito universal, igualitário e livre não apenas de votar, mas de decidir. Mas o que temos hoje é outra coisa: um ritual restrito, mediado por estruturas partidárias, campanhas milionárias e listas fechadas desenhadas de cima para baixo.
Tecnicamente, distingue-se entre sufrágio ativo (o direito de votar) e sufrágio passivo (o direito de ser votado). Mas quantas pessoas têm, de fato, as condições materiais, o tempo, as redes, a visibilidade ou a estabilidade necessárias para exercer esse suposto direito de ser eleitas? Quem pode bancar uma campanha, enfrentar a máquina partidária, suportar a exposição midiática? Na prática, o sufrágio passivo está sequestrado. E o ativo, manipulado. Votamos, sim, mas sem margem. Sem pluralismo real. Sem disputa onde propostas de mudança estejam realmente em jogo.
Democracia é sorteio
Os inícios da democracia em Atenas parece ter uma proposta para esse impasse: o sorteio. Frente ao voto da democracia representativa, o sorteio – ou a democracia aleatória – garante um sufrágio radical. Não o das pessoas, mas o das ideias. Não se trata de eleger representantes individuais, mas de formar conselhos cidadãos, assembleias, comissões, onde ideologias, visões de mundo e projetos políticos possam ser discutidos e deliberados posteriormente por pessoas sorteadas. Pessoas que não pautam sua atuação política pela ambição, mas pelo compromisso cívico. Pessoas que representam suas condições concretas, e não uma marca eleitoral.
O sorteio político permite a representatividade que a metodologia de qualquer estudo sociológico sério pode comprovar: por meio de amostragem aleatória, a diversidade real da população se reflete no espaço decisório. Um pedreiro decide junto com uma advogada, uma jovem desempregada com uma aposentada do campo, um imigrante com uma mãe solteira. Cada um representa sua experiência concreta, sua materialidade, sua realidade cotidiana. Sem carreiras, sem interesses pessoais, sem marketing. Imaginemos por um instante que, em vez de votar em nomes que mal conhecemos, sorteássemos cidadãos de forma proporcional ao perfil da população local. Uma assembleia municipal onde o padeiro representa seu bairro com dignidade, onde trabalhadores da escala 7×1 levam a voz da periferia. Não há capital político a acumular, nem carreiras a construir. Há, sim, tempo limitado, escuta atenta e deliberação pública.
Essa é a proposta de John Burnheim, filósofo australiano que entrevistamos recentemente e que cunhou o termo “demarquia”: um sistema político baseado no sorteio de grupos de cidadãos comuns, responsáveis por decisões públicas em áreas específicas. Em sua visão, inspirada na complexidade dos ecossistemas, a sociedade já não pode ser governada como um corpo centralizado — deve ser composta por redes descentralizadas de deliberação cidadã, flexíveis, diversas, adaptáveis. Burnheim sustenta que a atual crise da democracia representativa é global: o modelo parlamentar liberal, corroído pela desconfiança, é incapaz de responder às urgências do século XXI — colapso ecológico, crise dos cuidados, desigualdade crescente. Pior ainda: a burocratização e a alienação política favorecem o avanço de forças autoritárias populistas que, com soluções fáceis e discursos de ódio, ocupam o vazio da escuta cidadã.
A demarquia, segundo Burnheim, não é uma utopia distante, mas uma ferramenta concreta para devolver o poder a quem o vive. Não elimina o conhecimento técnico, mas o redistribui: os técnicos podem assessorar, mas não decidem sozinhos. Quem decide é o coletivo deliberativo, aleatório, temporário e plural. E podemos começar pequeno. Nos bairros. Nos municípios. Onde as listas fechadas podem ser substituídas por listas aleatórias entre voluntários da comunidade, garantindo proporcionalidade de gênero, etnia e classe. Onde se experimenta o comum sem filtro partidário. Onde a política volta a ser encontro, e não profissão.
O sorteio como corta-fogo contra as extremas-direitas
Já existem precedentes valiosos que demonstram o valor do sorteio. Conselhos cidadãos com poder vinculante em cidades como Madri ou Paris, assembleias nacionais sobre o clima na França, ou até mesmo formas ancestrais de deliberação coletiva em comunidades indígenas da América Latina. O sorteio tem funcionado com rigor e legitimidade. E quando fracassou, não foi por fraqueza interna, mas por boicote do status quo: pela resistência de quem se beneficia do sistema de votação tradicional e vê seu poder ameaçado. Não é o método que falha, é o sistema que se protege. Onde foi permitido florescer, o sorteio devolveu à política seu sentido original: a construção do bem comum.
O sorteio, ao contrário do que muitos pensam, não é desorganizado: é radicalmente democrático. Reconhece a incerteza do mundo, a inteligência difusa da sociedade, a potência do diverso. Rompe com a lógica da centralidade, da elite, do salvador da pátria. Nos lembra que todos somos capazes de pensar o comum — se tivermos tempo, apoio e reconhecimento.
E há algo ainda mais decisivo: em um sistema de representação aleatória, as chances de que figuras como Donald Trump, Nayib Bukele, Emmanuel Macron, Javier Milei ou Marine Le Pen fossem sorteadas para governar seriam mínimas — não por exclusão ideológica, mas porque pertencem aos estratos sociais mais privilegiados e numericamente reduzidos da população. A lógica do sorteio reflete a composição real da sociedade: se as elites econômicas e políticas constituem uma pequena fração, sua presença nos órgãos deliberativos seria proporcionalmente marginal. Isso desmonta pela raiz a estrutura que hoje permite que os mesmos de sempre — ricos, midiáticos, profissionalizados no poder — concentrem a tomada de decisões. E também corta pela raiz a capacidade das extremas-direitas de instrumentalizar o descontentamento popular e convertê-lo em espetáculo reacionário. A democracia aleatória não é apenas uma alternativa: é um corta-fogo político e cultural frente àqueles que manipulam o ódio para chegar ao poder.
Então, sorteamos ou desistimos?
Porque a política não pode continuar sendo o espelho dos mesmos. Ela deve ser o mosaico dos outros — de todos os outros que ainda não tiveram voz.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

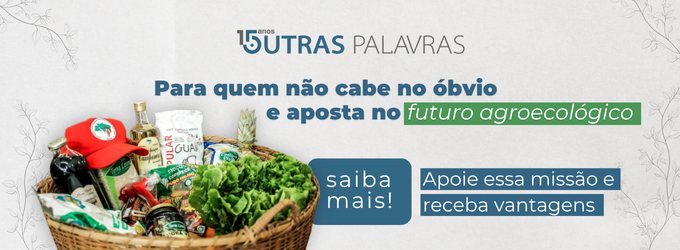
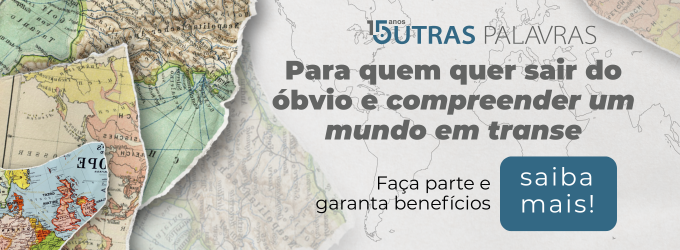
Um comentario para "Democracia: em defesa da escolha por sorteio"