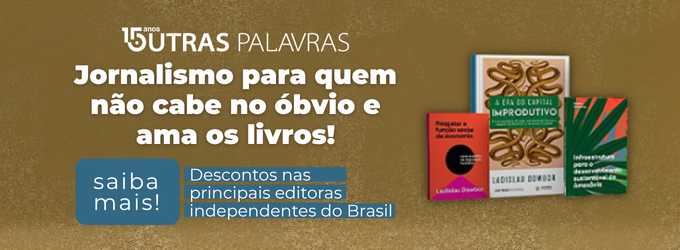A direita convida à política do medo
Sobram sinais de que no Rio houve chacina planejada, para levantar governador que, decaído, flerta apenas com o medo. Direita se agarrará à brutalidade das armas, consolo que lhe resta. Para outro Brasil, é preciso propor outra Segurança
Publicado 29/10/2025 às 17:24 - Atualizado 29/10/2025 às 17:38

Título: Entre as chacinas e as urnas: quando a (in)segurança pública vira palanque eleitoral. Este texto é uma parceria entre o WikiFavelas – Dicionário das Favelas Marielle Franco e Outras Palavras
O Rio de Janeiro viveu mais uma chacina nesta terça-feira (28/10). A operação mais letal da história do estado, até o momento. Há notícias que mencionam ao menos 110 pessoas mortas e mais de 2.500 agentes da polícia civil e militar envolvidos, tanto do BOPE como da CORE. Não por acaso, um ano antes das eleições para o cargo de governador. Assim como em 2021, quando vivemos uma das maiores chacinas na favela do Jacarezinho, com dezenas de execuções, houve o alastramento do pânico moral em toda a população, fato que se conecta diretamente com a abertura de um período de campanhas para a sucessão do governo.
O governador Cláudio Castro (PL), em franca disputa com o governo federal petista, tentou transformar o debate da chacina que ele conduziu na cidade em palanque para atacar um suposto abandono do presidente Lula (PT) diante da situação do Estado. A política do medo ocupou as ruas, em uma megaoperação que mais parecia um espetáculo, envolvendo milhares de trabalhadores das forças de segurança, com veículos blindados (mais conhecidos como Caveirões), helicópteros sobrevoando casas, escolas e serviços de saúde fechados, vidas sob cerco. Para além dos complexos do Alemão e da Penha, diretamente envolvidos nas operações nesta terça-feira, há relatos de retaliações por parte das facções em toda a região metropolitana, com fechamento de vias e saques em comércios.
Segurança pública é o tema que mais preocupa os brasileiros, e não por acaso aparece recorrentemente na agenda dos gestores das grandes cidades e estados, em uma certa confusão sobre a atribuição de cada ente do pacto federativo. Um problema que temos observado é que muitos vendem mais violência como solução: na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o Prefeito Eduardo Paes (PSD) decidiu armar a guarda municipal, treinando-a militarmente, em um ato que contraria as principais indicações de pesquisadores e ativistas na área da segurança pública. Afinal, isso reproduz a lógica equivocada de que o aumento da força policial ou armamento garante segurança, quando, na prática, amplia a violência, reforça desigualdades e expõe ainda mais a população negra e periférica ao risco de morte. No caso da capital fluminense, o armamento da guarda significa maior repressão aos trabalhadores informais e a completa falência de um modelo de gestão que, incapaz de lidar com os conflitos urbanos cotidianos por meio de esforços intersetoriais, decide incrementar as ontologias militarizadas de governo.
Sem dúvidas, o Rio de Janeiro vive uma grande crise na segurança pública, que merece ser analisada a partir de esforços multidimensionais, intersetoriais e de longo prazo. Pesquisas e experiências nacionais e internacionais mostram que segurança pública efetiva se constrói por meio de prevenção, com políticas sociais, investimento em educação, saúde e infraestrutura comunitária, não com fuzis, blindados e operações espetaculares que transformam o medo em espetáculo. A experiência da Colômbia, por exemplo, demonstra como a redução da violência integra um programa articulado de inclusão social, diálogo comunitário e fortalecimento de instituições locais que promovam o acesso a direitos básicos e a reconstrução do tecido social. Isso mostra que segurança pública é, antes de tudo, um projeto de cuidado coletivo e prevenção, e que políticas baseadas na repressão e na espetacularização da violência só perpetuam ciclos de morte e medo, aprofundando desigualdades e fragilizando a cidadania.
No Rio de Janeiro, na contramão, vemos a intensificação de uma certa agenda de guerra urbana, coordenada pelo Estado, como parte das táticas de governança da extrema-direita, com o terror sendo o principal alicerce de um projeto ultraliberal de retirada de direitos da população. Por um lado, intensifica-se a violência de Estado nas favelas e periferias e, por outro, violam-se direitos dos trabalhadores.
Aliás, ao abordar o episódio de ontem, a mídia hegemônica deveria usar o nome adequado para se referir ao ocorrido. Não é operação policial, é chacina. E, talvez, a maior da história do país.
O endurecimento de práticas violentas de Estado ocupa um lugar central nessa agenda de retirada de direitos, como nos lembra Wacquant (em “Punir os Pobres”, livro publicado em 2001), pois a criminalização da pobreza e a militarização das políticas urbanas reforçam a lógica de exclusão social necessária para avançar agendas ultraliberais. Como elucidado pelo autor, o Estado neoliberal desloca seu eixo da proteção social para o controle penal, punindo os pobres em vez de protegê-los. O que se vê, ao longo do dia, são milhares de trabalhadores desesperados sem ter como voltar para suas casas, sem notícias precisas de suas famílias e dezenas de pessoas executadas, inclusive trabalhadores das forças de segurança. O pano de fundo das grandes operações policiais, que se inscrevem em uma agenda de extermínio das populações negras no Brasil, também se relaciona com a desarticulação de quaisquer possibilidades de organização da população, que vive sob cerco, sem direitos e sem perspectivas de uma vida digna e tranquila. Nesse cenário, a segurança pública deixa de ser uma garantia cidadã e se converte em método de controle social, eleitoral e econômico.
O resultado concreto é a morte em escala industrial e o aprofundamento de uma lógica de governança pelo terror. Uma política que substitui direitos por tiros, e cidadania por medo. Qual é o espaço para a esperança em um cotidiano marcado pela suspensão total de direitos — até mesmo do direito de sonhar? Essa militarização crescente, longe de resolver qualquer problema de segurança, amplia os abismos social e racial do Rio de Janeiro. Enquanto as favelas se tornam palco de guerra, outros espaços da cidade assistem, paralisados, ao espetáculo que naturaliza o extermínio como rotina. Será que os moradores de Ipanema viveram as mesmas preocupações que os moradores do Complexo da Penha?
O padrão da chacina como política de Estado
Pesquisas reunidas pelo Dicionário de Favelas Marielle Franco (Fiocruz) demonstram que o Rio de Janeiro vive há mais de três décadas sob a recorrência de chacinas que se repetem com a mesma lógica, as mesmas vítimas e a mesma impunidade. O verbete Chacinas em favelas no Rio de Janeiro identifica esses episódios como parte de um padrão estrutural de atuação violenta do Estado, voltado especialmente contra populações negras e periféricas. Casos como Acari (1990), Candelária (1993), Vigário Geral (1993), Borel (2003), Complexo do Alemão (2007) e Jacarezinho (2021), entre tantos outros, revelam não eventos isolados, mas uma política contínua de extermínio, sustentada por práticas de militarização e ausência de responsabilização. A sucessão dessas tragédias evidencia que as chacinas não são desvios ou excessos pontuais, mas expressões permanentes de um projeto de segurança pública que naturaliza a morte nas favelas como forma de governo.
A continuidade da letalidade, mesmo diante de decisões judiciais que tentaram restringir operações (como a ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas), revela a falência da política de segurança pública e a fragilidade da capacidade estatal de controlar suas próprias forças. Não se trata de uma polícia “fora de controle”; trata-se de uma política que, em muitos momentos, escolhe não controlar.
Enquanto a retórica da guerra ao tráfico insiste em transformar favelas em campos de batalha, o que se observa cotidianamente é que as operações letais e descoordenadas pouco alteram a estrutura do crime organizado. Estudos promovidos por instituições como o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI) ou pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) têm mostrado que as facções e milícias não se sustentam apenas pela venda de drogas nas comunidades, mas por redes complexas de circulação de armas, lavagem de dinheiro e corrupção institucional que operam fora delas, nas fronteiras, nos portos, nas instituições financeiras e nas próprias forças de segurança do Estado. Sufocar as favelas é enxugar gelo: a cada invasão violenta, o Estado reorganiza o próprio terreno da criminalidade, mantendo toda a população sitiada e produzindo medo e insegurança em larga escala, enquanto os verdadeiros fluxos do crime permanecem intocados.
Uma alternativa à política de extermínio passa por recolocar a inteligência e a coordenação entre os diferentes entes federativos no centro da estratégia de segurança pública. Aqui, não convoco a inteligência como uma entidade abstrata, mas justamente como um ator capaz de produzir investigações e métodos de trabalho que sejam menos letais e mais eficazes. Não é possível viver em um dos estados que mais gasta dinheiro com segurança pública (estudos apontam que o RJ é o estado que mais investe nas polícias no Brasil) e, ainda assim, não conseguir apontar horizontes de resolver o problema que se coloca para a população, sem combater os grupos civis armados vinculados ao tráfico de drogas ou aos grupos milicianos que também dominam grande parte dos territórios. Facções e milícias não são o oposto do Estado, mas se relacionam com esse modelo contemporâneo de governar a vida, como efeito de redes que emergem das brechas da corrupção, das desigualdades, da especulação imobiliária e da própria política de segurança pública.
As operações mais eficazes em apreensão de fuzis, drogas e munições, inclusive as que levaram à prisão de agentes como Ronnie Lessa (envolvido na execução da vereadora Marielle Franco, do PSOL), foram conduzidas sem tiros, com base em investigação, cruzamento de dados e cooperação entre órgãos. Por que não seguir sempre assim? Não foram em favelas, tampouco exigiram blindados ou helicópteros. Mostraram, na prática, que o enfrentamento à criminalidade organizada depende muito mais de método e integração do que de uma afirmação midiática de força. Esse contraste revela que o modelo militarizado não é a via mais eficaz, mas é a via que produz visibilidade política. Nossa segurança precisa de coordenação técnica e nitidez política do que deve ser enfrentado — e não de espetáculos de poder. A administração seletiva dos ilegalismos, portanto, permite que as engrenagens lucrativas do crime continuem rodando, enquanto vende soluções falsas para a segurança, associando pobreza e criminalidade em leituras modernas do positivismo criminológico.
O faroeste é terra sem lei (e não tem preceitos fundamentais)
As megaoperações em favelas do Rio de Janeiro já foram objeto de debate até mesmo no Supremo Tribunal Federal, por força da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, protocolada pelo PSB em conjunto com dezenas de movimentos sociais e instituições com atuação em favelas. A ADPF das Favelas, proposta em 2019, indicou a gravidade das operações e requereu limites concretos para incidir sobre a escalada de letalidade policial no estado. Entre as decisões preliminares do STF, estava o uso obrigatório de câmeras corporais pelos policiais, aviso prévio ao Ministério Público antes de operações, preservação das cenas do crime e restrições ao uso de helicópteros como plataforma de tiros, atos que reduziram temporariamente as mortes, sobretudo no contexto da pandemia de coronavírus.
Em 2025, quando concluiu o julgamento da ação, o Tribunal homologou parcialmente o plano do Estado do Rio de Janeiro para redução da letalidade policial, afrouxando certas restrições às operações policiais: por exemplo, foi autorizada a retirada da exigência de excepcionalidade para incursões nas favelas e foi permitida uma maior atuação dos helicópteros e blindados (os Caveirões) em operações rotineiras. Avanços normativos (como uso de câmeras e informes ao Ministério Público) sem monitoramento e responsabilização real tendem a se traduzir em letra morta.
O Estado do Rio não fornece dados consistentes e detalhados para justificar as operações, justamente porque não há um desenvolvimento com inteligência que as justifique. Não há fiscalização externa efetiva para dizer se helicópteros e blindados são usados conforme regras, ou se os protocolos de preservação de cena são realmente seguidos, pois a decisão final do STF não discrimina protocolos para tais ações ou responsáveis por elas. As próprias operações seguem sob justificativas de combate ao tráfico, como foi nesta terça-feira, que podem driblar a aplicação das regras.
Ainda assim, o governador parece preferir viver em um Estado sem lei, já que tem tratado a ADPF como problema, mesmo com tantas flexibilizações depois da decisão final do STF. Essa postura sinaliza que, para o projeto de poder atual, a lei não serve como mediação, mas como um entrave. O “faroeste” que ele prefere não é apenas terra sem lei; é um território onde a cidadania é permanentemente suspensa para que a governança pelo terror possa operar livremente. Não por acaso, o líder do governo na Alerj, deputado Rodrigo Amorim (PL), propôs que o estado voltasse a pagar a famosa ‘gratificação faroeste‘, que, na prática, instituiria um bônus financeiro para policiais que promovessem a neutralização de “criminosos” durante operações, além da apreensão de armas de grosso calibre.
Essa emenda ao projeto de reestruturação da Polícia Civil, aprovada pela Alerj em setembro, significaria a legalização da política de extermínio e a transformação da letalidade em meta de trabalho. Ela pretendia institucionalizar um incentivo financeiro para a lógica do abate que a própria ADPF 635 tentava conter.
O governador, pressionado pelos movimentos sociais, STF e pelo Ministério Público, vetou a emenda na semana passada (23/10). Contudo, a justificativa oficial para o veto não se baseou na defesa da vida ou nos preceitos constitucionais, mas em supostas questões técnicas e financeiras, ligadas ao Regime de Recuperação Fiscal. Isso expõe a controvérsia que tratamos aqui: há um grupo político que tenta institucionalizar um mundo sem leis, com incentivos discursivos e até mesmo financeiros para que mais mortes sejam operadas pelo Estado. Essa encenação compõe um roteiro político. Em entrevistas, o governador preferiu atacar publicamente a ADPF, creditando o seu fracasso como gestor aos mecanismos de controle da barbárie, em uma certa articulação entre intervenções na cidade e militarização do medo, das favelas ao asfalto.
Aumentar as mortes para aumentar os votos? Outro mundo precisa ser possível
Por enquanto, as esperanças estão dispersas entre tantas operações. O que precisamos entender, nesse momento, é que a recorrência das chacinas em períodos eleitorais não é coincidência. Nos últimos anos, grandes intervenções militarizadas de alta letalidade se intensificaram em momentos de disputa política. Como esquecer a intervenção militar no Rio em 2018, logo antes de se escancarar os portões do inferno que possibilitaram a eleição de Bolsonaro e Wiztel? Como esquecer cada operação policial, sempre quebrando recordes de letalidade, ao mesmo tempo em que os grupos civis armados (tanto tráfico como milícias) apenas aprofundam seu poderio no Estado?
A cada ano, a retórica da guerra é reativada porque ela tem a capacidade de reposicionar lideranças políticas diante da opinião pública. Mesmo com a guerra constante, nunca vivemos um período real e duradouro de contenção das dinâmicas do crime organizado por aqui. O pânico moral, pelo contrário, é uma ferramenta de marketing de longa duração: a violência é apresentada como demonstração de força e controle — com megaoperações, enquanto a insegurança cotidiana produzida por essa política ineficaz é transformada em justificativa para o autoritarismo do Estado. Essa tática, característica de um modo bolsonarista de fazer política, reforça o medo como linguagem de governo e alimenta o ciclo que torna a morte uma cena pública legitimada.
Não podemos naturalizar a narrativa de Claudio Castro de que os direitos humanos seriam obstáculos à segurança. O governador diz que “não acredita que segurança se faz politizando”, mas politiza quando segue o padrão de governo no qual o direito de viver é substituído pelas bonificações por atirar.
Que a gente não se esqueça, contudo, que há frestas de resistência: grupos de mães, movimentos e coletivos constroem lutas por outro mundo, com diversas ações de enfrentamento à violência de Estado. É preciso transformar essa potência em projeto e disputar o sentido da segurança pública.
Superar a lógica da morte exige deslocar o debate da segurança pública do campo da violência para o campo dos direitos humanos. Uma política de segurança cidadã precisa caminhar junto de políticas de educação, cultura, saúde e infraestrutura. Segurança se constrói com confiança, cuidado e proteção, não com Caveirão e fuzil. Isso implica relocalizar a presença do Estado nas favelas, construindo esperança de que a vida pode ser melhor.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.