Os afetos coloniais que forjam o bolsonarismo
O que há por trás da idolatria da ultradireita a Trump? Talvez, o desejo de ser governado por um Pai distante – superior e capaz de intervir sobre a ordem interna. E a fé na política de tutelagem, onde o eu só adquire contorno ao desaparecer no Outro mais forte
Publicado 02/10/2025 às 17:04 - Atualizado 02/10/2025 às 17:59

A cena política brasileira recente é atravessada por uma coreografia curiosa: quando a ordem vacila por dentro, busca-se o amparo por fora. Não bastam tribunais, nem parlamentos; é preciso que uma voz estrangeira diga o que vale e o que não vale, quem deve ser punido e quem deve ser absolvido. A exceção veste uniforme importado.
Não é apenas cálculo ideológico: é um regime de afeto. O desejo de tutela encontra no estrangeiro o Pai capaz de nomear, punir e purificar. A democracia aparece como vertigem, a exceção como cura, e a soberania só se confirma quando validada por um Outro imperial. O aplauso às sanções, as listas de proscritos, as reprimendas vindas de Washington, tudo isso funciona como liturgia de obediência, um sacramento político em que a dependência se transmuta em virtude.
É nesse deslocamento libidinal (do soberano interno ao Pai estrangeiro) que proponho situar a noção de colonialidade afetiva. Mais que obediência ou submissão, trata-se de uma economia emocional que organiza o campo político brasileiro em torno da renúncia: renúncia à autonomia, renúncia ao conflito democrático, renúncia ao próprio nome. O ensaio que segue procura cartografar esse território afetivo e suas consequências, não apenas para entender o bolsonarismo, mas para pensar o que resta de soberania quando o desejo já não nos pertence.
Colonialidade afetiva e a política da tutelagem
Um outro vetor decisivo para compreender a resposta entusiástica de alguns setores bolsonaristas às sanções impostas por Trump, bem como às suas críticas ao sistema jurídico brasileiro, é a persistente idealização dos Estados Unidos como arquétipo civilizacional: potência geopolítica revestida de autoridade moral, erguida como totem planetário de legitimidade. Essa idealização opera menos no campo da análise do que no da afeição: é uma paixão política, uma estrutura imaginária de reconhecimento vertical que posiciona o Brasil como filho menor de uma ordem superior. O que se dramatiza é uma filiação transnacional de caráter sacrificial: um laço vertical no qual o poder de fora é autorizado a separar os justos dos transgressores, reencenando o mito da redenção por mãos alheias.
O resultado é um duplo deslocamento: o da autoridade, que é exportada; e o da autoimagem, que se organiza em torno de um eixo externo, gerando uma subjetividade periférica que se sonha central, desde que espelhada. Esse gesto de identificação com o centro imperial não é novo, mas reaparece sob a forma de colonialidade afetiva, desejo de pertencimento e ressentimento nacional: três faces de uma mesma estrutura mítica em que o Outro é simultaneamente aquilo que se quer ser e aquilo que jamais se poderá alcançar sem abdicar de si.
A obediência ao Pai externo, convém insistir, assume uma dimensão litúrgica antes que estratégica. O que se apresenta como política revela-se, na verdade, como um elaborado processo de autoalienação: o deslocamento voluntário do poder para fora, como forma de eximir o eu da tarefa de sustentá-lo por dentro.
A identificação com os Estados Unidos, vistos como horizonte civilizatório de força, riqueza e liberdade performativa, exprime mais que simples admiração; evidencia um desejo profundo de fusão simbólica com o corpo mítico do vencedor. A nação norte-americana, nesse imaginário, opera como figura escatológica de um futuro idealizado, um espelho no qual se tenta enxergar uma versão mais viril e bem-sucedida de si.
Trump, como figura totêmica desse imaginário, excede o papel de representante de uma política conservadora: encarna um ethos importável, replicável, contagiante, o arquétipo de uma autoridade que dispensa justificativas, de uma liberdade blindada por armas, de uma verdade que se impõe sem mediações institucionais, como se fosse revelação direta, quase divina.
Esse desejo de importação não é neutro. Envolve abdicação simbólica das diferenças que formam o Brasil (pluralidades históricas, regionais e raciais) em troca de uma filiação imaginária a um projeto apresentado como universal, mas efetivamente excludente, hierárquico e colonizador. Estamos diante de uma adesão litúrgica ao sistema-mundo imperial, cujo ingresso exige, como moeda, a abdicação não só da autonomia institucional, mas da própria existência como alteridade.
Trata-se, no limite, de uma recusa da invenção de si: o sujeito abdica da criação para aderir à forma já legitimada, já nomeada, já instituída. E nesse processo, a diferença local é sacrificada no altar de uma semelhança impossível, mas desejada com fúria. A particularidade se dissolve na cópia; e a política, mais uma vez, se revela como rito de autoapagamento.
Ao celebrar com entusiasmo gestos autoritários vindos de fora, sobretudo quando voltados contra instituições nacionais, certos grupos revelam algo que excede o dissenso político: um movimento de autoapagamento. A crítica ao Supremo funciona como superfície visível de um gesto mais profundo: a recusa do Brasil como espaço legítimo de enunciação política. O que se desenha é uma economia simbólica da autodegradação, em que o externo é sinônimo de autenticidade, e o interno, de falsificação.
Nesse espelho invertido, o Brasil deixa de ser sujeito e passa a ser simulacro; um país condenado à secundariedade, cuja validade só pode vir de fora, como selo de autenticidade. O STF, o Estado, a cultura política local, tudo se torna ruína antecipada diante do mito regulador de uma “nação verdadeira” (os Estados Unidos) que simboliza, ao mesmo tempo, potência, pureza e verdade.
Essa lógica vai além de qualquer desejo de correção; expõe a internalização ativa de uma posição de inferioridade. É colonialidade em sua versão mais refinada, um colonialismo voluntário no qual o sujeito político se entrega como reflexo, como sombra, como plateia da autoridade do outro. O poder externo não intervém à revelia; ele é convocado, desejado, celebrado, como se apenas de fora pudesse emergir o gesto capaz de restaurar uma ordem considerada inalcançável pelas vias internas. O resultado é uma soberania paradoxal, que se realiza por meio da própria abdicação: um teatro de espelhos onde o eu político só adquire contorno ao desaparecer na imagem do outro.
A relação com os Estados Unidos, nesse regime de afetos e representações, opera como uma economia psíquica da filiação idealizada. O Pai distante aparece como aquele que tudo vê, tudo julga e tudo protege, enquanto o Brasil é figurado como criança rebelde, imatura e sempre por civilizar, cuja salvação se imagina depender da imitação obediente do modelo exterior. Temos aí uma fábula política na qual a virtude é sempre importada, e a soberania, um efeito colateral da imitação bem-sucedida.
Essa assimetria vai além das dimensões política ou econômica; ela é, sobretudo, epistemológica. Opera como um sistema de validação de saberes, normas e instituições que rebaixa tudo o que se origina fora do eixo euro-americano, classificando-o como inferior, exótico ou simplesmente descartável. No imaginário de alguns setores bolsonaristas, essa lógica não é questionada: é reforçada. O que se reproduz é mais que uma geopolítica da dependência, mas uma ontologia da inferioridade, em que formas locais de pensar, governar e existir são sistematicamente desautorizadas. A racionalidade brasileira (forma de organizar o pensamento, o tempo e o conflito político no Brasil), marcada por contradições, processos lentos, conflitos constitutivos, é interpretada não como expressão de uma complexidade histórica, mas como defeito, insuficiência, falha diante da verdade rígida, binária e armada que se atribui ao Norte.
Nesse espelho colonial, o Brasil nunca é o autor de sua própria narrativa; é sempre o aluno, o réu ou o rebelde diante de um tribunal moral estrangeiro. E a política torna-se, assim, um esforço permanente de autoadequação a um Outro que nunca reconhece reciprocamente aquilo que exige ser imitado.
Esse fenômeno atinge sua expressão mais aguda no interior do bolsonarismo, cuja estrutura discursiva é atravessada por uma miríade de símbolos, slogans e rituais importados do imaginário político norte-americano. A questão não é de mera inspiração, mas de possessão simbólica. Da apropriação da bandeira dos Estados Unidos às referências bélicas e escatológicas do conservadorismo made in USA, o bolsonarismo opera como uma tradução ressentida de uma teologia imperial.
A idolatria de Trump, nesse contexto, é o sintoma visível de uma arquitetura mais profunda: a constituição de um Pai estrangeiro como fonte de verdade, moralidade e soberania. Ao investir libidinalmente em um líder externo, o movimento faz mais do que celebrar um modelo: deslegitima a própria capacidade nacional de gerar autoridade e produzir verdade.
O Brasil não se apresenta só como território marcado pela colonização; configura-se como uma consciência colonizada. Um lugar que já não acredita em sua própria capacidade de redenção, esperando que a salvação venha de fora, pronunciada num idioma estrangeiro, por um verbo que jamais se conjuga em português. A política, assim, torna-se ato litúrgico de mímese. O bolsonarismo surge como um culto nacional à própria insuficiência.
Paradoxalmente, e talvez inevitavelmente, ao buscar força, legitimidade e redenção fora de si, esses grupos corroem justamente aquilo que dizem defender: a soberania nacional, a liberdade do povo, a autonomia das instituições. O apelo a um Pai autoritário estrangeiro que intervenha na cena política brasileira escancara uma crise de autoridade interna, e sobretudo revela uma recusa mais funda: a incapacidade de reconhecer o Brasil como espaço legítimo de maturidade política e subjetiva.
A exaltação de Trump atua menos como gesto ideológico do que como encenação de uma fantasia de tutelagem restaurada, o desejo de ser governado por um Outro superior, mais forte, mais verdadeiro. É rendição simbólica consentida, não forçada. Um retorno à casa colonial, reencenada no palco expandido da política global.
O Brasil, nesse gesto, é reinscrito como periferia moral de um império imaginário, e seus próprios cidadãos, em vez de autores de um projeto nacional, tornam-se personagens secundários de uma narrativa estrangeira. A subalternidade deixa de ser imposta e passa a ser desejada, reafirmando com zelo quase devocional o lugar do país como filho menor da história, incapaz de governar-se sem espelhos.
Desejo, colonialidade e autoridade
Chegamos ao ponto onde a análise se dissolve no feitiço. Não estamos diante de um fenômeno político em sentido estrito, mas de uma cosmopolítica afetiva, em que os sujeitos não apenas defendem ideias: eles encarnam entidades. Trump não é uma figura: é um espírito. Um operador de autoridade transfigurada, convocado para corrigir, punir e salvar. Não porque entenda o Brasil, mas porque se ergue acima dele como instância de legitimação cósmica, potência transcendental a quem se atribui a tarefa de purgar a aldeia.
Em sua vertente mais simbólica e devocional, o bolsonarismo, é menos um programa político do que uma máquina a convidar o espírito estrangeiro para ocupar o corpo do país com a promessa de que, possuído, seremos enfim purificados. Há mais que submissão: há entrega desejante, possessão consentida. Um regime de subjetivação no qual o desejo de tutela é tão intenso que se transforma em vocação metafísica.
O Pai não está perdido, ele está no exterior. E é preciso trazê-lo de volta, mesmo que, para isso, o preço seja a abdicação simbólica da soberania. O que se desenha é uma economia política da autoridade: um deslocamento da fonte de poder para além das fronteiras, como se só no corpo do Outro residisse a verdade do Eu. O Brasil, nesse teatro, não fala, ele é ventríloquo; não age, é médium; não decide, é decidido.
E o mais perturbador: isso é desejado. Mais do que erro, o que se firma é um vínculo afetivo com a autoridade como feitiço de sentido. Um culto estrutural à insuficiência local que transforma o nacional em ruína antecipada, e o estrangeiro em totem escatológico. Um país que, em vez de inventar-se, imita. Que, em vez de narrar-se, copia. Que, em vez de habitar sua diferença, exila-se num espelho.
É nessa chave que a obediência ao Pai da exceção pode ser lida: como processo de estabilização frente à vertigem democrática. A democracia, como máquina de negociação permanente, de indeterminação generalizada, aparece como ameaça. E a exceção, como promessa de cura. O desejo de Trump não é desejo de Trump: é desejo de simplificação do mundo. O bolsonarismo, portanto, se revela como cosmologia política reativa, um sistema simbólico que mobiliza a transcendência estrangeira para resolver o colapso do imanente local. Uma política na qual o poder não vem do outro mundo para equilibrar este, mas deste mundo para subjugar o nosso.
No tempo em que o delírio se disfarça de destino, urge mais do que nomear o feitiço: é preciso rompê-lo. É preciso desfazer o encantamento que transforma o Brasil em periferia de si mesmo.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

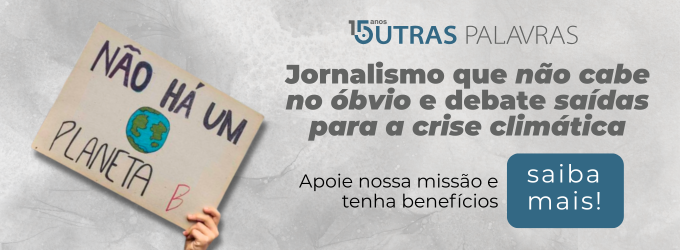

“O Brasil não se apresenta só como território marcado pela colonização; configura-se como uma consciência colonizada. Um lugar que já não acredita em sua própria capacidade de redenção, esperando que a salvação venha de fora, pronunciada num idioma estrangeiro, por um verbo que jamais se conjuga em português”
Esta é o nosso carma. E aí não caracterizo apenas o bolsonarismo, mas o Brasil como um todo.
Nos últimos meses um debate se impôs ao progressismo no Brasil. O Brics e dentro dele a China que se consolida como uma força antagônica à hegemonia ocidental.
Ocorre que aqui estamos falando de uma civilização de 5000 anos e que já era desenvolvida e consolidada quando os europeus erravam pela península atrás de comida. Falamos de uma civilização que não conhece e nem reconhece o mito fundador do povo escolhido, arranjo de classe que permite oprimir o que se manifesta diferente.
A China não tem pretensão de hegemonia. Tem sim apetite comercial para realizar intercâmbios com todos e a qualquer tempo. Para isso convive com as diferenças respeitando-as e ouve bem mais do que fala.
O Brasil, frente a esta postura, perde-se no relacionamento com a China. Acostumado a seguir ordens, não sabe como dialogar com um pais muito mais desenvolvido e que pretende negociar sem segundas intenções. Sem armadilhas. Acostumado a seguir ordens, não sabe o que negociar pois abdicou da missão de pensar um projeto de pais e só tem vento a favor aquele que sabe para onde quer ir.
Urge as elites nacionais iniciarem um debate aprofundado sobre qual país queremos construir. Só desta maneira, num mundo multipolar que está se formando, saberemos qual será nosso lugar à mesa.