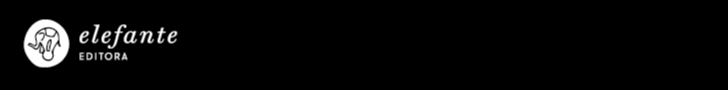Guerras Culturais e a ilusão da Política sem Cultura
Elas não se resumem a um embate de ideias: são o campo onde a direita constroi as bases para sua hegemonia – e disputa o Estado. O método é interditar os debates e mobilizar por meio do pânico moral. As esquerdas erram ao tratar a Cultura como algo secundário…
Publicado 24/01/2025 às 15:33 - Atualizado 24/01/2025 às 16:22

Muitos enxergam a guerra cultural – termo popularizado para descrever disputas ideológicas que se manifestam em valores, costumes e narrativas sociais -, como algo superficial, um truque, uma distração que desvia a atenção da sociedade das chamadas “questões reais” — econômicas e institucionais. Contudo, essa perspectiva chega com um vício subjacente: subestima o papel central da cultura na disputa pelo poder. A cultura nunca foi um detalhe: ela estrutura os valores de uma sociedade, delimita o que é aceitável e enquadra o que deve ser combatido. Em toda disputa política, a cultura é o ponto de partida e o terreno onde as percepções de realidade são definidas, elaboradas, reelaboradas e questionadas.
A guerra cultural não se resume a um embate de ideias; ela é um método projetado para desarticular o debate público. Seu objetivo não é persuadir pelo argumento, mas transformar discordâncias em ameaças existenciais. Nesse contexto, a identidade ocupa o lugar do pensamento crítico, e o ódio substitui a argumentação. Nada disso ocorre por acaso: trata-se de uma estratégia deliberada, que prospera na radicalização e na simplificação dos problemas, inviabilizando qualquer possibilidade de mediação.
Mais do que um ruído periférico da política, a guerra cultural é um mecanismo cuidadosamente estruturado para reorganizar o poder. Grupos conservadores compreenderam que a cultura não é apenas uma expressão da sociedade, mas um campo ativo de disputa, onde significados são produzidos, valores negociados e relações de poder naturalizadas. Ao deslocarem suas batalhas das urnas e dos tribunais para o campo cultural, trataram a cultura como um território estratégico para consolidar hegemonias e reconfigurar a percepção pública.
Compreender esse fenômeno exige ir além da superfície das manchetes ou dos embates cotidianos. É necessário investigar suas raízes históricas, seus métodos e suas estratégias para revelar como a guerra cultural transforma as prioridades políticas e reconfigura o próprio exercício do poder. Somente com essa compreensão será possível construir respostas que ultrapassem o imediatismo e enfrentem a centralidade da cultura no jogo político. Vamos tentar.
A tradição das Guerras Culturais
As disputas culturais atravessam os séculos, assumindo diferentes formas e intensidades, mas sempre refletindo os embates mais profundos de uma sociedade. Embora o termo “guerra cultural” pareça recente, suas raízes remontam a momentos históricos muito anteriores à sua formalização como conceito sociológico. No século XIX, por exemplo, a Alemanha vivenciou o Kulturkampf, um conflito entre o Estado prussiano e a Igreja Católica pelo controle da educação, da moral e da identidade nacional. Essa disputa demonstrou que a cultura não é apenas um reflexo passivo da sociedade, mas um campo dinâmico de poder e conflito.
O Kulturkampf evidenciou que, desde o século XIX, a cultura já era tratada como um espaço central de poder. Essa lógica foi intensificada nos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 1960. O avanço dos direitos civis, do feminismo e da contracultura foi percebido por setores conservadores como uma ameaça à estabilidade da ordem social. Em resposta, estruturou-se uma ofensiva moral que não apenas resistia às transformações sociais, mas buscava ativamente reverter os avanços conquistados.
Nos anos 1990, o sociólogo James Davison Hunter consolidou a noção de guerra cultural em sua obra Culture Wars: The Struggle to Define America. Inserido em uma tradição sociológica que explora as transformações culturais como arenas de disputa política e de poder, Hunter argumentou que a guerra cultural não era apenas um embate ideológico, mas uma luta entre visões de mundo incompatíveis. Ele demonstrou como esses conflitos moldavam legislações, direcionavam o sistema educacional e influenciavam decisões judiciais, transformando a cultura em um campo estratégico para redefinir hegemonias.
Andrew Hartman, em A War for the Soul of America, deu continuidade a essa análise ao situar os conflitos culturais dos anos 2010 como parte de um ciclo histórico contínuo de disputas ideológicas nos Estados Unidos. Hartman destacou que, ao deslocar o foco para questões de moralidade e costumes, as guerras culturais funcionavam como mecanismos para obscurecer crises estruturais mais amplas, como as do modelo econômico, permitindo que hegemonias conservadoras em declínio encontrassem novas bases de sustentação. Essa tradição sociológica, especialmente influente nos Estados Unidos, se desenvolveu em um contexto marcado pela pluralidade de valores em uma sociedade multicultural e pelas crescentes divisões políticas e ideológicas.
Wendy Brown, em Undoing the Demos, argumenta que o neoliberalismo não apenas reconfigura economias, mas também transforma profundamente a cultura e a política, submetendo-as à lógica do mercado. Nesse cenário, as guerras culturais desempenham um papel estratégico: ao mobilizar pautas identitárias e morais, muitas vezes urgentes e legítimas, o neoliberalismo desloca o debate público de questões estruturais, como desigualdades econômicas, para conflitos culturais que fragmentam solidariedades coletivas. Essas disputas não são desvios do projeto neoliberal, mas parte integrante de sua dinâmica, pois enfraquecem a organização de resistências e criam um ambiente em que o individualismo e a competição prevalecem. Assim, as guerras culturais não apenas refletem conflitos ideológicos, mas também operam como mecanismos que reforçam as desigualdades e limitam as possibilidades de transformação social.
Enquanto nos Estados Unidos as guerras culturais emergiram como reação a transformações sociais e à crise da hegemonia conservadora, no Brasil elas foram concebidas deliberadamente como estratégia política. Como destaca João Cezar de Castro Rocha em sua obra Guerra Cultural e Retórica do Ódio: Crônicas de um Brasil Pós-Político, a guerra cultural brasileira não emergiu espontaneamente, mas foi estruturada como uma ferramenta de mobilização de setores conservadores. Seu objetivo era reconfigurar o debate público, deslocando-o para temas culturais e morais, como forma de consolidar um projeto de poder. Dessa forma, a guerra cultural no Brasil tornou-se um instrumento central para deslocar o debate público e minar a construção de uma sociedade democrática, ao instrumentalizar questões morais como ferramentas de controle político.
A disputa cultural no Brasil: construção e estratégias
Nos Estados Unidos, a guerra cultural emergiu como uma reação aos avanços dos direitos civis e das pautas progressistas, marcando um momento de crise para hegemonias conservadoras. No Brasil, no entanto, essa dinâmica não foi apenas uma adaptação local do fenômeno norte-americano. Seu surgimento deve ser entendido no contexto das transformações políticas, sociais e econômicas que se intensificaram a partir da primeira década do século XXI, marcadas pela polarização ideológica e pela crise de legitimidade das instituições democráticas.
Com o avanço das redes sociais e o impacto global de movimentos conservadores, setores da direita brasileira passaram a adotar estratégias de guerra cultural para reorientar o debate público e criar inimigos internos. Além disso, o desgaste do sistema político tradicional, agravado pelos protestos de 2013 e pela Operação Lava Jato, forneceu o terreno fértil para a emergência de narrativas que deslocavam o foco das questões estruturais para disputas culturais e morais. Nesse cenário, como aponta Castro Rocha em seu Guerra Cultural e Retórica do Ódio, consolidou-se um movimento coordenado para transformar a guerra cultural em uma estratégia deliberada de poder, voltada a minar instituições de conhecimento e fortalecer uma hegemonia conservadora.
Olavo de Carvalho (1947–2022) tornou-se uma figura central na articulação da guerra cultural no Brasil, especialmente a partir dos anos 2000. Inicialmente conhecido nos círculos intelectuais conservadores como ensaísta e crítico da modernidade, Olavo ganhou maior projeção pública com a ascensão das redes sociais e o fortalecimento de movimentos de direita. Nos anos 1990, seus textos já abordavam temas como a crítica ao marxismo cultural, mas foi na década seguinte, com o uso massivo do YouTube e a disseminação de suas ideias em comunidades digitais, que se consolidou como o principal ideólogo da nova direita brasileira.
Seu discurso, profundamente anti-intelectualista e conspiracionista, rejeitava a academia tradicional, que acusava de estar dominada por uma “hegemonia marxista”. Inspirado por autores conservadores como Roger Scruton e Eric Voegelin, Olavo desenvolveu uma narrativa que combinava referências filosóficas e religiosas para atacar as bases do pensamento progressista. Seus escritos e vídeos serviram como ponto de encontro ideológico para grupos conservadores, apresentando professores, jornalistas e artistas como agentes de uma suposta revolução cultural de esquerda. Esse discurso foi instrumental para moldar o imaginário de uma nova geração de lideranças políticas e militantes digitais.
O impacto desse discurso foi amplificado por estruturas digitais sofisticadas. Isabela Kalil, em O Ódio como Política: A Reinvenção das Direitas no Brasil, destaca como a segmentação comunicacional foi usada de forma estratégica, combinando microtargeting digital e discursos inflamados contra supostos “inimigos internos”. Redes sociais como WhatsApp, Facebook e YouTube desempenharam um papel central ao mobilizar diferentes grupos — de militares e religiosos a empresários — em torno de narrativas comuns.
Outro elemento central nesse cenário foi a produção audiovisual revisionista, que teve na produtora Brasil Paralelo, fundada em 2016, um de seus principais pilares. Seus conteúdos reinterpretam a história brasileira sob uma perspectiva conservadora e conspiracionista, frequentemente simplificando debates complexos para reforçar uma narrativa alinhada à guerra cultural. Como destacam Salgado e Jorge, no artigo publicado na Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, essa estratégia não apenas descredibiliza instituições como a mídia e a academia, mas também busca moldar a memória coletiva em torno de versões distorcidas do passado, como no documentário 1964: O Brasil entre armas e livros, que minimiza os crimes da ditadura militar.
Essa estratégia também incluiu uma revisão da memória nacional sobre a ditadura militar. Rodrigo Patto Sá Motta, em A Construção da Verdade Autoritária: A Ditadura Militar Brasileira e a Formação da Memória Social, analisa como essas narrativas revisionistas ressignificaram o regime, promovendo uma visão segundo a qual os militares “salvaram” o país do comunismo. Essa reinterpretação tornou-se dominante em determinados círculos conservadores, contribuindo para a reabilitação simbólica do regime e de figuras como Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Apesar de a moralidade ocupar um lugar central nesse processo, Frederico Rios observa em Neoliberalismo como Tragédia e Farsa: Crônicas da Guerra Cultural no Brasil que a guerra cultural brasileira não se limitou a questões religiosas ou de costumes. Ela também incorporou um forte viés econômico e corporativo, com empresários e grupos de mídia conservadores investindo na construção de narrativas que vinculam o “livre mercado” à modernização do país, enquanto demonizam movimentos sociais e acadêmicos como inimigos da sociedade.
A guerra cultural no Brasil avançou não apenas pela força do discurso conservador, mas também pela ausência de uma estratégia articulada por parte dos setores progressistas. Como Antonio Gramsci aponta em Cadernos do Cárcere, o poder não se mantém apenas pelo controle do Estado, mas também pela ocupação de espaços culturais e pelo convencimento das massas. A direita compreendeu essa lógica e investiu maciçamente em redes sociais, influenciadores digitais e plataformas audiovisuais, enquanto a esquerda concentrou suas energias na política institucional.
A virada digital da guerra cultural transformou o embate político ao favorecer discursos polarizados e conspiratórios. Plataformas como YouTube e Twitter fortaleceram bolhas informativas que alimentam ressentimentos e criam inimigos fictícios, sequestrando o debate público com narrativas simplificadas. Nesse ambiente, qualquer discordância é tratada como uma ameaça existencial.
Enfrentar a guerra cultural exige mais do que reações pontuais ou denúncias das estratégias da direita. É necessário compreender a cultura como um terreno central de disputa, onde valores e símbolos moldam o imaginário coletivo e a percepção da realidade. Apenas uma estratégia propositiva e de longo prazo, que combine ação política e ocupação cultural, será capaz de reverter os avanços dessa hegemonia conservadora e criar novas possibilidades para um debate público mais democrático.
A cultura como território de disputa
A cultura sempre foi um campo central de embate político, estruturando valores, identidades e percepções de poder. No debate público, ela é frequentemente relegada a um papel periférico, tratada como um reflexo das relações econômicas ou como mera expressão simbólica, sem impacto estrutural. Essa visão desconsidera que é na cultura que os significados são gerados, as relações de poder se tornam naturais e as subjetividades políticas são construídas.
A guerra cultural não criou essa dinâmica — apenas evidenciou sua raiz estrutural. Raymond Williams, em Marxism and Literature, demonstrou que a cultura não é um reflexo passivo das estruturas sociais, mas um espaço onde as ideologias disputam hegemonia. Com seu conceito de Materialismo Cultural, Williams rompeu com a visão tradicional de que a cultura seria apenas um subproduto da economia, mostrando como ela organiza a experiência vivida e orienta o que pode ser legitimado ou excluído. Essa perspectiva foi enriquecida pelo historiador E. P. Thompson, em sua obra clássica A Formação da Classe Operária Inglesa, na qual revelou que as classes sociais não emergem apenas das condições materiais, mas também da forma como experiências históricas e narrativas coletivas conferem sentido à identidade política.
Stuart Hall, em textos como The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left, dialogou com essas ideias ao explorar como a hegemonia é construída através do consenso cultural antes de se consolidar no poder institucional. Para Hall, quando uma ideia se torna senso comum, significa que a batalha cultural já foi vencida, mesmo sem mudanças explícitas nas estruturas políticas. Essa interação entre o simbólico e o estrutural torna a cultura não apenas um reflexo, mas um campo de contestação e transformação, onde as visões de mundo são negociadas e naturalizadas.
Compreender a centralidade da cultura na disputa pelo poder exige considerar sua relação com as estruturas de controle e legitimidade. É nesse ponto que as ideias de Antonio Gramsci se tornam fundamentais. Gramsci, ao tratar da hegemonia em seus Cadernos do Cárcere, destacou que o poder não se sustenta apenas pela coerção estatal, mas pelo convencimento. Esse convencimento ocorre principalmente no campo cultural, onde valores e crenças são internalizados e naturalizados, tornando-se aparentemente neutros e incontestáveis.
Essa lógica é visível no Brasil contemporâneo, onde a guerra cultural reorganiza os marcos da legitimidade, redefine quais discursos são aceitáveis e desloca o debate público para questões conservadoras que consolidam novas hegemonias. A disputa pela hegemonia cultural pode ser observada na reinterpretação da história nacional, na reabilitação simbólica da ditadura militar e no embate sobre o papel da educação na formação crítica dos cidadãos. O que está em jogo não é apenas o controle de narrativas, mas a construção de uma visão de mundo dominante que configura o imaginário político.
O problema, então, não é que a guerra cultural tenha esvaziado a cultura como campo de disputa — ao contrário, ela a tornou ainda mais central, mas sob a lógica da direita. Enquanto a esquerda concentrou seus esforços na política institucional e econômica, a direita investiu na cultura como espaço estratégico, compreendendo que é ali que se consolidam valores, se reorientam percepções e se estabelecem os limites do que pode ou não ser contestado. Ao transformar a guerra cultural em uma estratégia de hegemonia, a direita redirecionou o debate público para suas pautas, consolidando sua agenda sem depender exclusivamente de vitórias eleitorais.
A virada digital da guerra cultural amplificou ainda mais seu alcance e alterou profundamente seu funcionamento. Com as redes sociais, a guerra cultural deixou de depender dos veículos tradicionais e passou a operar em ciclos de viralização instantânea. O engajamento algorítmico favorece discursos polarizados, transformando indignação em capital político. No Brasil, a guerra cultural digital consolidou-se com a ascensão de influenciadores políticos e o uso massivo de fake news para manipular narrativas e mobilizar eleitores.
A cultura não é um elemento acessório na luta política; ela é o campo onde se constroem as bases da hegemonia. Quem controla a cultura não apenas domina narrativas, mas define os limites do possível, orienta valores e molda a percepção da realidade. Enfrentar a guerra cultural, portanto, exige mais do que reação ou denúncia: é necessário um esforço estratégico e de longo prazo que trate a cultura como o principal território de disputa política. Apenas ao disputar a cultura de forma propositiva e estruturada será possível reverter a hegemonia conservadora e resgatar a capacidade de a cultura funcionar como uma ferramenta crítica, capaz de ampliar os horizontes do debate público e transformar a sociedade.
Conclusão
A guerra cultural não é um desvio da política real, mas uma de suas formas mais sofisticadas de disputa pelo poder. Ela opera no longo prazo, reconfigurando percepções, deslocando os termos do debate público e redefinindo o que é socialmente aceitável ou inaceitável. Enquanto a direita utilizou esse mecanismo para consolidar sua influência, a esquerda demorou a reconhecer a cultura como um território central na luta política.
O resultado é um cenário onde o debate público foi capturado por discursos que naturalizam desigualdades, reforçam hierarquias e deslegitimam o pensamento crítico. Nesse ambiente, toda oposição é transformada em inimiga e todo questionamento, em ameaça. O apelo moral, frequentemente mobilizado, não se apresenta apenas como uma justificativa conservadora, mas como um recurso eficaz para interditar debates, deslocar o foco de questões estruturais e fortalecer narrativas reacionárias. A guerra cultural não se limita ao enfrentamento direto de ideias políticas; ela transforma valores e comportamentos em campos de batalha permanentes, onde o que está em disputa não é apenas a argumentação, mas os próprios limites do que pode ser imaginado, dito e aceito na sociedade.
Se a guerra cultural consegue deslocar a política para onde lhe convém, enfrentá-la exige mais do que reações pontuais ou denúncias. É necessário ocupar o campo cultural de maneira propositiva e estrutural, disputando valores, símbolos e espaços de influência. Isso demanda pensar a longo prazo, evitando o imediatismo que apenas responde às condições impostas pela própria guerra cultural.
A força da guerra cultural não reside apenas no que ela impõe, mas no que ela torna invisível ou impensável. Ela não precisa censurar ideias diretamente — basta torná-las irrelevantes, ridículas ou impossíveis de serem levadas a sério. Seu impacto não se mede apenas pelo que é dito, mas também pelo que é silenciado.
A política não acontece exclusivamente no parlamento ou nas urnas. Ela se constrói na cultura, nos afetos, nas memórias e na forma como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. Como a hegemonia se consolida na cultura, qualquer resistência efetiva deve emergir a partir dela. O erro da esquerda foi tratar a cultura como algo secundário, permitindo que a direita ocupasse esse espaço estratégico.
Referências
CASTRO ROCHA, João Cezar de. Contra o fascismo, democracia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021.
CASTRO ROCHA, João Cezar de. Guerra Cultural e Retórica do Ódio: Crônicas de um Brasil Pós-Político. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Organização de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 3 v.
HALL, Stuart. The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left. London: Verso, 1988.
HARTMAN, Andrew. A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
HUNTER, James Davison. Culture Wars: The Struggle to Define America. New York: Basic Books, 1991.
KALIL, Isabela. “O bolsonarismo e as direitas: de 2018 ao 7 de setembro de 2021”. In: SOLANO, Esther (org.). O Ódio como Política: A Reinvenção das Direitas no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2020.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A Construção da Verdade Autoritária: A Ditadura Militar Brasileira e a Formação da Memória Social. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2018.
RIOS, Frederico. Neoliberalismo como Tragédia e Farsa: Crônicas da Guerra Cultural no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
SALGADO, João Paulo B.; JORGE, Marco Antonio Coutinho. Brasil Paralelo: a nova direita e a guerra cultural na internet. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais (BIB), Rio de Janeiro, n. 92, p. 713–732, 2º semestre de 2021.
THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 2 v.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.