Quando a universidade flerta com o capacitismo
Relato de um neurodivergente, alvo de desqualificação intelectual, mostra como a Academia cria um padrão de inteligência, sem acolher a diversidade – tão frutífera ao saber. Hegel ajudar a compreender a objetificação estrutural de sujeitos que fogem ao ideal normativo do saber
Publicado 22/05/2025 às 18:49 - Atualizado 22/05/2025 às 19:06

“O inconsciente é o discurso do Outro.”
(LACAN, Écrits)
1. A ironia do episódio
Em um encontro recente de um grupo de estudos, discutíamos um momento central da Fenomenologia do Espírito de Hegel: a figura do senhor e do escravo. Falávamos sobre autonomia e as formas pelas quais a consciência busca afirmar-se na relação com o outro. No plano teórico, refletíamos sobre como, na luta por reconhecimento, um dos sujeitos tende a negar o outro, transformando-o em instrumento de sua autoafirmação — uma negação que, paradoxalmente, acaba minando a própria possibilidade de ser reconhecido.
Conduzindo a leitura a partir do §178, buscava compartilhar não apenas um conteúdo filosófico, mas também parte do trabalho que venho desenvolvendo em minha dissertação, que trata precisamente das contradições imanentes na dialética hegeliana. O ambiente até então era de escuta e troca respeitosa. Eu havia preparado a exposição com o cuidado de abrir espaço para comentários e interpretações divergentes, propondo um olhar que considerava a desigualdade entre as figuras do senhor e do escravo como algo estruturado não apenas em uma progressão histórica linear, mas também como uma assimetria sincrônica inscrita na própria lógica do reconhecimento.
O que deveria ser uma conversa filosófica sobre essas estruturas de poder e consciência se converteu, ironicamente, na encenação prática do que estávamos estudando. Ao apresentar meu argumento — que abordava a assimetria entre senhor e escravo a partir de uma leitura sincrônica da luta de vida e morte e suas consequências para a constituição da desigualdade entre as figuras — fui interpelado não apenas com discordância teórica, mas com um gesto de deslegitimação pessoal. Um colega, ao invés de discutir o conteúdo da ideia, questionou de modo agressivo a minha capacidade de formular argumentos, insinuando, conforme interpretei, que a minha neurodivergência comprometia a compreensão teórica.
Foi nesse momento que o participante A. interrompeu com uma fala cortante: “Você está errado!” A assertividade agressiva, leia-se, não foi apenas uma forma de discordância — foi uma tentativa explícita de desqualificação. O tom e o conteúdo da intervenção não se dirigiram ao argumento em si, mas insinuaram que minha leitura era a de um diletante, sugerindo que não tinha sequer legitimidade como ponto de partida para o debate.
A ironia é profunda: estávamos tratando de um dos núcleos centrais da filosofia hegeliana — a relação entre reconhecimento, dominação e autonomia — e o que se encenou foi justamente a tentativa de um sujeito se afirmar anulando o outro. Ao dizer “Você está errado!” sem mediação argumentativa, o colega A. não apenas recusou o diálogo, mas assumiu uma posição de autoridade que buscava encerrar a discussão por decreto, e não por elaboração conceitual. Mais do que discordar, ele tentou me rebaixar à condição de objeto: alguém a ser corrigido, silenciado, superado.
2. O paralelismo com a dialética do senhor e do escravo
A cena vivida durante aquele encontro reproduz, de forma quase didática, as estruturas da dialética hegeliana que estávamos justamente examinando. Na Fenomenologia do Espírito, a relação entre senhor e escravo nasce de uma luta por reconhecimento em que, ao final, um dos sujeitos — o que prefere preservar a vida em vez de arriscá-la — se submete, tornando-se servo. O senhor, por sua vez, acredita alcançar a afirmação plena de si ao dominar o outro, transformando-o em coisa, em instrumento. No entanto, esse domínio revela-se contraditório: o reconhecimento que o senhor busca vem de um sujeito que ele mesmo rebaixou à condição de não-consciência. É uma vitória vazia, baseada na negação do outro como sujeito.
Essa estrutura dialética ajuda a iluminar o que se passou naquele episódio. O colega A. que interveio de forma agressiva ao afirmar “Você está errado!” buscava, simbolicamente, ocupar o lugar de senhor do discurso. Ao invés de propor uma contraposição, ele tentou invalidar minha posição desde sua base, ou seja, como se eu não estivesse sequer em condições de ocupar o espaço da interlocução. Não se tratava de um dissenso produtivo, mas de um gesto de exclusão, cujo fundamento era menos conceitual e mais identitário: marcar a diferença (neste caso, minha neurodivergência) como um sinal de menoridade intelectual.
Contudo, se seguimos a lógica da dialética, podemos perceber que a tentativa de se afirmar como senhor exige, paradoxalmente, a negação do outro como sujeito reconhecedor. Isso expõe a fragilidade de sua posição. Ao tentar se colocar como autoridade que invalida o pensamento do outro, o colega A. acabou por demonstrar que sua autoafirmação dependia precisamente da minha existência como algo a ser subjugado — como um espelho a ser escurecido para que ele pudesse brilhar. Trata-se, na prática, de uma dependência invertida: ele precisa do “erro” do outro para consolidar sua “verdade”.
Mais ainda, essa tentativa de negação revela a permanência de uma lógica escravizante, no sentido hegeliano, no interior da vida acadêmica. Quando o reconhecimento mútuo é substituído por jogos de dominação intelectual, não há avanço no saber, apenas o giro estéril da hierarquia. Ao invés de uma crítica que se dirige ao argumento, o que se pratica é a objetificação do sujeito que argumenta — um gesto que desfigura por completo o horizonte universal que Hegel concebe como o destino do espírito.
Nesse contexto, a fala “Você está errado!” não é apenas uma divergência: ela é performativa. Ela tenta restabelecer uma diferença hierárquica no campo do pensamento, onde um fala e o outro apenas escuta (e se cala). Assim como o senhor hegeliano pretende que sua verdade seja reconhecida sem risco e sem trabalho, o colega A. quis impor uma autoridade sem elaborar uma argumentação — sua postura, ainda que mobilizada por um repertório conceitual, era menos filosófica do que teatral, encenando o poder como superioridade discursiva.
Mas, como nos mostra Hegel, essa encenação é instável. O verdadeiro saber emerge não da negação do outro, mas da mediação entre consciências que se reconhecem mutuamente como capazes de pensamento e elaboração. O episódio mostra, portanto, não apenas uma falha ética, mas uma falha reflexiva: a recusa do outro como sujeito destrói as condições mesmas do saber dialético.
3. A contradição do capacitismo acadêmico
O que se revelou naquele episódio não foi apenas uma atitude isolada de desrespeito ou vaidade intelectual, mas a expressão de uma estrutura mais ampla e persistente: o capacitismo no ambiente acadêmico. E aqui a análise hegeliana oferece um recurso fundamental para desvelar a contradição interna dessa prática de exclusão, pois ela mostra como todo gesto de dominação implica, paradoxalmente, uma forma de dependência e de empobrecimento do próprio sujeito que domina.
O colega A., ao tentar se impor como mais “capaz”, como autoridade legítima no debate, só pôde fazê-lo por meio da negação do outro — uma negação que se baseou na minha diferença como marcador de inferioridade. Mas essa tentativa de superioridade é contraditória desde o início: ela depende da redução do outro a um estado de não-reciprocidade. Ou seja, ele só pôde se afirmar deslegitimando previamente aquele de quem esperava obter reconhecimento — mas reconhecimento obtido por anulação não é verdadeiro reconhecimento. É vazio, unilateral, espelhado apenas em si mesmo.
Trata-se de um movimento típico do senhor na dialética hegeliana: ele deseja ser reconhecido como absoluto, mas destrói a condição de possibilidade desse reconhecimento ao tratar o outro como objeto. Da mesma forma, o capacitismo acadêmico busca consolidar um padrão de inteligência, razão e competência que se define pela exclusão de tudo o que não se conforma ao ideal neurotípico. Pessoas neurodivergentes, nesse contexto, uma vez que não possuem uma fala tão “lógica” ou linear, são tratadas como exceção, ruído, ou até ameaça à “pureza” do discurso filosófico — e, por isso, precisam ser corrigidas, invalidadas, ou simplesmente silenciadas.
Mas esse padrão é insustentável: ele se baseia na negação da diversidade real das formas de pensar, de elaborar conceitos e de produzir saber. Ao tentar garantir sua hegemonia, o capacitismo se revela uma forma de empobrecimento epistêmico, pois fecha o espaço acadêmico à pluralidade de experiências cognitivas e existenciais que podem enriquecer a reflexão. Ao tentar se purificar, ele se esteriliza.
Essa é a contradição central: o capacitismo busca afirmar um ideal de razão plena e universal, mas o faz por meio da exclusão de subjetividades que poderiam contribuir justamente para ampliar a compreensão da razão como um processo encarnado, situado e múltiplo. Ele quer parecer forte, mas revela sua fragilidade ao não tolerar a diferença. Quer parecer justo, mas se sustenta em critérios de validação que ignoram a historicidade e a contingência do saber.
No episódio vivido, essa contradição se atualizou com toda sua violência simbólica. O colega A. buscava reafirmar-se como sujeito epistêmico ao me reduzir a um traço clínico, como se a minha diferença cognitiva fosse uma espécie de deficiência argumentativa. Mas, como nos ensina Hegel, toda afirmação que exige a negação do outro como sujeito é instável, e cedo ou tarde colapsa. O que é preciso, então, é romper com essa lógica e afirmar um novo modo de convivência acadêmica — um modo que reconheça a alteridade não como obstáculo, mas como fonte.
4. Como o escravo tentou “matar o senhor”
A ironia dialética que atravessa o episódio vivido no grupo de estudos não se esgota na tentativa de negação da minha posição como interlocutor válido. Ela se intensifica quando percebemos que o gesto do colega, ao tentar me rebaixar, se constituiu também como uma tentativa de inversão de posições: ele, ao negar meu lugar de enunciação e autoridade no contexto do grupo — posição conquistada pelo acúmulo de estudo, pelo exercício de mediação do debate e pela produção efetiva de conhecimento (inclusive em forma de dissertação em andamento) —, pretendia ocupar esse mesmo lugar discursivo. Trata-se, nesse sentido, de um movimento que mimetiza a lógica de um “escravo” que tenta “matar o senhor”.
No entanto, essa tentativa se dá, curiosamente, por meio de um gesto que não rompe com a estrutura dialética de dominação, mas apenas inverte seus polos. Em vez de buscar o reconhecimento mútuo, ele opta pela negação direta — “Você está errado!” — como modo de apagar a autonomia do outro e, assim, afirmar a própria. Mas, como mostra Hegel, o reconhecimento que se obtém pela via da negação não é verdadeiro. Ele é precário, porque sustentado na exclusão. Aquele que pretende “matar o senhor” para assumir seu lugar, sem modificar a estrutura da relação, apenas perpetua a lógica de dependência: segue sendo escravo, agora de um desejo de validação que precisa eliminar o outro para existir.
Em vez de elaborar um argumento que me confrontasse no plano das ideias, o colega A. preferiu uma negação performativa: tentou neutralizar meu pensamento antes mesmo que ele pudesse ser discutido. Isso revela algo importante — não era apenas o conteúdo da minha fala que o incomodava, mas a própria minha presença como sujeito de pensamento. O problema, então, não era filosófico, era político. Ele não discordava do que eu dizia; ele rejeitava que fosse eu quem estivesse dizendo.
Ao agir assim, ele encenou um gesto de negação radical, mas que, no fundo, revela uma profunda dependência: seu impulso de superioridade estava fundado na tentativa de me reduzir à condição de objeto — o que, paradoxalmente, mostra que sua própria posição precisava da minha como contraponto a ser negado. Sua afirmação dependia da minha exclusão, mas isso só torna evidente o quanto ele estava, estruturalmente, preso a mim. Como o senhor hegeliano, que precisa do escravo para se ver reconhecido — e, ao mesmo tempo, o nega como sujeito —, o colega A. ficou aprisionado à sua própria contradição.
Mais do que isso, ao tentar me apagar como “senhor”, ele não se tornou senhor. Ao contrário: reproduziu a lógica da servidão, pois se mostrou incapaz de sair da negação como princípio. Não produziu sentido, não mediou conflito, não avançou na construção do saber. Apenas reproduziu um gesto de exclusão já muito conhecido por pessoas neurodivergentes na vida acadêmica. E, nesse gesto, revelou a si mesmo como alguém que ainda não alcançou a autonomia do pensamento, que ainda não atravessou o trabalho necessário para se tornar verdadeiramente sujeito.
Assim, o episódio deixa claro: o que se tentou apagar não foi apenas um argumento, mas uma subjetividade inteira — uma trajetória, um corpo, uma experiência de pensamento. Mas também mostra que, ao tentar “matar o senhor”, o colega A. não conquistou a liberdade. Apenas reiterou o ciclo da servidão.
A ironia dialética que atravessou o episódio no grupo de estudos não se esgota na tentativa de me deslegitimar enquanto condutor da discussão. Ela se adensa quando lemos a situação à luz da análise de Jean Hyppolite sobre a dialética do senhor e do escravo. Para Hyppolite (2003, p. 395), o que está em jogo nessa relação não é apenas uma oposição entre dois indivíduos, mas o processo histórico e formativo da subjetividade. A luta de vida e morte entre as consciências é, na verdade, uma batalha pela constituição do sujeito, e esse sujeito só emerge no atravessamento da negatividade — não como dado, mas como produção histórica e existencial.
No contexto vivido, o colega A. que me interpelou agressivamente — com a afirmação “Você está errado!” — buscava simbolicamente ocupar o lugar de senhor do discurso. Ao tentar rebaixar minha posição, ele não apenas rejeitava um argumento; ele se insurgia contra a legitimidade da minha própria subjetividade como produtor de saber. E aqui o paralelismo com Hegel, via Hyppolite, torna-se evidente: o sujeito que busca se afirmar anulando o outro, em vez de reconhecer nele um igual, age ainda dentro da lógica do “escravo” — aquele que não é capaz de sustentar a negatividade e por isso tenta eliminá-la.
Como Hyppolite (2003, p. 298) analisa, quando o senhor acredita dominar o outro, mas torna-se escravo do seu próprio individualismo, ou seja, ignora o trabalho que transforma o mundo na socialidade e forma verdadeiramente a consciência de si. O senhor permanece abstrato, vazio de mediação; o escravo, ao enfrentar o negativo — o medo, a obediência, o trabalho —, produz-se como sujeito real. No episódio, ao evitar a mediação argumentativa, ao não elaborar uma crítica conceitual e recorrer a uma exclusão simbólica, o colega A. mostrou-se prisioneiro da abstração do senhor — ou melhor, da tentativa de parecer senhor sem ter passado pelo processo formativo da consciência.
Ele pretendia eliminar a diferença — minha diferença — como obstáculo. Mas, como ensina Hyppolite (2003, pp. 307-308), verdadeira individuação não reside nem na pura submissão nem na rebeldia inconsequente, mas em uma síntese que supera a oposição entre o sujeito e o mundo. Portanto, a diferença não é um ruído no processo dialético, é seu próprio motor. Toda subjetividade só se constitui na relação com a alteridade. Ao tentar suprimir essa alteridade, o colega A. não a anulou, apenas bloqueou sua própria formação como sujeito pensante. Sua ação não foi um gesto de força, mas uma demonstração de dependência estrutural: ele precisava me reduzir à condição de objeto para parecer sujeito — e, com isso, reconduziu a cena à lógica do reconhecimento assimétrico, onde não há verdade do espírito, apenas encenação de poder.
Em Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hegel, Hyppolite insiste que o movimento do espírito não é jamais de anulação pura, mas de superação (Aufhebung) — uma síntese que conserva a diferença ao mesmo tempo que a eleva. Na prática acadêmica, isso se traduz no reconhecimento do outro como portador de uma experiência singular que precisa ser ouvida e incorporada à construção coletiva do saber. Quando isso é recusado, quando a negatividade do outro é lida como ameaça e não como possibilidade, o espírito é impedido de se realizar.
A tentativa de me apagar, portanto, não foi apenas simbólica — foi epistemológica. Foi a tentativa de interromper um movimento de pensamento que não cabia no modelo normativo do saber. Mas, como a leitura de Hyppolite nos ajuda a ver, essa tentativa fracassa porque só há saber verdadeiro quando há enfrentamento da alteridade. O colega A. que tentou “matar o senhor” não se tornou senhor. Continuou cativo de um desejo de afirmação que depende da exclusão — e, portanto, permaneceu fora do campo do reconhecimento mútuo, onde o saber efetivamente se forma.
5. A objetificação no espaço acadêmico
O episódio vivido, embora aparentemente pontual, revela uma lógica de funcionamento mais ampla e profundamente arraigada no espaço acadêmico: a da objetificação estrutural de sujeitos que fogem ao ideal normativo do saber. Quando o colega A. buscou reduzir minha presença intelectual à minha neurodivergência, ele não apenas exerceu um ataque pessoal — ele reiterou um dispositivo de exclusão epistemológica que marca, há séculos, o funcionamento das instituições do saber. Esse dispositivo se chama capacitismo.
O capacitismo não é apenas uma forma de preconceito individual contra pessoas com deficiência ou neurodivergência. Ele é, antes de tudo, um sistema de valores que define quem é reconhecido como portador legítimo de razão, como sujeito de enunciação, e quem deve ser “tolerado”, “reeducado” ou silenciado. Trata-se de uma racionalidade excludente que vincula capacidade cognitiva a um ideal de neutralidade, objetividade e desempenho intelectual que exclui formas de pensar marcadas pela diferença — seja ela sensorial, afetiva, expressiva ou comportamental.
Ao tentar me invalidar com base em minha neurodivergência, o colega A. agiu como operador dessa lógica: em vez de se engajar com a argumentação proposta, ele tentou me desqualificar como sujeito pensante. Não é apenas um desacordo; é uma negação da legitimidade da minha voz. E como mostra Axel Honneth, na esteira de Hegel, a ausência de reconhecimento não é uma falha superficial na convivência social — é uma violência ontológica. O sujeito que não é reconhecido é, de fato, impedido de se constituir plenamente enquanto tal. O que está em jogo é o próprio acesso à dignidade.
Honneth (2003, p. 30) observa que a luta por reconhecimento é uma luta por visibilidade, por validação da identidade, por pertencimento aos espaços de produção de sentido. Quando o reconhecimento é negado — sobretudo em espaços como a universidade —, ocorre uma forma de invisibilização ativa. O sujeito não é apenas ignorado: ele é sistematicamente lido como ruído, como exceção, como falha em relação a um suposto padrão. Essa leitura é um tipo de reificação, termo que Honneth recupera da tradição crítica: transformar alguém em coisa, em função, em marcador clínico — e não em sujeito.
A academia, marcada por um ideal iluminista de racionalidade abstrata e autoconsistente, resiste historicamente ao reconhecimento da diversidade cognitiva como legítima forma de saber. O capacitismo se esconde sob exigências aparentemente neutras — clareza, objetividade, linearidade — que não reconhecem que o pensamento pode se dar em outros ritmos, por outros caminhos, com outras expressividades. A própria ideia de “conduzir bem um grupo de estudos”, por exemplo, costuma estar associada a uma performance comunicativa muito específica, que exclui modos mais sensíveis, não lineares, ou intensamente afetivos de articulação.
Assim, o gesto do colega A. foi apenas a expressão de uma norma tácita: de que há um modelo “certo” de intelectualidade, e que os que escapam a esse modelo devem ser corrigidos ou removidos do lugar de fala. Isso, para além de ser injusto, é epistemicamente empobrecedor. A universidade, ao se fechar à diferença, torna-se menos capaz de pensar. E mais: ao negar o reconhecimento, ela impede que o saber seja um espaço verdadeiramente comum.
A objetificação que sofri naquele momento é, portanto, um sintoma. E, como todo sintoma, aponta para uma patologia mais funda: a dificuldade da academia em lidar com a alteridade que não pode ser facilmente integrada sem a desconstrução de seus próprios parâmetros de validação. Como o escravo da dialética hegeliana que só se reconhece ao trabalhar o mundo e, nesse processo, transforma a si mesmo, pessoas neurodivergentes não são “entraves” ao pensamento. São seus motores ocultos. Aqueles que, justamente por viverem à margem dos formatos hegemônicos, trazem perguntas novas, ritmos próprios, caminhos alternativos para o saber.
6. Conclusão: Superar o ciclo do senhor e do escravo
A dialética do senhor e do escravo, quando aplicada à realidade acadêmica, revela-se mais do que uma estrutura de dominação entre sujeitos; ela expõe a luta por reconhecimento dentro de um sistema que, muitas vezes, permanece cativo de seus próprios padrões de exclusão. O episódio vivido no grupo de estudos não é um caso isolado, mas um reflexo da dificuldade estrutural da academia em integrar as diferenças cognitivas como formas legítimas de pensamento.
A verdadeira superação dessa dinâmica não está na reafirmação da superioridade de um sobre o outro, mas na criação de um espaço de reconhecimento mútuo. Como a dialética de Hegel nos ensina, a verdadeira emancipação só se dá quando o sujeito se reconhece na alteridade do outro, e vice-versa. É a partir desse reconhecimento, e não da subordinação, que o espírito se realiza.
Em vez de reduzir a diferença a um obstáculo a ser superado, a academia precisa aprender a acolher a diversidade como um potencial para enriquecer o debate. Para aqueles que, como eu, carregam a marca da neurodivergência, o saber não é um território a ser conquistado mediante a correção de falhas. Ao contrário, somos sujeitos de pensamento que, por meio de nossas experiências distintas, trazemos contribuições valiosas para o campo intelectual.
Assim, ao invés de perpetuar a lógica de exclusão e objetificação, é preciso avançar para uma academia onde a diversidade seja celebrada e onde todos os corpos e mentes possam encontrar seu lugar legítimo no processo de produção do saber. A verdadeira liberdade acadêmica virá quando abandonarmos a ideia de um sujeito universal, homogêneo e racional, em favor de uma multiplicidade de vozes e perspectivas que, juntas, constroem um saber mais profundo e mais humano.
Referências:
HEGEL, G. Fenomenologia do Espírito. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014.
HYPPOLITE, J. Gênese e estruturada Fenomenologia do Espírito de Hegel. 2. Ed. São Paulo: Discurso Editorial, 2003.
HONNETH, A. A luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 2. Ed. São Paulo: Ed. 34, 2003.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.
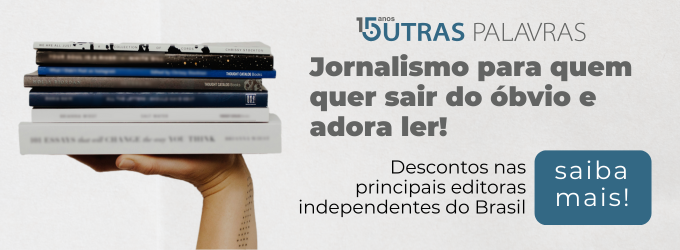

Assim como outros que comentaram aqui, também achei o texto cansativo em alguns momentos e, até certo ponto, repetitivo. Por outro lado, percebi verdadeira eloquência quanto aos argumentos colocados. Como pessoa autista, também enfrentei muitas dificuldades na universidade, embora nunca com um enfrentamento tão explícito. Apesar de concordar com o comentário que trata do risco de generalização, parece-me inegável que a sua análise incomodou porque é certeira. Parabéns pelo texto, eu gostaria de ler mais sobre capacitismo a partir da sua perspectiva.
primeiramente, fora hegel: esse negócio de filosofia continental tem que acabar [vide mais em “post-modernism disrobed”, que o dawkins escreveu pra nature em 1998, mas que também se aplica retroativamente]
segundamente, o texto é enfadonho, prolixo, redundante, e de modo mais geral, simplesmente mal escrito; o capacitismo na academia e diversos mais ambientes de educação e trabalho é real (em geral, mas vide mais abaixo), mas a situação/exemplo selecionada não parece especialmente ofensiva: se alguém chega e diz alguma coisa clara e obviamente errada, não há nada de estranho em responder simplesmente “você está errado”, virar as costas e ir embora, e deixar que a primeira pessoa se vire pra entender pq exatamente ela está, ainda que seja mais gentil ajudá-la, claro
por último, parece razoavelmente claro que filosofia (e matemática também) atraia(m) gente neurodivergente, que acabam sendo *sobrerrepresentadas* na comunidade geral
Por essa tentativa prolixa de elaborar a postura minada, desconfio que o colega A estaca certo.
Concordo com a análise desse caso, mas, como sempre, condeno a generalização!
Não é “a Academia”!!! Não há dados para dizer isso. O autor deveria esclarecer isso, ou sua análise se descaracteriza.
Meu medo é que isso ainda ajude o desmonte da Universidade, que já está virando pária. Pode-se apontar uma multiplicidade de contraexemplos. Os autores citados merecem o cuidado de não generalizar. Por exemplo: “O episódio vivido no grupo de estudos não é um caso isolado, mas um reflexo da dificuldade estrutural da academia em integrar as diferenças cognitivas como formas legítimas de pensamento.”. Por que “eflexo da dificuldade estrutural da academia” se o autor não a conhece por inteiro?