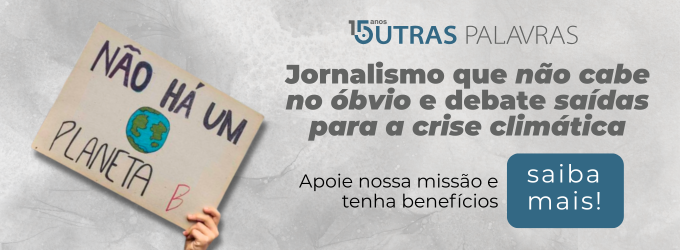Por que ler Aimé Césaire hoje?
Obra clássica do autor martinicano, ideólogo do conceito de negritude, completa 75 anos. Expôs o apagamento de saberes não ocidentais e o modus operandi do terror colonial. Sua voz ainda ecoa nas lutas antirracistas e nos estudos decoloniais
Publicado 29/07/2025 às 20:23 - Atualizado 29/07/2025 às 20:26

Por Fernando de la Cuadra, na Jacobin América Latina | Tradução: Rôney Rodrigues
“Uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento suscita é uma civilização decadente. Uma civilização que escolhe fechar os olhos diante de seus problemas mais cruciais é uma civilização ferida. Uma civilização que trai seus próprios princípios é uma civilização moribunda” — Aimé Césaire, Discurso sobre o colonialismo.
Uma vida de aprendizados
Aimé Fernand David Césaire foi um intelectual, político e poeta nascido em 26 de junho de 1913 em Basse-Pointe, ao norte da ilha da Martinica, então uma colônia ultramarina da França. Era o segundo dos sete filhos de Marie Félicité Éléonore Hermine e Fernand Elphègue Césaire. Seu pai era funcionário público e sua mãe, costureira. A vida familiar era marcada por restrições e dificuldades econômicas; no entanto, não pouparam esforços para proporcionar uma boa educação aos filhos.
Aimé iniciou seus estudos em 1919 na escola primária de Basse-Pointe e, cinco anos depois, conquistou uma bolsa para estudar no Lycée Victor Schoelcher na capital, Fort-de-France. Sua família decidiu mudar-se com ele. No Liceu, Aimé conheceria quem seria seu amigo por toda a vida: Léon Damas, natural da Guiana Francesa. Em 1931, aos 18 anos, Aimé Césaire embarcou em um navio rumo à capital francesa, pois obtivera uma bolsa para estudar no prestigioso e tradicional Lycée Louis-le-Grand, instituição que formou os maiores intelectuais franceses, desde os ideólogos do Iluminismo Voltaire e Diderot até o Marquês de Sade, Victor Hugo, Baudelaire e Sartre, entre outros.
Nesse período, conheceu o senegalês Léopold Senghor, que também fora beneficiado com uma bolsa do governo francês[1]. Junto a Léon Damas, formaram um trio de grandes amigos e passaram a frequentar o ambiente literário de pessoas vindas das colônias francesas, especialmente a casa das irmãs Nardal[2], uma espécie de centro gravitacional da intelectualidade negra em Paris. Apesar de não frequentar muito esse salão literário[3], foi a partir desse espaço que Césaire e seus amigos entraram em contato com o movimento Harlem Renaissance, sediado em Nova York, e cuja interação gerou as primeiras ideias sobre a concepção da “negritude” e a formação de um movimento com o mesmo nome.
O encontro do jovem Aimé com esse grupo de poetas, escritores e ativistas negros foi transcendental, uma revelação, pois ele percebeu imediatamente neles uma força interior e um orgulho de pertencimento contagiante. Anos depois, Césaire relataria que foram eles os primeiros a afirmar sua identidade, em um momento em que, na França, o “assimilacionismo cultural” estava na boca de todos. O martiniquenho percebeu desde cedo que “assimilação” era sinônimo de alienação. Em fevereiro de 1935, Césaire publicou um artigo intitulado “L´étudiant noir” na revista L´étudiant martiniquais, órgão da Associação de Estudantes Martinicanos. O profundo impacto de sua coluna fez com que a revista — que continuaria vinculada à Associação — fosse renomeada com o título do artigo e que o jovem Césaire assumisse o cargo de editor.
No primeiro número de L´étudiant noir, em março de 1935, Césaire escreve novamente, agora em seu novo papel de editor. Neste novo artigo, ele argumentava que servidão e assimilação se assemelhavam, pois, no fim, ambas representavam duas formas de passividade. E, ao contrário, a verdadeira emancipação implicava ação e criação:
Os jovens negros de hoje não querem nem servidão nem assimilação, querem emancipação, querem agir e criar. Querem ter seus poetas, seus romancistas, que lhes falem a ela, a ela suas desgraças e a ela suas grandezas: querem contribuir para a vida universal, para a humanização da humanidade, e para isso, mais uma vez, é preciso conservar-se ou encontrar-se. Trata-se da primazia de si mesmo.[4]
Com essas premissas, Césaire buscará romper com os paradigmas da civilização ocidental para voltar-se às forças profundas da própria humanidade de sua condição. Como dizia a seu amigo Léopold Senghor em seus intensos debates de ideias, era preciso cavar mais fundo para encontrar dentro de si, além de todas as camadas da civilização, o “negro fundamental” que habitava neles: “Negro sou e negro sempre serei”. Pois, para o jovem Aimé, encontrar-se consigo mesmo era o preâmbulo essencial para estabelecer qualquer diálogo com a cultura dominante, com a cultura da metrópole, com a cultura europeia.
Dois meses depois, na terceira edição da revista, em maio de 1935, Césaire publica um artigo intitulado “Nègreries: Conscience raciale et révolution sociale” no qual cunha o conceito de “negritude” com o propósito de “plantar nossa negritude como uma árvore bela, até que ela dê seus frutos mais autênticos”. Anos depois, Césaire definiria o conceito em poucas palavras como uma “busca dramática pela identidade negra”.
Apesar de sua tiragem reduzida, a revista consolidou-se como o principal veículo de expressão não apenas das ideias de jovens martiniquenhos – como Paulette Nardal e Gilbert Gratiant – mas também de estudantes de outras colônias francesas, como Guadalupe, Guiana Francesa, Argélia, Marrocos e Madagascar. Nesse ínterim, Aimé foi aprovado para ingressar na prestigiosa École Normale Supérieure.
Em 1936, Léopold Senghor apresentou-lhe Suzanne Roussi, martiniquenha, que também estudava na École Normale Supérieure e já colaborava ativamente com a revista. Em 1937, se casariam e seriam companheiros inseparáveis até sua separação em 1963. Alguns anos após o casamento, em 1939, Aimé apresentou sua tese na École, intitulada O papel do Sul na literatura negra dos Estados Unidos. Com a tese defendida e dispensado do Exército por problemas de saúde, decidiu retornar à Martinica com Suzanne e seu primeiro filho, Jacques. Em outubro, assumiu o cargo de professor de literatura no Lycée Schoelcher, onde ele próprio se formara anos antes.
Já em 1935, Césaire começara a escrever seus primeiros poemas, que finalmente seriam publicados em 1939 sob o título Cahier d’un retour au pays natal, cuja primeira versão traz o selo da revista francesa de vanguarda Volontés. Em um de seus poemas, o autor expressa os sentimentos mais profundos e contraditórios que o ligavam à sua terra natal: “As Antilhas que têm fome, as Antilhas cobertas de varíola, as Antilhas dinamitadas pelo álcool, estagnadas na lama desta baía, na poeira desta cidade sinistramente encalhadas”[5].
Em plena Segunda Guerra Mundial, o casal Césaire, junto a outros escritores e intelectuais antilhanos, lança o primeiro número da revista Tropiques, que, por uma feliz coincidência, é lida por André Breton durante sua estadia obrigatória na ilha. A partir desse momento, o pai do surrealismo se tornaria o maior divulgador da obra de Césaire, escrevendo comentários elogiosos sobre sua pessoa e obra: “É o maior monumento lírico de nosso tempo” ou sua poesia é “bela como o oxigênio nascente”[6].
Entre maio e dezembro de 1944, Aimé e Suzanne são convidados pelo escritor Pierre Maville a passar uma temporada no Haiti. Essa experiência deixará marcas profundas na alma e no pensamento de Césaire, que ele retratará posteriormente em uma peça teatral, A tragédia do rei Christophe[7], e em uma biografia do líder independentista haitiano Toussaint Louverture. Nesse ensaio, Césaire parte do pressuposto de que, para entender a gesta de Toussaint, é necessário partir da Revolução Francesa, mas não do olhar dos europeus, e sim da perspectiva dos negros:
Voltei às raízes e desenvolvi uma ideia muito diferente daquela que líamos, ainda que elaborada por historiadores de fato. Eu também tenho uma especialidade: sou Negro. Eles têm sangue branco, eu tenho sangue negro. E nós temos um ponto de vista muito diferente, eu tenho, portanto, outra concepção da Revolução Francesa, outra concepção de Toussaint Louverture e outra concepção do Haiti. Podem ser boas ou más, mas são as minhas.[8]
A independência do Haiti foi acompanhada por um processo de exclusão de sua população negra e pela necessidade de garantir que a antiga população escrava participasse da luta anticolonial, prestasse serviço militar e fornecesse mão de obra para o sistema de plantation, o que militarizou a sociedade haitiana e forjou – na concepção de Carolyn Fick – uma espécie de “cidadania de plantation”[9]. Ou seja, embora a escravidão no Haiti tenha sido oficialmente abolida, as aspirações da população trabalhadora por acesso à terra e liberdade foram permanentemente reprimidas.
Assim, as estruturas do Estado recém-emancipado foram reforçadas e militarizadas, enquanto a maioria dos habitantes era excluída e marginalizada dos processos de construção da nação. Se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que constavam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão eram aplicados na França, o mesmo não ocorria nas colônias, que mantiveram restrições sobre as populações dos territórios dominados. O igualitarismo e o universalismo pregados pelos líderes da Revolução Francesa ficaram circunscritos àquele país a partir do controle conservador do Diretório.
Por isso mesmo, Toussaint Louverture teve que se rebelar junto com o povo haitiano contra essas novas diretrizes impostas pela metrópole. Posteriormente, com a ascensão de Napoleão Bonaparte e a promulgação da Nova Constituição Francesa estabelecida após o Golpe de Estado de 9 de novembro de 1799 (18 Brumário), estipulou-se que as colônias passariam a ser governadas por “leis especiais” que levariam em conta as particularidades de cada uma; em outras palavras, os cidadãos da parte ocidental da Ilha de São Domingos não seriam mais protegidos pelas mesmas leis que regiam os cidadãos na França. Dessa forma, ao transformar em “leis especiais” a universalidade da cidadania francesa que deveria existir também para as populações de suas colônias, o primeiro passo para a restauração da escravidão sob o regime de plantation havia sido dado[10]. O resto da história nós conhecemos: a decomposição permanente de um país empobrecido e dilacerado pela violência e pelo despojo[11].
O Partido Comunista Francês
Com a liberação da França e o fim da guerra em maio de 1945, novos ares sopravam na Martinica. Césaire, sua esposa e seus companheiros da recém-criada revista Tropiques começaram a desenvolver uma atividade política mais intensa. Aimé já era conhecido na capital Fort-de-France por sua veemente posição contra o racismo, o colonialismo e o fascismo, razão pela qual fora indicado pela seção martiniquenha do Partido Comunista Francês (PCF) como candidato a prefeito. Eleito para o cargo, foi depois lançado como deputado representante da ilha na Assembleia Francesa com apoio comunista. Césaire venceria essa e todas as eleições subsequentes até deixar voluntariamente o mandato em 1993.
Em dezembro de 1945, Césaire filiou-se ao Partido Comunista Francês. Sua militância no PCF sempre lhe foi incômoda. Embora reconhecesse no comunismo um ideal de progresso, sua atuação no partido lhe parecia estranha e nunca se sentiu plenamente satisfeito com a decisão de ingressar. Posteriormente afirmaria: “Havia um eles e um nós. Era direito deles, eles eram os franceses, mas eu me sentia negro, e eles não eram capazes de me compreender plenamente. Foi um grave erro de nossa parte nos considerarmos membros do Partido Comunista Francês”[12].
Como parlamentar em 1946, foi o principal articulador da lei que transformou as colônias ultramarinas francesas (Martinica, Guadalupe, Guiana e Reunião) em departamentos com relativa autonomia. Entretanto, vários aliados em sua terra natal criticaram-no asperamente por considerar que a lei desviava o foco da independência total das colônias.
A pedido, escreveu em 1948 o artigo “L’Impossible Contact” para a revista Chemins du monde, refletindo sobre o papel da França nas colônias. Ali surge com extraordinária clareza um prenúncio do que desenvolveria no Discurso sobre o Colonialismo [1950] (2006a): “Não, a colonização não traz civilização ao povo oprimido. Ao contrário, desumaniza o homem, tanto o colonizador quanto o colonizado”. O livro seria publicado em 1950 por uma pequena editora ligada ao PCF.
Sem abandonar a literatura, no pós-guerra Césaire dedicou-se intensamente à política e ao ativismo anticolonial, participando de incontáveis eventos e manifestações contra o racismo e o colonialismo, mas principalmente travando no parlamento francês árdua batalha contra a direita que queria manter as estruturas de dominação e exploração coloniais.
Contrariando acusações maliciosas sobre sua suposta aceitação de um colonialismo “de rosto gentil”, Césaire passou a divergir da posição do PCF sobre autonomia das Antilhas e ex-colônias em geral. Essas divergências — somadas a duras críticas aos resquícios stalinistas no partido — tornaram-se irreconciliáveis. Pouco depois, Césaire decidiu renunciar à militância no partido. A decisão foi comunicada em uma carta digirida ao secretário-geral Maurice Thorez, publicada na revista Présence Africaine[13], no fim de outubro de 1956. Ali o intelectual antilhano mostrava uma sensibilidade especial diante do apoio que o partido deu ao governo de Guy Mollet para manter o controle e aprofundar as condições de opressão sobre o povo argelino:
Basta dizer que estamos convencidos de que nossas questões ou, se preferirem, a questão colonial, não podem ser tratadas como uma parte de um conjunto mais amplo, como uma parte sobre a qual outros possam transigir ou simplesmente ignorar. (…) De todo modo, é inquestionável que nossa luta, a luta dos povos colonizados contra o colonialismo, a luta dos povos racializados contra o racismo, é muito mais complexa; trata-se, a meu ver, de uma natureza muito distinta da luta do operário francês contra o capitalismo francês, e de forma alguma poderia ser considerada como uma parte, um fragmento dessa luta. (…) Creio ter dito o suficiente para que se compreenda que não estou renunciando ao marxismo nem ao comunismo; o que reprovo é o uso que alguns fizeram do marxismo e do comunismo. Quero que o marxismo e o comunismo estejam a serviço dos povos negros e não que os povos negros estejam a serviço do marxismo e do comunismo. Que a doutrina e o movimento existam para os seres humanos, e não os seres humanos para a doutrina ou para o movimento.
Muitos anos depois, em seu estudo sobre o marxismo ocidental[15], Domenico Losurdo questionaria a posição assumida por importantes pensadores dessa corrente do pensamento marxista — como Perry Anderson, Max Horkheimer, Michel Foucault ou Antonio Negri, entre outros. Losurdo apontava, com evidência relevante, o tom desdenhoso com que muitos autores vinculados à tradição do marxismo ocidental europeu trataram, ao longo de sua produção intelectual e política, a questão colonial, que alguns deles chegaram a classificar como uma “desvio” do marxismo oriental, tendo em mente sobretudo os casos da União Soviética e da China. Em 1976, por exemplo, o historiador inglês Perry Anderson propunha que o chamado marxismo ocidental se distanciasse de forma clara de seu homônimo oriental, em razão dos desvios teóricos e práticos a que este último teria submetido o pensamento de Marx.
O marxismo ocidental foi, assim, perdendo seu vínculo com as intensas e dramáticas lutas desencadeadas nos países do mundo “não ocidental” a partir dos processos de libertação anticolonial que, ao longo dessas décadas, atravessaram numerosos países da Ásia, África e América Latina. Esse marxismo, segundo Losurdo, virou as costas para tais projetos de independência e para as expressões de um marxismo que incorporasse outras temáticas além daquelas pertencentes ao repertório teórico do marxismo ocidental (como o desenvolvimento das forças produtivas, o avanço industrial, as condições objetivas de transformação e o papel central do proletariado). Nessa estrutura conceitual, as questões coloniais e de emancipação dos povos subjugados pelo poder das nações imperiais perderam relevância. Ao contrário do marxismo oriental, o ocidental rompeu seu vínculo com os processos revolucionários anticolonialistas em escala global. Como observa Losurdo:
O desprezo pela questão colonial é uma forma direta de chauvinismo pró-ocidental. Mas, a partir do horror diante do massacre, oficialmente deflagrado por ambos os lados em nome da defesa da pátria, difundiu-se, em vários setores do marxismo ocidental, um internacionalismo exaltado e abstrato, inclinado a considerar superada a questão nacional e, consequentemente, a deslegitimar os movimentos de libertação nacional dos povos colonizados.[16]
Como consequência de sua renúncia ao Partido Comunista Francês (PCF), em março de 1958, Césaire fundou o Partido Progressista da Martinica (PPM), sob o lema: “Uma Martinica autônoma em uma França descentralizada”. Em poucos anos, o PPM conseguiu se consolidar como uma das principais referências políticas do país. Césaire foi eleito deputado em diversas ocasiões, exercendo seu mandato até 1993, ano em que decidiu não disputar um novo mandato na Assembleia Nacional Francesa, justificando sua decisão com as seguintes palavras: “Sou contra todas as formas de aristocracia, inclusive a da idade, a gerontocracia.”
Militância e atividade política na Martinica
Na década de 1960, Césaire manteve uma intensa atividade política e militante em favor da causa antirracista e anticolonial, participando de encontros e difundindo sua concepção daquilo que denominaria como Negritude. No Primeiro Festival Mundial de Arte Negra, realizado em 1966 em Dakar, Senegal, proferiu um discurso no qual expunha que a negritude não buscava ser apenas uma espécie de “humanismo negro”, mas aspirava a se tornar uma contribuição para um humanismo universal: “A literatura da negritude é uma literatura de combate, uma literatura de choque, essa é sua honra; uma máquina de guerra contra o colonialismo, contra o racismo, essa é sua razão de existir”.[17]
Em 1987, Aimé foi homenageado na Primeira Conferência Hemisférica dos Povos Negros da Diáspora, realizada na Universidade da Flórida. Na ocasião, leu seu Discurso sobre a Negritude, no qual aprofundava sua noção de negritude e situava suas ideias como poeta e intelectual antilhano. Em sua apresentação, expunha com clareza solar essa concepção:
Evidentemente, para além do dado biológico imediato, a negritude remete a algo mais profundo — mais exatamente, a um conjunto de experiências vividas que terminaram por definir e caracterizar uma das formas do humano tal como a história lhe reserva: trata-se de uma das formas históricas da condição imposta ao homem (…). A negritude não é uma filosofia, a negritude não é uma metafísica, a negritude não é um conceito pretensioso do universo, é uma maneira de viver a história: a história de uma comunidade cuja experiência se manifesta, a bem da verdade, de forma singular com suas deportações, suas transferências forçadas de um continente a outro, as lembranças de crenças distantes, os restos de culturas assassinadas. Em suma, a negritude pode ser definida, antes de tudo, como tomada de consciência da diferença, como memória, como fidelidade e como solidariedade.[18]
Embora o conceito de negritude tenha sido questionado em seu potencial teórico e prático por derivar, em certos casos, para uma espécie de racismo (como o próprio Césaire mais tarde reconheceria), sua importância histórica reside em seu caráter contestador das categorias eurocêntricas de conceber a cultura e a realidade. Sua força deriva da resistência a um olhar hegemônico e opressor, vivido especialmente por jovens migrantes que se sentiam cidadãos de segunda classe nas metrópoles coloniais. Identidade, resistência e emancipação estão na origem do conceito. A negritude é, em síntese, uma expressão de rebeldia contra a forma como a cultura foi historicamente constituída — com seus preconceitos e hierarquias. Nas palavras de Césaire: “Dito de outro modo, a negritude foi uma revolta contra o que eu chamaria de reducionismo europeu”.[19]
O restante da vida de Aimé Césaire transcorreu em sua terra natal, sempre ativo e militante, sendo convidado em diversas ocasiões a participar de encontros de intelectuais, eventos políticos e congressos literários, nos quais os temas centrais eram a luta anticolonial, o antirracismo e a plena soberania dos territórios colonizados. Ao mesmo tempo, manteve seu vínculo com a literatura e continuou escrevendo poesia e ensaios. Em 2001, afastou-se definitivamente da vida política, deixando o cargo de prefeito de Fort-de-France, que passaria a ocupar apenas de forma simbólica, como prefeito honorário.
Quase ao final de sua vida, em 2006, Aimé Césaire foi relator do processo que tratou da departamentalização das quatro colônias ultramarinas existentes naquela região do Caribe (Martinica, Guadalupe, Reunião e Guiana). Novamente foi acusado por seus detratores de ter favorecido a assimilação e a dependência. Em resposta, um Aimé Césaire — mais ponderado e contido em suas paixões — declarou em uma entrevista:
Qual era a situação antes? Uma miséria total: a ruína da indústria açucareira, a desertificação do campo, populações que se precipitavam para Fort-de-France e se aglomeravam em invasões, instalando-se como podiam em qualquer pedaço de terra. Os prefeitos só pensavam em mandar a polícia. Nós, ao contrário, escolhemos nos interessar por essas pessoas. Na condição de intelectual, fui escolhido por uma população que tinha ideais, necessidades e sofrimentos. O povo martinicano não se preocupava com ideologias — o que ele queria era transformação social, o fim da miséria (…) Eu era o relator da comissão e tinha em mente o seguinte: meu povo está ali, está gritando, precisa de paz, de alimento, de roupas, etc. E eu vou ficar filosofando? Claro que não.
Na manhã de 17 de abril, aos 94 anos de idade, Aimé Césaire faleceu em Fort-de-France, em decorrência de problemas cardíacos. Sua obra poética, seus ensaios e sua dramaturgia são leituras obrigatórias em sua terra natal; na França, seu Discurso sobre o Colonialismo está presente em praticamente todas as bibliotecas escolares e integra a lista de leituras recomendadas para os alunos do ensino médio.
Fascismo e colonialismo
Em 7 de junho de 1950, foi publicado pela Éditions Réclame o contundente ensaio de Aimé Césaire intitulado Discurso sobre o colonialismo. Nele, Césaire parte da constatação de que a chamada civilização europeia ou ocidental foi incapaz de resolver os dois principais problemas que sua existência engendrou: o proletariado e a questão colonial. Em seguida, ao fazer um diagnóstico incisivo do que considera os escombros de uma Europa dilacerada e desmoralizada após a Segunda Guerra Mundial, afirma que “a Europa é moral e espiritualmente indefensável”. Com o colapso das bases do colonialismo, os povos libertos por meio de suas lutas de independência começam a se desfazer não apenas das amarras políticas, mas também da marca moral imposta pelo invasor — aquela que afirma que colonizar é civilizar:
E hoje, não são apenas as massas europeias que acusam, mas a ata de acusação é, em escala mundial, erguida por dezenas e dezenas de milhões de homens que, desde as profundezas da escravidão, se erguem como juízes. Pode-se matar na Indochina, torturar em Madagascar, aprisionar na África negra, causar devastação nas Antilhas. Os colonizados sabem que, doravante, possuem uma vantagem sobre os colonialistas. Sabem que seus “senhores” provisórios mentem.
Aqueles territórios que haviam conquistado sua independência ou estavam em vias de fazê-lo viam com profundo ceticismo o discurso civilizatório propagado como justificativa pelos colonizadores. Aimé Césaire compreende com clareza esse desencanto e o lança, sem rodeios, aos europeus — especialmente aos franceses. Essa perspectiva é igualmente partilhada por seu conterrâneo Frantz Fanon em Os condenados da Terra: “Deixemos essa Europa que não cessa de falar do homem ao mesmo tempo em que o assassina onde quer que o encontre […] Há séculos a Europa interrompe o progresso dos outros homens e os submete aos seus desígnios e à sua glória; há séculos que, em nome de uma suposta aventura espiritual, sufoca quase toda a humanidade.”
A sintonia entre os dois intelectuais pode ser percebida no fato de que uma elaboração central no pensamento de Césaire — numa perspectiva dialética que Fanon também incorporará — é a convicção de que o colonialismo não era uma missão civilizadora, mas uma forma de exploração que desumanizava tanto os colonizados quanto os colonizadores. Ele denunciava a hipocrisia das potências coloniais ao justificarem suas ações sob pretextos humanitários enquanto praticavam atos de barbárie nas colônias. “Seria preciso estudar, em primeiro lugar, como a colonização atua para descivilizar o colonizador, embrutecê-lo no sentido literal da palavra, degradá-lo, despertar seus instintos mais obscuros: ganância, violência, ódio racial, relativismo moral…”
Nesse sentido, para o pensador antilhano, os métodos praticados pelo nazismo nas primeiras décadas do século XX em nada diferiam daqueles historicamente utilizados pelas potências coloniais, pois ambos eram inerentes ao projeto de modernidade levado a cabo pelos europeus. Não representavam, portanto, uma perversão da modernidade, mas seu lado sombrio — um selvagerismo disfarçado pelo verniz da civilização redentora. Essa Europa, que se orgulhava de seus ancestrais gregos e dos valores do Iluminismo e da Ilustração, experimentou em carne viva a tragédia de uma versão racista e eugenista do nazifascismo; não foi capaz de evitar a aniquilação de europeus por outros europeus. Com espanto, a Europa descobre, tarde demais, que o burguês do século XX, muito humanista e muito cristão, carrega dentro de si, sem saber, um Hitler — seu próprio demônio:
E que, se o vitupera, é por falta de coerência — pois, no fundo, o que não perdoa a Hitler não é o crime em si, o crime contra o ser humano, não é a humilhação do homem em si, mas sim o crime contra o homem branco, a humilhação do homem branco, e o fato de ter aplicado em solo europeu os métodos colonialistas que, até então, estavam reservados aos árabes da Argélia, aos coolies da Índia e aos negros da África.
Antes de se tornarem suas vítimas, os europeus já empatizavam com o modelo nazifascista; mais do que isso, legitimavam as práticas genocidas intrínsecas ao sistema colonial muito antes de Hitler e suas tropas semearem o pânico na Europa e no resto do mundo. “Não há nada de original no nazismo que não tenha sido previamente implementado pelo colonialismo contra os povos não europeus.” Césaire desmascarou o colonialismo como um sistema de exploração e violência camuflado sob a aparência de missão civilizadora. Essa falsidade, sustentada ao longo dos séculos, permitia que as nações colonizadoras se mostrassem consternadas com as aberrações cometidas pelos nazistas — num gesto de hipocrisia sem limites. Aquilo que sempre foi tolerado quando aplicado ao mundo não europeu agora explodia nas entranhas da própria Europa. Com as barbaridades da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto tornadas públicas, o colapso moral da Europa era evidente para quase todos os países do globo — exceto para os próprios europeus.
Como aponta no início de seu Discurso sobre o colonialismo, Césaire acusa os europeus de se enganarem deliberadamente, de ocultarem uma realidade evidente: a de que a Europa já abrigava em seu interior o germe do fascismo, cujas origens podem ser rastreadas nas formas deletérias e perversas assumidas pelo colonialismo. Durante séculos, existiram fora da Europa sujeitos colonizados e estigmatizados que sofreram genocídio, extermínio, escravidão e violência. Mas isso nunca foi motivo de escândalo para as populações europeias. A semelhança entre as táticas do nazismo e a empreitada colonial era flagrante — e, para Césaire, fascismo e colonialismo eram duas faces da mesma moeda.
Um dos grandes méritos da obra de Aimé Césaire é evidenciar esse “duplo jogo” moralista do discurso civilizatório, ao revelar que o racismo exercido contra os povos colonizados e oprimidos inoculava, paralelamente, uma perversão psíquica nos próprios colonizadores; por essa razão, afirmava o martinicano, instalava-se fatalmente um Hitler dentro de cada humanista e burguês europeu. E vale esclarecer que Césaire não se referia a uma mente tortuosa ou psicopática como a de Hitler ou de algum torturador sádico, mas sim à mente do homem de bem, do burguês honesto e decente que usufrui dos benefícios do sistema colonial. Aqueles que ostentavam suas “virtudes cristãs” eram os mesmos que, nas colônias, autorizavam o uso do suplício e das masmorras contra os chamados incivilizados. Em sua denúncia lúcida, Césaire conclui:
Aonde quero chegar? A esta ideia: ninguém coloniza inocentemente, tampouco coloniza impunemente. Uma nação que coloniza, uma civilização que justifica a colonização e, portanto, a força, já é uma civilização doente, moralmente ferida, que irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, chama por seu Hitler — quero dizer, por sua punição.
Por um universalismo que inclua todos os particularismos
Por outro lado, Césaire não se convence com o universalismo abstrato erigido pelos europeus, tampouco adere aos particularismos estreitos e provincianos de cunho fundamentalista que se refugiam em sua própria especificidade. Para ele, a verdadeira descolonização passava pela afirmação de um universalismo concreto que abarcasse, em si mesmo, todas as possibilidades do particularismo. Se o universalismo abstrato do republicanismo europeu — especialmente o francês — estabelecia relações verticais entre os povos, o universalismo concreto, na concepção do pensador antilhano, só poderia ser resultado de relações mais simétricas, horizontais e igualitárias entre todas as populações.
Em vez de se referir a valores abstratos do inventário eurocêntrico — como liberdade, igualdade, democracia ou justiça — Césaire propõe uma crítica radical a todas essas noções ou enteléquias universalistas da modernidade, com o objetivo de configurar uma nova matriz conceitual que leve à construção de relações verdadeiramente igualitárias, justas e democráticas entre os povos. Ele considerava possível falar do universal desde que isso significasse aprofundar a singularidade de cada um, e não negá-la. Manter a identidade, para Césaire, era conquistar uma fraternidade nova e mais ampla, sem se afastar nem se afundar em uma espécie de solipsismo comunitário ou em diversas formas de ressentimento excludente. O universalismo do pensador martinicano está intimamente ligado à noção de igualdade, sustentado pelo diálogo e por uma escolha emancipatória e descolonizadora.
Em sua crítica ao colonialismo, Césaire não se dirige apenas aos europeus, mas também a um vasto espectro de povos historicamente submetidos, que agora têm a oportunidade de se libertar das amarras impostas pelo padrão europeu de dominação e exploração. Esse padrão também se manifesta em relações desiguais de poder e de controle sobre o conhecimento, tal como já expuseram diversos autores que apontam como essas formas de poder persistem, mesmo após os processos de independência das colônias ou de descolonização. Sob a concepção de “decolonialidade”, propõe-se a necessidade de desmontar essas relações que alimentam hierarquias raciais, geopolíticas e de gênero, forjadas ao longo da constituição do mundo moderno-colonial.
Como também destaca Ramón Grosfoguel, Césaire é um dos “intelectuais visionários que se anteciparam aos acontecimentos de sua época”. De fato, foi capaz de perceber e denunciar precocemente o caráter perverso do colonialismo e de desenvolver uma crítica ao projeto eurocêntrico — ou ao “euro-ocidentalismo culturalista” — que viria a ser teorizado posteriormente pelo pensamento pós-colonial e decolonial. Por essa razão, Césaire pode ser considerado um precursor dessa perspectiva que ficou conhecida como o “giro decolonial”, posteriormente adotado por um conjunto de pensadores que aderiram, com maior ou menor intensidade, ao Programa de Pesquisa Modernidade-Colonialidade.
Essa proposta postula que a colonialidade é parte integral dos processos de modernização e que, nessa dinâmica articulada, a experiência do empreendimento colonial europeu é fundamental para compreender como a formação das principais instituições da modernidade está inscrita nesse projeto colonizador: a construção do Estado moderno, da ciência, da arte, do capitalismo. A colonialidade ultrapassa o colonialismo em sentido estrito, na medida em que impõe um tipo de herança que persiste mesmo quando o colonialismo baseado na ocupação militar e na anexação jurídica de territórios já chegou ao fim.
A colonialidade se reproduz, assim, em três dimensões: a do poder, a do saber e a do ser. A partir dessa narrativa, emerge um tipo de taxonomia social baseada em raça, gênero e trabalho, uma configuração privilegiada da lógica colonial. Nas palavras de Aníbal Quijano, a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Ela se funda na imposição de uma classificação racial-étnica da população mundial como pedra angular desse padrão de poder. Pensada dessa forma, a colonialidade implica o reconhecimento do lado obscuro e necessário da modernidade; ela é um elemento indissociável de sua própria constituição.
A colonialidade constrói um relato universalista que impõe uma lógica cultural centrada no processo civilizatório. As propostas elaboradas anteriormente por Aimé Césaire antecipam — ou mesmo inauguram — as ideias decoloniais e pós-coloniais, na medida em que questionam esse universalismo construído como narrativa da “civilização” branca europeia e se insurgem contra a violência exercida a partir da matriz colonial enquanto expressão da modernidade.
O legado de Aimé Césaire
O discurso anticolonialista de Aimé Césaire (principalmente seu Discurso sobre o colonialismo) mantém uma relevância notável atualmente, considerando que já se passaram 75 anos desde sua primeira publicação, em 1950. Suas ideias continuam ressoando como um alerta sobre o racismo sistêmico, a desigualdade e a discriminação, ao mesmo tempo em que alimentam os debates sobre as formas assumidas pelas estruturas de poder, a dominação neocolonial e o epistemicídio.A atualidade do dicurso anticolonial de Aimé Césaire reside em sua capacidade de revelar as estruturas de poder, exploração e desumanização que se gestaram durante o colonialismo e que, de muitas formas, persistem hoje sob novas manifestações. Seu Discurso sobre o colonialismo não apenas denuncia os crimes cometidos em nome da “civilização”, mas também oferece uma crítica profunda ao sistema econômico, político e cultural que perpetua as desigualdades globais.
Césaire alertava que o colonialismo não terminava com a independência formal das nações, mas se transformava em novas formas de controle, como o neocolonialismo econômico e cultural. No contexto atual, isso se observa nas relações desiguais entre países do Norte e do Sul global, onde corporações multinacionais, instituições financeiras internacionais e acordos comerciais continuam reproduzindo padrões coloniais de dependência e exploração. De fato, essas dinâmicas se refletem nas modalidades de neocolonialismo, nas quais as relações desiguais de poder entre países ricos e pobres, por meio de instituições financeiras, tratados comerciais e multinacionais, perpetuam padrões de dependência econômica e desigualdade global.
Uma marca incontestável e pioneira do pensamento de Aimé Césaire é o questionamento do eurocentrismo e, consequentemente, sua luta pela valorização das culturas e saberes não ocidentais. Essa crítica influenciou os debates contemporâneos sobre a descolonização do conhecimento em universidades, museus e outras instituições. Hoje, muitos buscam resgatar e dar visibilidade às epistemologias e narrativas do Sul global. Seu conceito de “negritude”, enquanto movimento de reivindicação cultural, identidade e orgulho pela herança africana, continua sendo uma inspiração para comunidades que buscam reafirmar sua identidade diante de séculos de opressão e estigmatização. Essa busca por dignidade ressoa nas lutas atuais por uma representação justa e pelo reconhecimento das culturas marginalizadas.
O racismo que Césaire identificou como componente central do colonialismo permanece presente em muitas sociedades. Movimentos como o Black Lives Matter ou as lutas contra a discriminação racial na Europa e América Latina ecoam as denúncias de Césaire sobre como o colonialismo desumanizou os povos colonizados. Sua análise convida a refletir sobre as raízes históricas do racismo e a buscar soluções sistêmicas. De forma antecipada, o pensador antilhano também visualizou o colonialismo como uma forma irracional de exploração dos recursos naturais. Na atual crise climática, as dinâmicas extrativistas originadas no colonialismo continuam afetando desproporcionalmente as regiões mais empobrecidas.
O chamado de Césaire para uma ação política e cultural emancipadora continua inspirando movimentos sociais que lutam contra as desigualdades, o racismo e as opressões de toda espécie. Sua visão de uma humanidade capaz de construir seu destino por meio da justiça e da criatividade ressoa nos desafios globais do século XXI. Suas ideias convidam a repensar essas relações de opressão e a buscar modelos mais justos e sustentáveis.
Por fim, embora não menos importante, nada como a releitura de Césaire para compreender os riscos da emergência das novas modalidades de fascismo que atualmente acometem a humanidade. As declarações e práticas de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Nayib Bukele, Javier Milei e outros líderes da extrema direita global se assemelham demasiadamente às ações implementadas pelas tropas nazistas há quase um século, e o assassinato contínuo de jovens negros em muitas cidades do mundo ocidental remete-nos aos genocídios praticados entre os povos colonizados das Américas, África e Ásia.
Em suma, o pensamento de Aimé Césaire permanece vigente porque transcende seu tempo. Não apenas porque foi um protagonista do debate sobre os processos de descolonização de meados do século XX, mas porque sua busca por um “universal” construído a partir de múltiplos “particulares” é uma marca fundamental do pensamento contemporâneo. As ideias do poeta, intelectual e político martinicano constituem hoje um importante insumo para analisar e desafiar os sistemas de opressão, injustiça e exclusão que ainda moldam o mundo, ao mesmo tempo em que nos inspiram a imaginar e construir um futuro baseado na igualdade, justiça social, diversidade e respeito mútuo.
Notas
[1] Em rigor, essas bolsas eram concedidas pelo governo da França como uma forma de assimilar as elites dos territórios colonizados e formar os futuros burocratas da administração colonial, intermediários entre os brancos e as populações “de cor”. (Rogerio de Campos, “Retorno a Aimé Césaire, uma cronologia”. In: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo; tradução de Claudio Willer, São Paulo: Edições Venetta, 2020, pp. 79-127).
[2] As irmãs Nardal foram sete, sendo Paulette e Jeanne as mais conhecidas. Escritoras, filósofas, jornalistas e intelectuais nascidas na Martinica, são consideradas precursoras da negritude, e sua casa transformou-se em um Salão Literário frequentado pelos mais influentes ativistas do movimento negro da época.
[3] Em conversas com Françoise Vergès, Aimé confessava: “Da minha parte, eu não gostava muito dos salões — não que os desprezasse — e apareci por lá algumas vezes, sem ficar muito tempo. No entanto, foi assim que conheci vários escritores negros americanos como Langston Hughes ou Claude McKay, que faziam parte do grupo Harlem Renaissance.” (A. Césaire / F. Vergès, Negro sou, negro serei: Conversas com Françoise Vergès, tradução de Leo Gonçalves, Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2024, p. 27).
[4] A. Césaire, “Negritudes: juventude negra e assimilação”, in: Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, nº 10, abril-setembro de 2018, p. 213. Tradução da versão original posteriormente publicada na revista Les Temps Modernes, nº 676, 2013, pp. 246-248.
[5] Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris: Présence Africaine, 1960. Ed. bras.: Diário de um retorno ao país natal, tradução de Lilian Pestre de Almeida, São Paulo: Edusp, 2012, p. 8.
[6] R. de Campos, op. cit., p. 97.
[7] A. Césaire, La tragédie du roi Christophe, Paris: Présence Africaine, 1963. Ed. bras.: “A tragédia do rei Christophe”, in: A. Césaire, Textos escolhidos, tradução de Sebastião Nascimento, Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2022.
[8] A. Césaire / F. Vergès, 2024, p. 55.
[9] Dos estudos de Carolyn Fick, podem-se consultar “Para uma (re)definição de liberdade: a Revolução no Haiti e os paradigmas de Liberdade e Igualdade”, in: Revista Estudos Afro-Asiáticos, Ano 26, nº 2, 2004, pp. 355-380; e “Camponeses e soldados negros na Revolução de Saint-Domingue: reações iniciais à liberdade na Província do Sul (1793-1794)”, in: F. Krantz (org.) A Outra História. Ideologia e protesto popular nos séculos XVII e XVIII, tradução de Ruy Jungmann, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990, pp. 211-226.
[10] Fick, 2004.
[11] O sociólogo haitiano Gérard Pierre-Charles deixou uma extensa obra sobre seu país e o Caribe, na qual expõe com profundo rigor analítico as dinâmicas históricas da região, com base nas condições de opressão e espoliação impostas pelo colonialismo e pelo imperialismo.
[12] A. Césaire / F. Vergès, 2024, p. 33.
[13] É interessante notar que essa renúncia ao PCF ocorre poucos dias antes de o Exército Vermelho da União Soviética invadir as ruas de Budapeste (04/11/1956), selando o destino do que posteriormente seria conhecido como Revolução Húngara.
[14] Aimé Césaire, “Carta a Maurice Thorez”. In: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, pp. 79-82.
[15] Domenico Losurdo, O marxismo ocidental. Como nasceu, como morreu e como pode ressuscitar, Madri: Editorial Trotta, 2019.
[16] Domenico Losurdo, op. cit., p. 44.
[17] A. Césaire, apud Campos, 2020, p. 118.
[18] A. Césaire, “Discurso sobre a negritude. Negritude, etnicidade e culturas afro-americanas”, in: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, pp. 86-87.
[19] A. Césaire, op. cit., p. 87.
[20] Aimé Césaire, Discurso sobre o colonialismo; tradução de Mara Viveros, Madri: Ediciones Akal, 2006, p. 13.
[21] Frantz Fanon, Os condenados da terra; tradução de Julieta Campos, Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1963, p. 287.
[22] A. Césaire, op. cit., p. 15.
[23] A. Césaire, op. cit., p. 15.
[24] Ramón Grosfoguel, “Atualidade do pensamento de Césaire: redefinição do sistema-mundo e produção de utopia desde a diferença colonial”. In: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, p. 148.
[25] A. Césaire, op. cit., p. 17.
[26] Nelson Maldonado-Torres, “Aimé Césaire e a crise do homem europeu”, in: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, pp. 173-196.
[27] Ramón Grosfoguel, “Atualidade do pensamento de Césaire: redefinição do sistema-mundo e produção de utopia desde a diferença colonial”. In: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, pp. 147-172.
[28] Samir Amin, “Da crítica do racialismo à crítica do euro-ocidentalismo culturalista”. In: A. Césaire, Discurso sobre o colonialismo, Madri: Ediciones Akal, 2006, pp. 95-146.
[29] Existe uma vasta produção bibliográfica sobre o surgimento e as várias propostas desse Programa de Pesquisa, entre as quais se destaca o evento organizado por Edgardo Lander em 1998, posteriormente transformado no livro A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, E. Lander (org.), Buenos Aires: CLACSO, 2000.
[30] Aníbal Quijano, “Colonialidade do poder e subjetividade na América Latina”, in: A. A. Melo e F. de la Cuadra (orgs.), Intelectuais e pensamento social e ambiental na América Latina, Santiago: RIL Editores, 2020, pp. 257-278.
[31] Dizemos “principalmente”, embora não exclusivamente, pois o conjunto da obra de Césaire inscreve-se em seu apelo pela emancipação dos colonizados, como também ocorre em textos fundamentais como Cultura e colonização (1956); Carta a Maurice Thorez (1956); Discurso sobre a negritude. Negritude, etnicidade e culturas afro-americanas (1987); ou na conversa com Françoise Vergès, publicada em espanhol sob o título Negro soy, negro me quedo (2020).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras