Em busca de uma teoria do Valor-Atenção
Marx e Polanyi dissecaram o esforço incessante do capital para reduzir a vida à mercadoria. Mas foram as big techs que mercantilizaram a Atenção, para capturar a riqueza social. Reverter este sequestro será essencial para um pós-capitalismo
Publicado 15/07/2025 às 19:54 - Atualizado 15/07/2025 às 19:55

Título Original: Atenção e valor nas redes sociais
Além da temática expressa no título, este ensaio passa também por outros tópicos, incluindo a teoria marxista do valor-trabalho, os conceitos de mercantilização e socialismo, e a desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, terminando com uma visão crítica da informática. Trata-se de um leque amplo de temas, que serão expostos muito esquematicamente, privilegiando as relações entre eles. O esquematismo faz com que o ensaio possa ser lido como um projeto de pesquisa. O ponto de partida são as big techs.
As principais empresas no campo das redes sociais são as chamadas big techs. Durante algum tempo, eram 5: Meta, Microsoft, Amazon, Apple e Alphabet. Mais recentemente, passaram a 7, com a inclusão no grupo da Nvidia e da Tesla. São todas empresas capitalistas que produzem mercadorias e as vendem no mercado visando, naturalmente, o lucro. O modelo de negócios que adotam é quase o mesmo da mídia em geral, isto é, de jornais, revistas, rádio e televisão. As mercadorias, nesse campo, são serviços de divulgação de peças publicitárias na forma de anúncios. Os compradores são outras empresas, que buscam maximizar o lucro por meio do aumento da demanda por seus produtos, recorrendo para isso à publicidade. O terceiro ator no modelo das big techs são os internautas, interessados em determinados conteúdos. O acesso a eles é gratuito, no sentido monetário literal, mas eles vêm acoplados a anúncios, a que os internautas são submetidos. [1]
Uma peça publicitária só tem valor se for lida, ouvida ou assistida, pelas pessoas a quem é veiculada, e ‘para isso é necessário que elas lhe dediquem atenção. Como veremos, a atenção é metaforicamente a moeda com a qual os internautas pagam pelo acesso aos conteúdos que lhes interessam. Obviamente, quanto mais atenção um anúncio recebe, maior é seu valor. Vejamos como essa relação figura na tradição marxista.
Na Teoria marxista do Valor-Trabalho, o valor de uma mercadoria é, grosso modo, proporcional ao trabalho gasto em sua produção. No domínio das redes sociais, no lugar do trabalho, vigora a atenção. Sendo assim, faz sentido a ideia de uma Teoria marxista do Valor-Atenção. Convém observar que, assim como o trabalho, a atenção é um bem escasso (no sentido econômico, não de falta ocasional, mas de disponibilidade limitada). Nesse sentido, a escassez é um atributo que, na Economia ortodoxa, é considerado essencial para que um bem possa funcionar como mercadoria. A atenção satisfaz tal requisito, pode funcionar dessa maneira ou, dito de outro modo, pode ser mercantilizada.
Para deixar claro o significado dessa tese, é necessária uma análise do termo mercantilização, derivado do verbo mercantilizar, e seus cognatos ‒ desmercantilizar, desmercantilização, etc. Na teoria marxiana do modo de organização capitalista, “a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer”.[2]‘Uma coisa’ quer dizer, algo estático, externo à dimensão do tempo. A concepção da mercadoria como coisa é uma faceta do caráter essencialista do pensamento de Marx, conforme à interpretação de Meikle em Essentialism in the thought of Karl Marx.[3] Por outro lado, e gerando certa tensão, Marx concebe o capitalismo como algo não estático, mas dialético, algo que se altera ao longo do tempo, em interação com as ideias a seu respeito.
Numa visão não-essencialista, uma mercadoria pode ser definida como um bem (dotado de valor de uso) que pode ser comprado-e-vendido. Uma operação de compra-e-venda envolve num plano um vendedor e um comprador, em outros dois bens, sendo um deles um objeto ou serviço, o outro certa quantidade de dinheiro.
Nesses termos, a sugestão é adotar como conceito-chave no estudo do capitalismo não o de mercadoria, mas o de mercantilização ‒ definido como o processo em que um bem passa a funcionar como mercadoria. Assim como Marx, Karl Polanyi também analisa o capitalismo em termos históricos; para ele a instauração do capitalismo resulta da mercantilização de três categorias de bens: a Terra, o Trabalho e o Crédito. À luz dessas considerações, é estranho que nem Marx nem Polanyi tenham usado as palavras “mercantilizar” e “mercantilização” (ou suas equivalentes em outras línguas). A equivalente em inglês, commodification, constitui, em certa medida, um neologismo: segundo o Oxford English Dictionary, foi usada pela primeira vez em 1974 (não por acaso, a nosso ver, na década em que o neoliberalismo começa a ganhar força). Em português usa-se também “mercadorização” “comercialização”, “comodificação” e “comoditização” ‒ estas duas últimas decididamente inaceitáveis não só pelo anglicismo, mas também pelo fato de que, no contexto do português, como se sabe, commodity significa não uma mercadoria qualquer, mas uma mercadoria em estado bruto, não processado ‒ o que pode gerar confusão.
Numa versão radical, o capitalismo é um movimento rumo à mercantilização de tudo, a meta do socialismo é a desmercantilização de tudo. Como diz o sociólogo Immanuel Wallerstein, “O capitalismo tem sido um programa para a mercantilização de tudo. Os capitalistas ainda não o implementaram totalmente, mas já caminharam bastante nessa direção, com todas as consequências negativas que conhecemos. O socialismo deve ser um programa para a desmercantilização de tudo.”[4] A desmercantilização da atenção é um passo na direção do socialismo.
A mercantilização da atenção dá origem, no domínio da teoria, ao campo da Economia da Atenção. O pioneiro da ideia de conceber a atenção como um bem que pode funcionar como mercadoria foi Herbert Simon. Reagindo à vertiginosa proliferação de informações desencadeada pela Informática, disse ele, numa passagem muito citada, proveniente de uma conferência proferida em 1971:
Num mundo rico em informações, essa riqueza implica a raridade de outra coisa: a escassez daquilo que a informação consome. O que a informação consome é bastante óbvio: ela consome a atenção dos receptores. Portanto, a riqueza da informação cria uma pobreza da atenção, e a necessidade de alocá-la eficientemente entre a superabundância das fontes de informação que possam consumi-la.[5]
Na virada do século, a concepção econômica da atenção foi retomada e desenvolvida por autores entre os quais Goldhaber e Davenport & Beck. Deve-se a eles, a introdução do termo Economia da Atenção (Econony of Attention ou Attention Economics).[6] A partir daí, aumentou tremendamente o interesse pelo tema, dando origem a uma onda de novas publicações. Uma consulta à plataforma da Amazon revela a abundância de novos livros, alguns acadêmicos, outros dirigidos ao público leigo, além de uma multiplicidade de matérias que circulam na internet. O livro mais recente é de autoria de Christopher Hayes: The sirens’ call: how attention became the world’s most endangered resource.[7] Chegou-se assim ao paradoxo de que, para um pesquisador lidar com o problema de superabundância das informações, tem de se haver com a superabundância de informações sobre o próprio tema.
Isso posto, voltemos à tradição marxista. O conceito marxiano de mercadoria envolve o de mais-valia, por sua vez associado ao de exploração. O capitalismo é condenado por constituir uma forma de exploração, a mais-valia é caracterizada como um roubo. Essa crítica pode ser aplicada às redes sociais, na qualidade de um caso particular da crítica geral cujo cerne é a exploração. Por outro lado, o crucial é que existe uma outra estratégia de crítica, fundada num outro princípio, de natureza ética, referente à distribuição de renda e de riqueza, ou, em outras palavras, referente à desigualdade, entre os países e em cada país. Nos últimos anos, como se sabe, o tema tem granjeado grande destaque no debate público. Um marco nesse processo foi o livro de Thomas Piketty O Capital no século XXI.[8] Outro eminente autor nesse campo é o economista sérvio-americano Branko Milanović. Seu livro mais recente publicado em português é: Visões da desigualdade: da Revolução Francesa até o fim da Guerra Fria.[9]
O recurso mais utilizado como medida da desigualdade é o coeficiente de Gini, inventado pelo estatístico italiano Corrado Gini por volta de 1912. A definição do coeficiente é um tanto “técnica”, envolve o conceito de curva de Lorenz. Mas seu significado pode ser entendido sabendo-se que o coeficiente é um número entre 0 (zero) e um. O 0 corresponde à igualdade perfeita, em que, todos os indivíduos recebem a mesma renda, o 1 à desigualdade perfeita, em que indivíduo recebe toda a renda e, entre os extremos, quanto maior o coeficiente, maior a desigualdade.
Para os leigos, o valor numérico do coeficiente é pouco sugestivo. Mais inteligível é outra forma de expor a mensuração, a de um ranking de países ordenado pelo coeficiente. Há um problema entretanto no levantamento dos dados empíricos básicos necessários para o cálculo do coeficiente. Especialmente nos países periféricos, de baixa renda por capita, são muito precárias as instituições dedicadas à coleta de estatísticas, gerando incertezas na mensuração do coeficiente, e consequentemente nos rankings. Isso fica claro quando se busca averiguar a posição de um país no ranking ‒ por exemplo, o Brasil. No debate público não especializado, não são raras afirmações de que nosso país é o campeão, ou vice-campeão mundial da desigualdade. Existe um número considerável de instituições dedicadas à mensuração da desigualdade em nível internacional. Um vasculhamento dos rankings disponíveis na internet revela que, por um lado, tais afirmações não se sustentam, por outro não deixam dúvida quanto à posição do Brasil nas primeiras linhas do ranking (na ordem decrescente da desigualdade, como é mais comum). Uma maneira de caracterizar o status do Brasil de maneira mais verídica é com uma afirmação do tipo “o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo”. A afirmação é menos precisa que outra que atribui uma posição determinada no ranking, porém essa imprecisão casa bem com a incerteza das estatísticas.
As constatações empíricas referentes à desigualdade adquirem um caráter crítico quando associadas ao princípio ético que valoriza a igualdade, sem cair num igualitarismo radical, em que a desigualdade é zerada. O que se condena são os vergonhosos níveis de desigualdade predominantes nos dias de hoje. A crítica em termos da desigualdade, por ter como fundamento um princípio amplamente aceito de justiça social, leva vantagem sobre a crítica baseada na mais-valia, que pressupõe uma sofisticada teoria econômica.
Nos estudos sobre as variações da desigualdade ao longo do tempo, uma afirmação amplamente aceita é a de que um ponto de inflexão ocorreu por volta de 1980, a partir do qual aumentou a taxa de crescimento da desigualdade, praticamente no mundo todo. Essa foi também a época em que o neoliberalismo ganhou força; não por coincidência, mas como reflexo de tendências inerentes ao capitalismo que se realizam quando não combatidas por regulamentações, às quais se opõem os neoliberais, partidários da doutrina do Estado mínimo.
Tais considerações têm um significado amplo, referente a todas as atividades econômicas. Terá a temática central deste ensaio algum destaque nesse contexto? A resposta afirmativa tem como fundamento o enorme peso econômico das atividades a que a Revolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)s deu origem. Uma evidência ao mesmo tempo de tal peso, e do nível de desigualdade nesse campo, é o fato de que na lista da Forbes das dez maiores fortunas do mundo, sete são de donos de big techs. Tal peso também sugere que a Informática contribui significativamente para o aumento da desigualdade
Para concluir, convém lançar um pouco de luz sobre o contexto histórico do que foi visto até este ponto, por meio de algumas observações sobre a Informática.
O impacto da Revolução das TICs, segundo muitos autores, é comparável, senão ainda maior, que os das duas revoluções industriais anteriores. É impressionante como a Informática penetrou em todas as esferas e poros da vida humana. Parte das causas desse processo é, naturalmente, a utilidade das TICs. Elas simplificam tremendamente uma série de atividades dos seres humanos, transferem para os computadores e robôs tarefas repetitivas e por isso maçantes, estimulam avanços na medicina, e de maneira geral em todas as pesquisas científicas, e assim por diante.
Este é o lado bom da Informática, e ignorá-lo constitui uma forma de negacionismo. Criticar radicalmente a informática utilizando seus recursos (por exemplo, usar a IA para criticar a IA) ‒ constitui uma contradição performática.
Por outro lado, e por maior razão, não se deve ignorar a outra face da moeda, os tremendos efeitos colaterais nefastos, ou malefícios, da Informática, em particular da internet, incluindo as redes sociais e a Inteligência Artificial. Vejamos os cinco a nosso ver mais importantes.
O primeiro é o fato, já mencionado, de que a estrutura econômica construída pela Informática promove a desigualdade.
O segundo, como também já vimos, consiste em que o faturamento das plataformas provém da publicidade, e assim a alimenta, promovendo o consumismo, que por sua vez atua na contra mão dos esforços voltados para a superação, ou pelo menos a amenização da crise ambiental.
O terceiro malefício também diz respeito ao meio ambiente, e decorre do gigantesco consumo de energia e água dos centros de dados (data centers). Esse consumo está em forte crescimento, resultante do uso de Inteligência Artificial nos Large Language Models (LLMs) utilizados em chatbots, que proliferam desde o lançamento do pioneiro, o ChatGPT, em novembro de 2022.
O quarto malefício é a tendência da internet de estimular o movimento da pós-verdade, entendida como a atitude irracional de não levar em conta a veracidade das crenças adotadas, ou seja, a correspondência com os fatos.[10] Além disso, há uma forte relação de afinidade, de reforço mútuo, entre a pós-verdade e a ideologia da extrema direita.
Por último, mas não em último lugar, o quinto malefício são os problemas de saúde mental ‒ de ansiedade, depressão e, nos casos mais graves automutilação e tendências suicidas ‒ que afetam particularmente as crianças e jovens, mas também, embora em grau menor, os adultos.[11] e [12].
Fica a pergunta: como aperfeiçoar a internet, corrigindo seus defeitos, sem abrir mão de suas vantagens?
Notas
[1] No caso das mídias tradicionais, a divulgação dos conteúdos e anúncios requer uma base material (papel, tinta, ondas eletromagnéticas, etc.) que tem custos, e constitui outra peça do modelo de negócios. Tais custos são muito menores na mídia internética que nas tradicionais, o que viabiliza o acesso gratuito, em contraste com as mídias tradicionais, em que o acesso requer pagamento monetário.
[2] Marx, O Capital, livro I. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 113. Itálico acrescentado.
[3] Londres: Duckwoth, 1985)
[4] . Wallerstein, Uma política de esquerda para o século XXI? Ou teoria e práxis novamente”, em Loureiro, Cevasco e Leite (orgs.) O espírito de Porto Alegre. São Paulo: Paz e Terra. 2002, p. 36).
Existem também, é claro, versões moderadas de socialismo, que admitem a permanência do mercado como modo de organização para determinados setores da economia.
[5] H. Simon, Designing organizations for an information-rich world”. Em M. Greenberger (org.), Computers, communications, and the publi.c interest. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1971, p. 38-52. A citação é da p. 40-41.
[6] Michael Goldhaber, The attention economy and the net. First Monday peer-reviewed journal on the internet, 1997. Thomas H. Davenport & John. C. Beck, The attention economy: understanding the new currency of business. Harvard Business School Press, 2001.
[7] Nova York: Penguin, 2025.
[8]Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. Publicação original: Le Capital au XXIe siècle (2013).
[9] São Paulo: Todavia, 2025. Publicação original: Visions of inequality: from the French Revolution to the end of the Cold War (2023)
[10] A onda da pós-verdade coloca numa sinuca os simpatizantes do iluminismo. Um dos princípios iluministas é a norma de que as diferenças, de opinião e de interesses entre os seres humanos, devem ser superadas não pela força, mas pelo debate racional baseado em evidências e argumentos. Mas como debater com quem rejeita as próprias bases da racionalidade? A impossibilidade de obter resultados na busca pelo diálogo pode levar o iluminista a jogar a toalha, abandonar as tentativas. Tal comportamento pode alimentar uma convicção de superioridade moral, mas é inegavelmente uma derrota para o espírito iluminista. A implicação é a de que o combate à pós-verdade deve consistir numa outra forma de interação, que exclua a violência, mas não se limite ao debate. Tratei do tema da pós-verdade em ‘Pós-verdade: filha do relativismo científico? (Outras Palavras, 21/12/2018).
[11] Cf. Max Fisher, A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. São Paulo: Todavia, 2023. Jonathan Haidt, A geração ansiosa: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
[12] Costuma-se criticar a Informática também por gerar desemprego. A validade dessa crítica é a meu ver duvidosa. É evidente que a tecnologia visa o aumento da produtividade de trabalho por meio da diminuição da mão de obra empregada na produção. Mas nada impede que a diminuição do número de empregos causada por uma inovação, num dado setor, possa ser compensada por aumento em outras. Afinal, a introdução de tecnologias poupadoras de trabalho existe desde os primórdios do capitalismo. Não havendo contratendências, o nível de emprego hoje estaria reduzido a zero.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

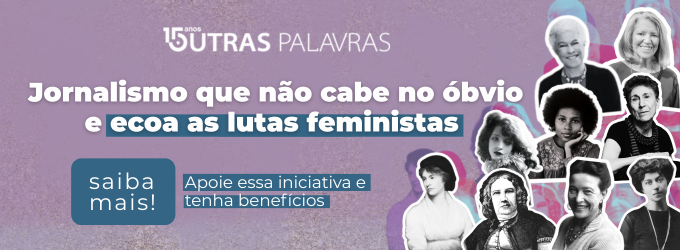

Um comentario para "Em busca de uma teoria do Valor-Atenção"