E se Sócrates fosse à Amazônia?
Filósofo grego debruçou-se sobre a formação do Estado. Mas, com olhar amazônico, veria que Atenas não é democracia real. Além de ter servos, agia por coerção, que contrasta com o mundos do Múltiplo indígena, onde impera a política da persuasão
Publicado 19/09/2025 às 18:44 - Atualizado 19/09/2025 às 18:49
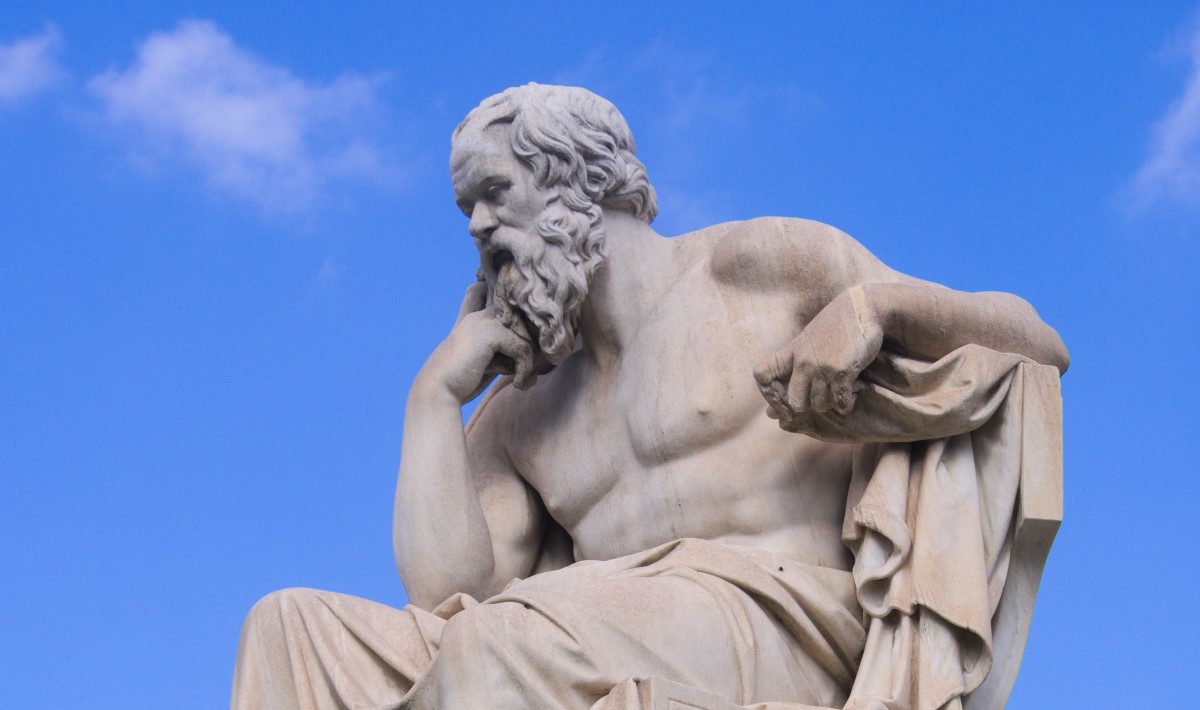
Este texto foi originalmente publicado no Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS). Para ler outros textos da BVPS por nós publicados, clique aqui.
Nossos antigos viviam caminhando, acampando e se alimentando de suas caças (Raoni, Memórias do cacique)
N’A República, Platão dá a Sócrates a tarefa de resumir a formação do Estado. “Se”, diz Platão-Sócrates, “imaginarmos o Estado em processo de criação, veremos a justiça e a injustiça do Estado também em processo de criação… Então, comecemos e criemos em ideia um Estado”.[1] Faça-se o Estado, e o Estado socrático se fez para atender às necessidades humanas. Começou com a comida, depois habitação, a seguir a diversidade de tarefas (divisão de trabalho, burocraticamente falando), porque “não somos todos iguais”, o que resulta na conveniência de se ter o comércio, a exportação, o mercado, o varejista e toda uma gama de especialistas para suprir as crescentes necessidades da polis e outras por vir. Dentre eles está a classe dos servos, sobre os quais vale a pena dizer algo mais adiante. Na voz socrática e na escrita platônica, os especialistas dessa classe “intelectualmente, dificilmente estão no nível de companheirismo”. Apesar disso, fisicamente fortes, trabalham e vendem e são chamados, “se não me engano, de assalariados, sendo o salário o nome que se dá ao preço de seu trabalho”. Por essas e por outras, Sócrates reconhece que, ao se criar o Estado, a justiça e a injustiça também fazem parte da criação.
E assim o Estado cresce, conforme novas especialidades demandam a formação de mais especialistas numa progressão contínua até que “nosso Estado já esteja amadurecido e aperfeiçoado”.
Mas nunca satisfará a todos. Há quem demande “um Estado luxuoso” e “suspeito que muitos não ficarão satisfeitos com o modo de vida mais simples… Então, devemos ampliar nossas fronteiras; pois o Estado saudável original não é mais suficiente. Agora a cidade terá que ser preenchida e inchada com uma multidão de vocações que não são exigidas por nenhuma necessidade natural”. Cabe perguntar o que seria o Estado saudável original. Uma contradição em termos? Por ventura haveria a hipótese de um Estado livre de injustiças e ainda se chamar Estado?
Com a complexidade da polis vem cobiça e usurpação: “Então, uma fatia da terra de nossos vizinhos será desejada por nós para pastagem e lavoura, e eles vão querer uma fatia da nossa, se, como nós, ultrapassarem o limite da necessidade e se entregarem ao acúmulo ilimitado de riquezas?” O discípulo Glauco concorda: “Isso, Sócrates, será inevitável”, ao que o Mestre acrescenta: “E assim iremos para a guerra, Glauco. Não vamos?”
Assim falava Sócrates no século IV em suas perorações peripatéticas, provavelmente, por alguma ágora de Atenas, ao instruir discípulos sobre a formação do Estado, a constituição da polis e a democracia à grega fundada um século antes por Clístenes também em Atenas. Dotado de grande sagacidade, sabedoria e talento para a oratória, Sócrates foi um dos produtos humanos mais aperfeiçoados do seu tempo.
Agora imaginemos que, em vez da Grécia Antiga, ele, com os mesmos dotes, tivesse ido parar, ou mesmo nascido e vivido, na Amazônia. Eu, etnóloga, ao evocar sagacidade, sabedoria e talento para a oratória, não teria qualquer dúvida em ver em Sócrates um venerando sábio indígena. Mas, sobre o que discursaria? Por acaso enalteceria a polis, o Estado “inchado”, a necessidade de servos-assalariados, de invasões e de guerras? Cabe fazer esta pergunta, porque, mesmo lamentando os efeitos da decadência dos costumes que acompanha esse “inevitável” inchaço e mostrando uma certa nostalgia pelas “necessidades naturais”, Sócrates louvava a necessidade como “a mãe da nossa invenção”, o motor daquilo que transformou o Estado, de um pacato conglomerado coeso, numa fervilhante polis pululando de vícios e virtudes. O Sócrates de Platão, apesar dos pesares, apreciava as complexidades advindas do progresso, no sentido etimológico ‒ (pro- [para a frente]+gradi [caminhar, dar passos]) ‒ confiando nos benefícios trazidos por essa mesma complexidade, venham de onde vierem, talvez da guerra, faça bem ou não, derive ou não “de causas que são também as causas de quase todos os males nos Estados”. Importava mais saber que o “nosso Estado deve mais uma vez se expandir; e desta vez o alargamento será nada menos que um exército inteiro”.
Vinte e quatro séculos depois, um etnólogo francês entendeu o Estado como um mal que deveria ser evitado a todo custo pela sociedade dos seres humanos e que, de fato, é anátema para sociedades indígenas. Abriu, assim, amplas vistas à interpretação antropológica do que é o poder. No livro de 1974, A sociedade contra o Estado, Pierre Clastres afastou dos povos indígenas, do Brasil e alhures, o fantasma do destino que por tanto tempo lhes fora atribuído por mentes evolucionistas aferradas às verdades que beberam da antiguidade clássica: a inevitabilidade do surgimento do Estado e um tipo de democracia falsamente assim chamada.
Debruçando-se sobre os cronistas quinhentistas do litoral brasileiro, Clastres vislumbrou um fenômeno extraordinário entre o povo Tupinambá que o inspirou a tomá-lo como um verdadeiro laboratório de teste sobre poder. Quanto mais não seja, sua análise vale pela elegância e imaginação antropológica, e pode também cativar pelo atrativo da proposta. Para tanto, lança mão de uma peça-chave no universo tupinambá: o profetismo. O profeta divide a cena com o líder político. O embate entre ambos, quando ocorre, produz oscilações sociais de enormes consequências.
Sucinta e esquematicamente, tento tornar aqui um processo complexo minimamente inteligível. Consiste na tendência de certos líderes políticos, chefes de aldeias, a acumular poder via sedentarização, atraindo para si volume de parentes e agregados, especialmente genros que lhe prestam serviços e deferência. Chega a um ponto que a comunidade cresce desmesuradamente e compromete sua sobrevivência. Nesse ponto, entra em ação o profetismo. Contrapondo-se à chefia secular, o profeta arrebanha a multidão de seus seguidores e abandona a aldeia e enceta uma peregrinação longa, tanto no tempo como no espaço, que deixa o líder político de mãos vazias, desolação e muita gente morta pelo caminho. Uma nova ordem se instala e, eventualmente, tudo começa de novo.
A astúcia analítica de Clastres está em organizar essa realidade caótica numa lógica política que ecoa na experiência de virtualmente todos os etnógrafos que têm partilhado da vida dos povos indígenas: a repulsa à hierarquia, à subordinação, à exploração entre seres humanos. Um líder ambicioso demais está fadado ao abandono do povo, com ou sem o concurso do profetismo. A grande densidade populacional dos Tupinambá quinhentistas tornou a rejeição da hierarquia especialmente dramática pelo efeito devastador do profetismo, o que permitiu a Clastres identificar o elemento crucial que definiu o caminho político daquele povo: optar pela Sociedade ‒ o Múltiplo, como Clastres caracteriza ‒ mesmo à custa de grande devastação, e repelir o Estado ‒ o Uno, segundo Clastres ‒ como fez a Atenas de Sócrates. À beira de se transformar em Estado unitário, a coletividade tupinambá recuava como se, a cada lance, calculasse: não deixar o certo pelo duvidoso.
Agora podemos mais facilmente imaginar o que teria ensinado Sócrates aos seus discípulos atenienses com olhos amazônicos. Uma coisa que ele não faria mais seria chamar Atenas, ou a Grécia, de verdadeira democracia, pela simples razão de fazer e manter servos. Ainda que os chamassem de “assalariados”, eles não usufruíam de cidadania plena como os plenos cidadãos.
Mas há outra razão, talvez mais forte, para ver a Grécia Antiga com outros olhos. Estado que é Estado reserva para si o monopólio do uso da força, o que traz as democracias ocidentais para o campo das contradições. Tal submissão ao Uno, necessariamente, implica coerção de uns por outros, o que contrasta frontalmente com os mundos do Múltiplo, onde impera o regime da persuasão. É pela arte de persuadir que líderes indígenas convencem as pessoas a fazer coisas, a seguir cursos de ação ou de restrição. Com a fama de orador que atravessou os séculos, Sócrates estaria à vontade disseminando sua sabedoria vinda da Amazônia, já que ali está uma das maiores concentrações de oradores que enaltecem suas respectivas sociedades. E quem diz Amazônia diz outros grandes espaços onde reina a política da persuasão, privilegiando o Múltiplo sobre o Uno.
Com a persuasão vem a tomada de decisão por consenso, pelo qual se almeja persuadir a todos, leve o tempo que levar. Desse ponto de vista, o voto parece uma aberração, pois o resultado leva à vitória da maioria (que pode ser apenas metade mais um), deixando sempre um resíduo (que pode ser metade apenas menos um) perdedor imensamente insatisfeito. Pondo mais lenha nessa fogueira, David Graeber não reluta em afirmar: “Eleições seriam o meio mais certo de garantir o tipo de humilhação, ressentimento e ódio que, em última análise, leva à destruição de comunidades”. Soa familiar? “Por ora”, diz ele, a democracia “está voltando aos espaços de onde se originou”, não na Grécia Antiga, não nos modernos “Estados Democráticos de Direito”, mas nos “espaços intermediários” (Possibilities: 341), lá onde imperam os Múltiplos de Clastres.
Fui atraído pela [antropologia] porque ela abre janelas para outras formas possíveis de existência social humana (David Graeber, Possibilities)
Nota
[1] As citações de A República são edição da Ciranda Cultural Editora com tradução de Fábio Meneses Santos, Livro II, 2021.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



Anacrônico, para dizer o mínimo.