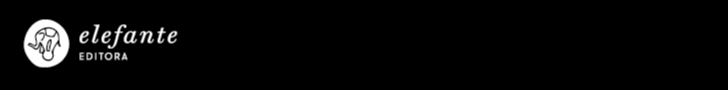Bolívia e América Latina: Nova inflexão histórica?
Modelo extrativista está se esgotando – e é preciso pensar na construção de uma economia informacional e ecológica e nas estruturas sociais correspondentes. Riqueza boliviana vai além de gás e lítio: está na capacidade de agência (e cultura de resiliência) da população
Publicado 08/09/2025 às 19:51

Por Juan Fernando Calderon Gutierrez | Tradução: Rôney Rodrigues
Tudo que é sólido se desmancha no ar, dizia um pensador clássico alemão. E efetivamente é assim. Parece que o renascimento dos Calaghan, como diria Rodó, é um fato global cada vez mais generalizado. Nos últimos 40 anos, tanto os modelos neoliberais quanto os neodesenvolvimentistas, na Bolívia e praticamente em toda a América Latina, estão se esvaindo no meio de uma policrise global multidimensional, com mudanças hiperaceleradas na tecnoeconomia da informação e das redes digitais, que estão alterando de maneira incerta a geopolítica e a geoeconomia do planeta. Novas redes de poder global emergem em um mundo multipolar em conflito permanente e em meio a pandemias, guerras, indústrias militares crescentes e redes de inteligência mundial associadas às dinâmicas da inteligência artificial. Como repensar a política, a democracia e o desenvolvimento em um contexto tão complicado e em meio a conjunturas nacionais fragmentadas, onde a lógica amigo-inimigo tende a se reproduzir? Raras vezes a fragmentação sociopolítica e cultural foi tão intensa na Bolívia e em outros países da região. No entanto, também é possível uma autotransgressão inovadora, sobretudo se incluir novos processos práticos de integração regional.
A sociedade boliviana, ao longo de sua história, com dramas e festas, criou uma cultura forte para sobreviver em momentos difíceis e para transformar situações limite em novas opções de vida. Um laço social diverso e generalizado possivelmente constitui seu principal recurso de autotransformação.
Hoje atravessamos um momento de inflexão histórica no qual as formas de democracia e desenvolvimento experimentadas durante os últimos 40 anos parecem se extinguir. Como perguntava José Medina há décadas, em outros momentos difíceis, como foi o início da revolução de 52: “Primeiro, quais são os novos suportes da nova estrutura que está sucedendo a anterior e que esta já portava em seu seio desde o início de sua decomposição? Segundo, onde se encontra o último fundamento da prise de conscience [tomada de consciência] que abre, com o novo ciclo econômico, a fisionomia do futuro imediato?”.
As sociedades se transformam e se recriam no meio de relações de poder onde o local e o nacional se articulam cotidianamente com uma globalização mutante. Nas últimas quatro décadas, tanto sob um neoliberalismo generalizado quanto sob um neodesenvolvimentismo estatal indigenista, no caso da Bolívia, organizado por líderes carismáticos, geraram-se novas realidades. Como destacamos na pesquisa de 11 casos nacionais na região (Navegar contra o vento. América Latina na era da informação, UNSAM) e no livro com Manuel Castells, A nova América Latina, vêm ocorrendo mudanças econômicas estruturais, políticas e socioculturais notáveis, que hoje precisam ser geridas e inovadas para que se possa viver melhor.
Entre essas mudanças, destaca-se uma nova “economia extrativista informacional” que permitiu que a região crescesse, que recursos fossem distribuídos ou concentrados, mas impediu o surgimento de novas opções de desenvolvimento econômico informacional socialmente integradas e ecologizadas. Os latino-americanos estamos presos há séculos a uma cultura extrativista-comercial e seus derivados, frequentemente com consequências nefastas para a natureza. Por outro lado, a América Latina e a Bolívia já são um território hiperurbanizado e policêntrico. É visível o boom imobiliário nas principais cidades, associado ao capital financeiro e à especulação urbana, e com o fortalecimento dos mais ricos, antigos e novos, assim como à expansão de uma economia informal urbana de comércio, contrabando, subemprego e pobreza, e de organizações sindicais e territoriais prebendárias, com uma cultura e uma lógica predominantemente fragmentárias, associadas ao uso crescente e ao consumo de redes de comunicação que não produzimos, mas das quais nos alimentamos. Hoje, a política digital está no centro da opinião pública. Outra mudança importante refere-se ao crescimento e à complexificação de uma economia criminal global que já funciona em redes informacionais globais, que contribuem para o crescimento de um capital financeiro sem país, mas também é fundamental reconhecer mudanças demográficas e político-culturais em uma sociedade patriarcal com sérios problemas de reprodução. Do lado da ação coletiva, há uma nova dinâmica e onda de conflitos e protestos socioculturais associados à desigualdade e ao mal-estar humano, vinculados em boa medida à dignidade e aos direitos humanos em vários âmbitos, como os de gênero, de ética na política, étnico-culturais, ecológicos etc.; mas também se destacam movimentos ultraconservadores com traços autoritários e religiosos de mercado. Hoje, os sistemas políticos e os Estados têm sérios problemas de reprodução ou simplesmente estão em crise.
Certamente, uma visão de conjuntura é insuficiente para compreender a inflexão em curso. Para compreender melhor a conjuntura, é fundamental ter uma visão histórica de longo prazo, entre outras coisas, para sair dessa prisão de ideias de longa duração, como argumentava Braudel, como a prisão que supõem uma economia e uma cultura política extrativista e jurídico-institucional associadas a redes clientelares e burocráticas de poder e corrupção, que é de origem colonial e é uma forte barreira para a inovação e o desenvolvimento. Mas também é fundamental revalorizar a cultura histórica de resiliência e inovação das diferentes classes e estratos socioculturais e, sobretudo, a necessidade de fortalecer sistemas de comunicação entre diferentes com base em uma melhor forma de conviver em um estado do público.
No longo prazo, é fundamental compreender a sobreposição sociocultural e a história das ideias e dos atos dramáticos da sociedade boliviana. Sociedades abigarradas, denominava Zavaleta, pensando nas sociedades latino-americanas, e Braudel, no Mediterrâneo. Diferentes tipos de relações sociais históricas sobrepostas no presente, que vêm do passado e que mudam para se reproduzir.
Na Bolívia, podemos mencionar distintos momentos em que essa sobreposição se expressa: desde o texto “A Pedagogia Nacional” de Tamayo, no início do século XX, que valoriza a luminosidade aimara até a riqueza comunitária das culturas guarani, como as da Chiquitanía (valorizada também pelo socialismo francês como uma das primeiras utopias humanistas), passando pela trágica guerra do Chaco até a revolução de 52, onde estruturas sociais territoriais (comunidades camponesas) e funcionais (sindicatos) reproduziram uma estrutura de poder baseada em enormes conquistas sociopolíticas (voto universal, reforma agrária e urbana, nacionalização das minas, com milícias armadas de mais de 50 mil pessoas, etc.), mas coexistindo ao mesmo tempo com uma estrutura e uma cultura de poder patrimonialista e corporativa que se reproduziu até a atualidade, para além das importantes conquistas socioculturais, e que hoje se redefinem. Sem entender essa dinâmica, não se pode compreender as conquistas e as deficiências políticas atuais.
Uma visão de longo prazo permite entender melhor a inflexão em curso. No entanto, é preciso lembrar que nem tudo que termina se acaba. A sociedade boliviana, e em geral as latino-americanas, necessitam, para se revalorizar, conjugar reciprocamente estabilidade social e econômica no marco de uma política construtivista dos diferentes atores que seja uma ponte para consensos práticos. Como dizia Vattimo, para uma situação de inflexão como a atual, a verdade política constrói-se com base em acordos entre atores opostos.
Em uma abordagem construtivista deliberativa da política, é fundamental lograr acordos procedimentais com capacidade de agência entre atores opostos. É consensuar solidamente os procedimentos para resolver os conflitos e as visões fundamentais, não apenas anunciando-os, mas também participando de sua evolução temporal e, sobretudo, dos resultados alcançados. Isso pressupõe uma inclusão do diverso, ou seja, uma ordem plural, institucionalmente conflitiva e aberta. A democracia é, por definição, um regime político aberto, conflitivo e inacabado. Hoje, dadas as tendências empíricas dos comportamentos diversos e complexos das sociedades, não há capacidade por parte de nenhuma delas de ser hegemônica. Consequentemente, o exercício do poder democrático que atua no mercado e no Estado precisa reconhecer seu pluralismo territorial, étnico, social etc. É necessário produzir uma espécie de Estado do público que atue em nível global. A democracia precisa ser renovada para enfrentar a conjuntura atual e, sobretudo, a policrise global mencionada, e para isso é crucial retomar, em nível nacional, uma ideia da política como um sistema político-cultural de reconhecimentos recíprocos.
Na conjuntura atual boliviana, independentemente de quem vença a eleição final, é possível um cenário de transição “cesarista pragmática” que pressuponha a gestão de conflitos e interesses associados ao que chamávamos há anos, com Mario dos Santos e outros, de “governabilidade sistêmica”. Isto é, um consenso mínimo por parte dos diversos atores e interesses em torno do funcionamento das instituições, da estabilidade econômica e, sobretudo, de um mínimo de equidade e estabilidade social. Não para dar um salto histórico, mas para criar as condições para que este se produza mais adiante. E, nesse sentido, parece crucial começar a criar espaços de comunicação para que a sociedade e seus atores intelectuais estudem e debatam com realismo empírico e histórico sobre um futuro desejável e possível de uma nova sociedade digital, digna e genuína. Se prevalecerem metas absolutistas de um poder excludente, possivelmente os cenários de fragmentação e caos serão possíveis.
Na atual conjuntura de disputa de poderes globais, estão se delineando novas formas de dominação onde políticos e Estados poderosos, com seus diversos sistemas digitais e a competição das grandes empresas tecnológicas, estão produzindo uma nova geopolítica e geoeconomia mundiais, modificando a realidade global em nível nacional, regional e local. Trata-se de uma espécie de reestruturação de poderes. Aí, o Sul do mundo, particularmente a América Latina – hoje relativamente fragmentada –, necessita de uma política construtivista regional que construa plataformas globais tecnológicas e educacionais complementares entre países e territórios para ter um poder de voz na nova globalização. Talvez as políticas recentes de acordos entre México e Brasil caminhem nesse sentido.
Daí o caráter estratégico de uma educação inovadora que vincule as ciências duras com as sociais e a arte, e analise empírica e criticamente as novas realidades, além de experiências históricas em nível global, como, por exemplo, as do Sudeste Asiático, como o caso da Malásia, o estado de Kerala na Índia, ou os casos de estudo de inovação local com inclusão no sul global, como analisam os estudos de J. Shutz e R. Aracena, Fernando Peirone, ou Marcelo Sili, Andres Kozel, e sobretudo as experiências inovadoras ecológicas e informacionais que ocorrem na cidade de El Alto e na de Santa Cruz, como nas comunidades de Charagua ou Urubichá, ou a de milhares de migrantes que caminham criando redes complementares territoriais nacionais e globais e comercializam por todas as partes do território. Recentes relatórios da CEPAL e do ILPES também estão explorando um novo caminho territorial em um mundo cada vez mais glocal.
Há anos, em 1994, foi à Bolívia o economista paquistanês Mahbub ul Haq, que foi o criador da abordagem de Desenvolvimento Humano da ONU e assessor do primeiro plano quinquenal da Coreia do Sul, entre outras aventuras. Durante sua visita, passou o tempo caminhando pela cidade de El Alto, perguntando e perguntando… e observando. Antes de partir, em uma Conferência, disse que havia encontrado em El Alto o mesmo que nos anos 50 encontrou na Coreia do Sul e que foi o segredo de seu desenvolvimento: habilidades, honestidade e cumprimento dos compromissos de dívida. Para ele, o desenvolvimento da Bolívia não estava nem no gás nem em seus outros recursos naturais; considerava esses recursos apenas um meio. E sustentou que o centro do desenvolvimento humano está nas habilidades e nos compromissos de agência de seus atores. Temos que aprender conosco mesmos, mas também com o mundo, e somente a educação e a cultura podem tornar isso possível.
Será possível que a Bolívia se desenvolva no meio de uma nova “interdependência assimétrica” global e regional? Como se religar com a região, e particularmente com os países vizinhos, para construir alianças estratégicas a fim de ter uma voz importante no mundo no contexto de uma sociedade digital mutante? Será possível refundar um latino-americanismo prático, com capacidade de agência, centrado em processos de inovação informacional, ecológica e sociocultural? Ou permaneceremos no atraso e na nostalgia?
Uma abordagem inovadora do desenvolvimento humano ou da própria “Transformação Produtiva com Equidade” elaborada pela CEPAL teria que colocar como sujeito e objeto do desenvolvimento a dignidade humana associada intrinsecamente aos direitos humanos e, a partir daí, repensar como construir uma economia informacional ecologizada. Aí, o papel da educação se mostra estratégico, assim como uma espécie de nova pedagogia dos diversos atores socioculturais, o que supõe necessariamente fortalecer as habilidades humanas para fortalecer ou construir uma capacidade de agência que vincule metas a resultados. Os atores inovadores do futuro precisam manejar e conjugar os códigos da modernidade, com conhecimentos e destrezas para participar da vida pública, com os códigos informacionais, referidos à capacidade de comunicar, combinar, interagir em rede e gerar assim novos significados humanos do desenvolvimento. A capacidade de agência precisa se expandir como a principal força de inovação social inclusiva e regional.
Isso implica criar condições político-institucionais, econômicas e sociais que a política construtivista poderia produzir…
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.