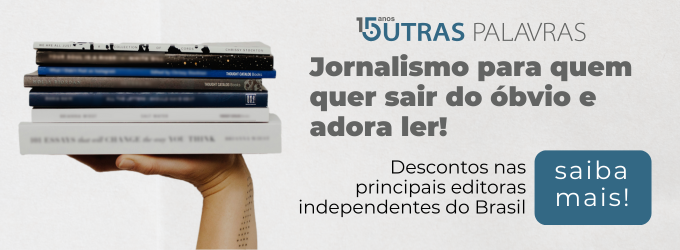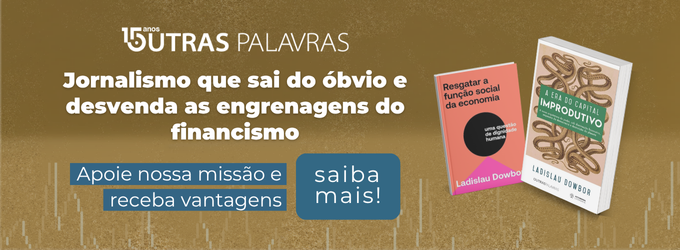Rock e melancolia na sociedade capitalista
Análise de álbum da banda estadunidense Smashing Pumpkins, que expressa os dilemas da juventude dos anos 90. O mal-estar é marcado pela ofensiva neoliberal e trabalhos precários. E uma ansiedade flutuante: sensação de ser “rato engaiolado” e desejo de abalar os alicerces do sistema
Publicado 20/10/2025 às 17:02 - Atualizado 20/10/2025 às 17:03

Completam-se este mês os trinta anos do álbum duplo Mellon Collie and the Infinite Sadness, lançado pela banda The Smashing Pumpkins. O álbum consagrou a banda como uma das mais importantes da década de 1990. Muito de sua repercussão se deve ao fato de ter expressado dilemas, preocupações e perspectivas vivenciadas pela juventude naquele contexto. Na época de seu lançamento, dizia-se na imprensa que o álbum expressava “o enorme vazio existencial inerente à natureza humana”, definindo-o como “um épico contundente de 28 faixas com versos profundos e dilacerados”.1
The Smashing Pumpkins é uma banda norte-americana criada em Chicago, no ano de 1988. Sua formação original contava com Billy Corgan (vocais e guitarra), James Iha (guitarra), D’arcy Wretzky (baixo) e Jimmy Chamberlin (bateria). O álbum de estreia da banda, Gish (1991), foi bem recebido pela crítica e se tornou um sucesso no cenário underground, contando com músicas como “I Am One”, “Siva” e “Rhinoceros”. O segundo álbum, Siamese Dream (1993), também teve grande sucesso, impulsionado por músicas como “Disarm”, “Cherub Rock” e “Today”.
Em 24 de outubro de 1995, foi lançado o álbum que consagrou a banda, Mellon Collie and the Infinite Sadness, tendo recebido ótima recepção de público e da crítica e contando com sucessos como “1979”, “Tonight, Tonight” e “Bullet with Butterfly Wings”. Os videoclipes dessas músicas repercutiram na televisão pelo mundo. Segundo se comentou na época do lançamento, “o disco se equilibra entre baladas e rocks pesados, entre poesia e realidade, entre amor e tristeza”.2
Essa percepção que se tinha do álbum se relaciona em grande medida com o contexto da época, marcado por mudanças na sociedade e pelos impactos ideológicos impostos pelas determinações das relações capitalistas. O período está marcado por um processo de transformação na organização do trabalho e por uma ofensiva ideológica que apontava para a dominação capitalista. No primeiro caso, concretiza-se a implantação do toyotismo na forma de organização do trabalho, imperando a ideia de flexibilidade. No segundo caso, mostra-se a difusão do neoliberalismo como ideologia, apregoando o esforço individual, a privatização de políticas públicas como educação e saúde e o conformismo frente à exploração capitalista e a outras formas de opressão. Esse processo tem relação com o colapso da União Soviética, que
“[…] deixou os Estados Unidos como a única superpotência e marcou a vitória da economia de mercado sobre o socialismo. O mundo não mais se dividia em termos ideológicos. Podia não ser o fim da história proclamado por Fukuyama, mas, pelo menos, acreditava-se que era o início de uma nova era — e, por uns poucos anos, parece ser esse o caso”.3
Um dos poucos consensos que havia no período passava pela percepção de que o mundo estava passando por mudanças. O capitalismo, em sua nova forma, buscava
“[…] uma maneira muito menos constrangedora e menos onerosa de garantir a sua sorte: não mais continuar a reforçar a dominação segunda que produzia sujeitos submissos, mas quebrar as instituições e assim acabar com o tomar o encargo da dominação primeira de maneira a obter indivíduos dóceis, precários, instáveis, abertos a todos e todas as variações do mercado”.4
Esse processo de dominação não buscava mais se dar por meio da repressão ou da violência explícita, mas afetando a subjetividade das pessoas. Ele visava
“[…] o núcleo primeiro da humanidade: a dependência simbólica do homem. Não é surpreendente, pois, que nosso espaço social se encontre cada vez mais invadido pela violência comum, pontuada por momentos de acme de hiperviolência, acidentes catastróficos que as condições ambientais tornam, doravante, sempre possíveis. O círculo é assim fechado: a lógica neoliberal produz sujeitos que, funcionando precisamente na lei do mais forte, ainda reforça essa lógica”.5
Esse processo aparece nas letras da banda The Smashing Pumpkins, em seu álbum lançado há trinta anos, como quando se remete às condições materiais relacionadas ao trabalho e como isso impacta a vida das pessoas. Remete-se, mais especificamente, à exploração econômica, que acaba ganhando a expressão simbólica na letra da música “Bullet With Butterfly Wings”, cujos versos iniciais eram bastante evidentes acerca da percepção do contexto:
O mundo é um vampiro,
Enviado para sugar
Destruidores furtivos,
Seguram você nas chamas
E o quê que ganho?
Pela minha dor?
Desejos traídos,
E uma peça do jogo.
Na letra, mostra-se a ideia do mundo como algo que suga a vida das pessoas e que, em resposta, entrega sofrimento. Essa sociedade que desgasta o ser humano, dentro de uma realidade que lhe entrega sofrimento, cria o que se poderia ser chamado de “novo sujeito precário”.6
Na letra também está bastante explícita a condição de degradação provocada pelo trabalho naquele contexto. Diante dessa percepção da realidade, as respostas podem ser bastante diferentes, passando tanto pela paralisia diante do mundo cruel como pela perspectiva que coloca um cenário de algum tipo de mudança. Nessa letra, especificamente, é cantado: “Apesar da minha fúria sou apenas um rato engaiolado”. Ou seja, remete-se a um ser que não encontra saída na realidade em que está inserido.
Em outra música do álbum, mostra-se uma perspectiva menos pessimista em relação à mudança. A música “Tonight, Tonight” traz a mensagem de “acredite”, repetida em sequência várias vezes, concluindo na ideia de “que a vida pode mudar, que você não está preso em vão”. Esse otimismo ganha mais força ainda em outro momento da música:
Nós crucificaremos a falsidade nesta noite, nesta noite
Nós consertaremos as coisas, sentiremos tudo nesta noite, nesta noite
Nós encontraremos uma forma de oferecer a noite, nesta noite
Os momentos indescritíveis da sua vida, nesta noite
O impossível é possível nesta noite, nesta noite
Acredite em mim como eu acredito em você.
Por um lado, percebe-se a ideia de prisão, ainda que apontando para a possibilidade de mudança. Outra passagem marcante fala da possibilidade de mudança, mesmo que isso se mostre difícil ou mesmo impossível. Esses elementos mostram uma percepção da necessidade de mudança, que acabou por se expressar de diferentes formas na época. Em outros momentos, o rock expressou críticas à sociedade, em especial diante de guerras ou pela expressão anárquica das primeiras bandas de punk. Contemporâneo à The Smashing Pumpkins também houve expressões explicitamente politizadas, como as letras da Rage Against the Machine, uma tentativa de não apenas criticar sintomas da sociedade, como as guerras, mas de encontrar saídas superando a raiz dos problemas enfrentados — portanto, da sociedade capitalista.
Essas formas de encarar a sociedade e sua possível mudança estão ligadas à subjetividade produzida no período. Observa-se, nessa época, que as “lutas políticas tendem a não ser mais descritas a partir de termos eminentemente políticos, como justiça, equidade, exploração, espoliação, mas através de termos emocionais, como ódio, frustração, medo, ressentimento, raiva, inveja, esperança”.7 Nesse processo, “o sofrimento tem uma valência política incontornável”, na medida em que “ele liga os assuntos: a alimentação com a pobreza, a miséria com a família, a família com o Estado, o Estado com a saúde, a saúde com a maneira estética de viver o corpo e assim por diante”.8
Outro aspecto que se destaca nesse contexto nas músicas da The Smashing Pumpkins passa pela ideia de aceleração do tempo. Expressão dessa ideia pode ser considerada a expressão “urgência do agora”, que aparece em duas das músicas mais conhecidas de Mellon Collie and the Infinite Sadness, “1979” e “Tonight, Tonight”. Os versos iniciais de “Tonight, Tonight” também mostram essa percepção de fugacidade do tempo:
Tempo nunca é somente tempo
Você nunca conseguirá partir sem deixar uma parte da juventude
E nossas vidas foram mudadas para sempre
Nunca mais seremos os mesmos
Quanto mais você muda, menos você sente.
Essa temática da relação entre presente e futuro também aparece na letra de “Thirty-Three”, quando se fala: “O amanhã é apenas uma desculpa distante”. Essas são ideias que remetem a juventude e amadurecimento ou, ao menos, a passagem do tempo. Na música “1979” também se toca nesse tema, remetendo-se a uma época da vida em que se está à beira da idade adulta, mas ainda preso na inocência da adolescência. Essa percepção fica evidente em algumas passagens da música, como quando se fala:
E eu nem sequer me importo
Em provocar essas memórias melancólicas
E nós não sabemos
Exatamente onde nossos ossos
Descansarão até virar pó, eu acho
Esquecidos e absorvidos
Debaixo da terra.
Essas questões remetem ao problema de uma categoria social que se vê diante de uma sociedade em transformação, onde o trabalho “não define mais lugar social na produção das riquezas. Os bens de consumo são expostos profusamente enquanto o emprego se torna raro e precário e frequentemente se torna desqualificado”.9 Com isso, a juventude se encontra “espremida numa espécie de peneira entre a escola e o emprego, com necessidades crescentes conjugadas com a falta de recursos próprios”.10
Observa-se uma situação em que formas de sofrimento ganham grande força nessa sociedade. Nas músicas, observa-se que os diferentes sintomas “exprimem e se articulam em uma narrativa de sofrimento”, que “se embaralham com a história da vida das pessoas, seus amores e decepções, suas carreiras e mudanças, seus estilos e escolhas de vida, suas perdas e ganhos”.11 Esse ser não consegue vislumbrar um lugar no mundo onde consiga se encaixar. Diante disso,
“[…] o isolamento, a introversão ou a introspecção são respostas subjetivas que nem sempre são uma opção ou se iniciam como uma ‘escolha livre’, mas que gradualmente podem assumir o feitio de um processo incontrolável, no interior do qual isolamento gera isolamento”.12
O tema do isolamento e da solidão não passaram despercebidos em letras de músicas presentes no álbum. Na música “In The Arms Of Sleep”, apresenta-se uma balada melancólica que explora temas de desejo, solidão e a busca por conforto emocional. Fala-se assim:
O sono não virá
Para este corpo cansado agora
A paz não virá
Para este coração solitário.
Este é um ser cansado que não consegue encontrar seu lugar no mundo. Esse sofrimento pode estar relacionado à ideia de fracasso e de sucesso, que permeiam a construção do ser em sociedade. Nesse processo,
“[…] a incerteza quanto às verdadeiras razões do sucesso ou do fracasso engendram uma forma de dívida difusa e de ansiedade flutuante. O sentimento é de que algo foi abolido sem deixar testemunho ou história e que, cedo ou tarde, um fantasma virá cobrar sua parte em vingança”.13
Esse processo redunda no sofrimento ou mesmo no adoecimento, em que o sujeito pode inclusive perder a vontade de viver. Esses são elementos da constituição do sujeito que vivenciou a década de 1990, mostrados nesse grande álbum da The Smashing Pumpkins. Sua melancolia expressa “sentimento de perda de si”, remetendo-se “ao descaminho das experiências que nos fizeram ser o que somos”.14 Suas músicas, além de expressarem esses dilemas ou mesmo sofrimentos, podem ser consideradas uma forma de interpretar aquela realidade em processo e indicar caminhos percorridos por pessoas que, naquele contexto, se constituíram enquanto sujeitos encarando um mundo em transformação.
Referências
1 Smith, Abonico R. Barulho no vazio. Show Bizz, ano 11, nº 12, p. 72.
2 JOORY, Eva. Smashing Pumpkins ousa em disco novo. Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, São Paulo, quarta-feira, 1 de novembro de 1995, ano 75, nº 24.318, p. 3.
3 STIGLITZ, Joseph. Os exuberantes anos 90. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 33.
4 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 197.
5 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 198.
6 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 198.
7 SAFATLE, Vladimir. A economia é a continuação da psicologia por outros meios. In: DUNKER, C.; SILVA JÚNIOR, N.; SAFATLE, V. (orgs.). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. São Paulo: Editora Autêntica, 2021, p. 21-2.
8 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 215.
9 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 204.
10 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 204.
11 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 212.
12 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 21.
13 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 199.
14 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 49.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras