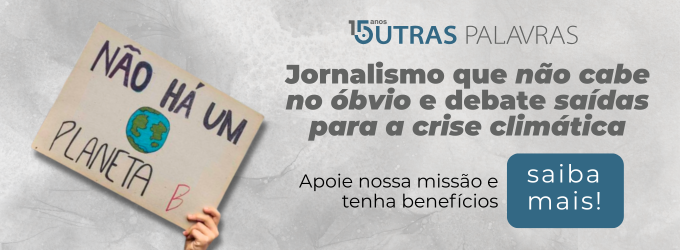Poderá o jornalismo sobreviver à internet?
Livro recém-lançado toca em questões cruciais do fazer jornalístico no século XXI: trabalho precário, desinformação, “objetividade”. Também sustenta: em meio à fragmentação das redes sociais, atividade é essencial à defesa do espaço público e da própria democracia
Publicado 10/04/2025 às 19:56 - Atualizado 10/04/2025 às 20:15

Por Rafael Bellan
MAIS
O texto a seguir é o posfácio de “Jornalismo, trabalho e Marxismo”, de Rafael Bellan, publicado pela Editora da Universidade Federal do Espírito Santo (Edufes)
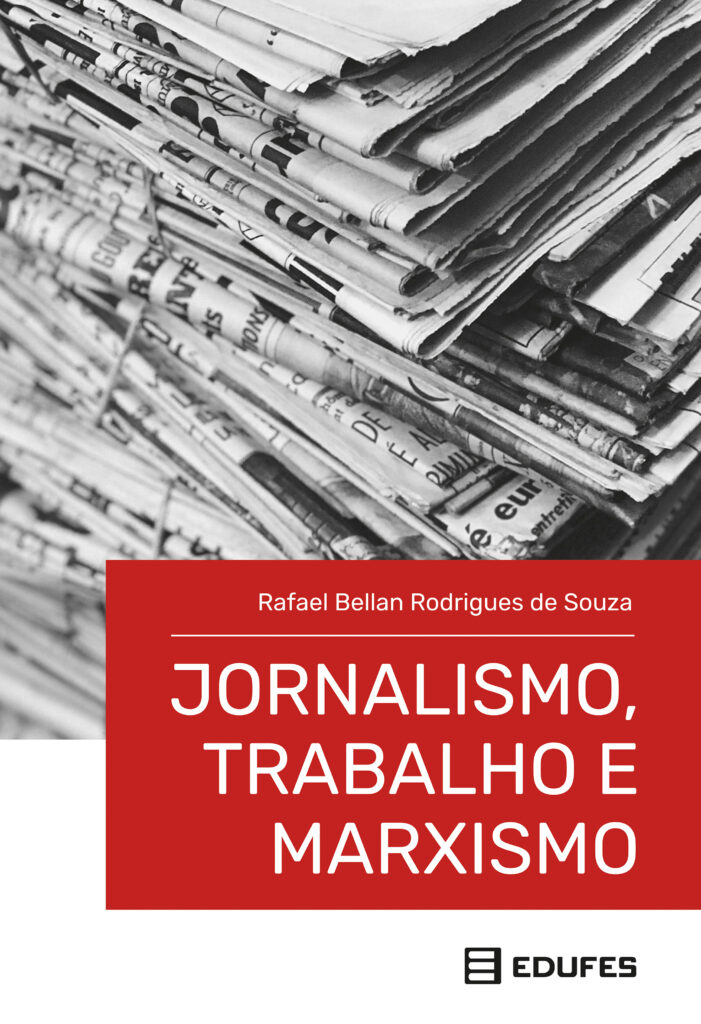
As mudanças estruturais do sistema midiático contemporâneo acompanham, com certa dose de autonomia, os processos de acumulação financeira no bojo do desenvolvimento do capital no século XXI. A propalada crise do jornalismo surge como um epifenômeno de uma crise profunda que afeta a contradição entre capital e trabalho. O jornalista torna-se, cada dia mais, um trabalhador da informação (NEVEAU, 2010) flexível e passa a ser constantemente interpelado por formas intensas de precarização e exploração (FIGARO, 2013). O sistema sociometabólico do capital (MÉSZÁROS, 2002) ganha novos contornos com o advento do capitalismo de plataforma (SCHOLZ, 2016) – identificado também na literatura crítica como capitalismo big data (FUCHS, 2019) e capitalismo comunicacional (DEAN, 2005). Porém, independente da caracterização operacional, o capital ainda pode ser entendido como um “motor econômico e suas racionalidades econômicas irracionais associadas” (HARVEY, 2016, p. 246). Assim, perpassam pela sua dominação social os intensos mecanismos de alienação e reificação.
O amálgama do modelo de produção e reprodução social com a tecnologia informacional surge como o território no qual se expressa a produção jornalística, em que os produtos circulam na esfera midiática da internet e são conduzidos pelos fluxos das redes sociais privadas. Além disso, a elaboração das rotinas produtivas é delimitada pela mediação desses aparatos e dispositivos, o que altera os mecanismos tradicionais de elaboração das notícias. A práxis noticiosa no século XXI, assim, enreda-se na subsunção ao capital, potencializando a alienação e o estranhamento. “A violência da tecnologia está na maneira como ela corta o elo entre a pessoa e a interação sensorial com o mundo” (HARVEY, 2016, p. 246).
A amarração do trabalho jornalístico nas tecnologias do capitalismo comunicacional potencializa formas arrojadas de alienação na subjetividade dos jornalistas, aparecendo como fator limitante do potencial do trabalho em sentido humanizador. Ao tratar de alienação, a linhagem marxista defendida por Mészáros (2006) resgata os quatro sentidos principais da categoria, ou seja, os dispositivos de estranhamento em relação à natureza, ao homem em si mesmo por meio da alienação de sua atividade produtiva, ao homem com seu ser genérico e ao homem com seus próximos. Em linhas gerais, a alienação seria a perda de controle da humanidade sobre sua produção, transferida para uma “força externa que confronta os sujeitos como um poder hostil e potencialmente destrutivo” (p. 14). Ao pensar esse contexto no interior da nova configuração da ascensão tecnológica das redes de informação, percebe-se a ampliação de processos de reificação das práticas sociais, em especial as comunicativas. Essas novas formas afetam o trabalho jornalístico na maior parte de suas expressões, o que envolve o enxugamento das redações não só pelos passaralhos constantes, mas também pelas novas iniciativas que operam na órbita do modelo produtivo hegemônico e, assim, dependem dos algoritmos das redes para alcançar visibilidade. Ou seja, há um controle externo, privado, capitaneado pelas classes dominantes, que delimita o pôr teleológico (LUKÁCS, 2013) do repórter.
A alienação do jornalista como trabalhador da informação se dá principalmente com o reconhecimento, na esteira de Morozov (2018), de que a regulação algorítmica, independente de seus possíveis benefícios, caminha para a criação de um domínio privado direcionado pelas empresas de tecnologias, o que as coloca como arquitetas do neoliberalismo. Esse fenômeno se atesta pelas aceleradas mudanças, consolidadas pela exploração de dados, que transforma os detalhes da vida de um indivíduo em funções mecânicas a serem ajustadas pela corporação privada. A tecnologia informacional surge como “uma arma apontada aos fracos e pobres” (MOROZOV, 2018, p. 173), ampliando as formas de reificação do capitalismo tardio.
Os modelos de gestão flexível e algorítmica, a intensa individualização dos trabalhadores, vistos como empresas de si mesmos, a multifuncionalidade e a disponibilidade total para as atividades são algumas características da expropriação do intelecto do trabalhador pelo capital. O momento contemporâneo do sistema de metabolismo do capital tem se manifestado como produto e produtor de avatares tecnológicos emergentes como “plataformas, big data, fabricação aditiva, robótica avançada, aprendizagem automática […] e internet das coisas” (SRNICEK, 2018, p. 9, tradução nossa). O foco nas ditas plataformas coloca-se em tela por conta de um novo modelo de negócios, monopolizados por gigantes high tech, que extraem e controlam uma quantidade enorme de dados. Nesse ínterim, as plataformas são mecanismos do capitalismo financeiro para gerar rentabilidade e produzir negócios com os recursos adquiridos por meio da circulação de informação. Com a crise manifestada em 2008, os investimentos em tecnologia passam a conduzir a necessidade do capital em recuperar a taxa de lucros perdidos nas últimas décadas, algo atestado por Mészáros (2002) como parte dos terremotos que afetam a estrutura do sistema.
No mundo do trabalho, a informalidade, as subcontratações e a deterioração de direitos historicamente constituídos já estavam em andamento, mas é inegável o quanto a nova economia de compartilhamento impulsiona esses mecanismos, principalmente com uma massa depauperada e desempregada em busca de alternativas de renda (SCHOLZ, 2016).
Entendendo as plataformas como “infraestruturas digitais que permitem que dois ou mais grupos interajam” (SRNICEK, 2018, p. 45, tradução nossa), percebe-se que a intermediação comunicativa de usuários, assinantes, clientes, anunciantes, provedores de serviços, mercadores, distribuidores etc. produz uma esfera em que transações econômicas são promovidas. Quem controla as plataformas, portanto, gere os formatos e as regras do jogo, potencializando a circulação e a produção de mercadorias e serviços. Essas esferas digitais tornam-se, assim, infraestruturas básicas para a realização dos negócios capitalistas.
Antunes (2018) aponta que os trabalhadores vinculados às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) experienciam formas de reificação específicas desses setores do ramo “intelectualizado”, visto que as plataformas traçam novas maneiras de envolvimento da subjetividade na interação existente entre o trabalho vivo e a maquinaria informacional.
Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, é necessária uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e a nova “máquina inteligente”. Nesse processo, o envolvimento interativo maquínico pode intensificar ainda mais o estranhamento do trabalho (ANTUNES, 2018, p. 107).
Esse desenvolvimento cria rachaduras na vida cotidiana, distanciando o homem de uma vida autêntica e autodeterminada.
O trabalho jornalístico tem sido capturado em suas mediações produtivas e na circulação de seu produto (que caça audiências para as redes) pela estrutura informacional das TICs. A particularidade de sua atividade situa-se cada dia mais na valorização do valor, mas claramente resultante de um “trabalho social, coletivo, complexo e combinado” (ANTUNES, 2018, p. 51, grifo do autor).
O trabalhador da informação, o jornalista, portanto, compõe a classe trabalhadora ampliada que se expande globalmente, sendo alvo da alienação universal que acomete o modo de produção capitalista em tempos de cooperação complexa mediada por máquinas informacionais. Além disso, o trabalho vivo do jornalista torna-se o capital variável diante da automatização do setor da produção material (BOLAÑO, 2018). Nesse contexto, o jornalista enfrenta as consequências de uma extrema ampliação, na gestão de seu trabalho e na circulação do produto noticioso, de mecanismos dados por um novo estágio da exploração do trabalho, via TICs e plataformas digitais.
O termo “novo” diz respeito a existência de um aprofundamento e radicalização da subsunção real do trabalhador ao capital a partir da utilização das plataformas digitais, sendo que tal radicalização decorre da capacidade existente nas plataformas de gerenciar em tempo real todas as atividades desempenhadas pelo trabalhador coletivo à ela subordinado, aumentando assim o controle do capital sobre o processo de trabalho e, consequentemente, atualizando como os processos de produção tipicamente capitalistas se expressam na contemporaneidade (AMORIN; MODA, 2020, p. 62).
A total subsunção real dos jornalistas ao capital ainda aparece como uma tendência dada pelo crescimento da plataformização de suas frentes de ação. Figueiredo (2018), por exemplo, aponta que há uma impossibilidade da subsunção real do trabalho jornalístico ao capital. Para ele, a relação com as fontes, desenvolvida de forma muito própria por cada profissional, a estética textual, também específica e dependente de certo talento desenvolvido e a necessária apuração e interpretação do material coletado são características insubstituíveis pela maquinaria do capital. Todavia, o grau de estranhamento envolvido na mecânica do trabalho jornalístico é capaz de (como item do pacote das mediações de segunda ordem) distanciar os repórteres de uma possibilidade crítica e da potencial superação da reificação turbinada pelas TICs.
Os modelos de atuação do jornalista nos ambientes digitais, nas chamadas redações virtuais, e a sempre cobrada interação desses trabalhadores nas redes sociais demonstram o quanto suas rotinas produtivas são atravessadas pelas plataformas. A gestão do trabalho utiliza de mecanismos que, longe de dominar o complexo, como a Uber, modificam a relação entre os tempos de trabalho e da vida1 e intensificam o domínio sobre o trabalho, hegemonicamente direcionado pela lucratividade dos conglomerados de comunicação digital, que dominam, via seus algoritmos, a mediação jornalística com a sociedade.
A ascensão do perfil do empreendedor de si mesmo, trabalhador informal sem direitos trabalhistas, que no Brasil é a regra, coloca em cena uma contradição entre o futuro do trabalho, a mudança tecnológica e o papel da mão de obra para o capital. A ideologia difundida aponta que as inovações tecnológicas são decisivas para a lucratividade diante dos concorrentes, mas a imensa exclusão dada pelo desemprego estrutural traz “um gigantesco excedente de populações redundantes potencialmente rebeldes” (HARVEY, 2016, p. 107).
Não obstante, a alienação universal empreendida pelo sistema sociometabólico do capital tiraniza a subjetividade, expandindo uma personalidade típica adequada à forma hegemônica de produção mediada pelas TICs. Há, nesse desenvolvimento, uma hiperinflação da individualidade, colocando os trabalhadores no papel de empresas, contaminados pela lógica contábil de perdas e ganhos, flexíveis em todos os complexos de sua sociabilidade e com seus pores teleológicos (LUKÁCS, 2013) aviltados pela expansão irrefreável do capital, que se multiplica nas redes aliado à corrosão e à expropriação da força de trabalho.
Contaminados pelo espírito comercial e escravizados pela universalização da forma-mercadoria, os trabalhadores do século XXI são desumanizados e tornam-se ferramentas da reificação das relações sociais. “A realização egoísta é a camisa-de-força imposta ao homem pela evolução capitalista, e os valores da ‘autonomia individual’ representam a sua glorificação ética” (MÉSZÁROS, 2006, p. 237). O individualismo burguês, agora reprojetado no epíteto de perfil na seara das big techs, apenas amplia o abismo entre os homens.
De forma particular, os jornalistas são profissionais que têm passado por uma gradual aceleração desses estranhamentos e, com a transformação da infraestrutura de seu trabalho, são interpelados pelas plataformas digitais nas gramáticas operacionais de seu trabalho (rotinas produtivas) e na difusão do conteúdo produzido no campo das mediações algorítmicas das plataformas de publicidade (SRNICEK, 2018). O jornalismo hegemonizado pela mediação digital e as mutações advindas da ascensão dos smartphones e do consequente aumento do alcance das redes sociotécnicas produziram novos modelos de atuação para o profissional da comunicação.
A tão criticada figura do jornalismo sentado, que significa a apuração feita de forma aligeirada, à distância dos acontecimentos, corre, assim, o risco de virar regra. A possível práxis noticiosa que poderia contribuir em processos de conhecimento do singular, cristalizado pelo jornalismo (GENRO FILHO, 2012), é fagocitada pelas regras e limites da maquinaria informacional dos grandes conglomerados da internet. Esse movimento cimenta duas tendências contraditoriamente próximas, a saber:
- o estranhamento da subjetividade do repórter, interpelado em sua atividade pelas plataformas de comunicação (que amplia o controle dos contratantes) e
- na difusão alienada de seu produto nas malhas das redes sociais, constrangido pelos ditames da arquitetura dessas redes em favor da economia da atenção.
Nesses fluxos de quantificação de interações e exploração de dados, a veracidade dos conteúdos não é o mais importante, já que a amplitude do irracionalismo circula com rapidez no ecossistema tecnológico do capitalismo tardio. O exemplo das propaladas fake news é uma expressão fenomênica da comunicação nas redes informacionais. Os agentes que comandam a plataformização no setor jornalístico incutem, de forma negativa, a positividade social dessa prática, como dito, centrada na disseminação de conhecimentos capazes de oferecer uma cartografia dos fatos sociais.
A intensificação dos processos de alienação dados pelo capitalismo em momento de plataformização do trabalho acomete os jornalistas do ponto de vista não só do enfraquecimento de sua subjetividade e corrosão de seu papel enquanto sujeito histórico, mas também de um conjunto de epifenômenos que se manifestam na condição precária da profissão. Além do desemprego estrutural, da multifuncionalidade, da disponibilidade total e de remunerações e contratos flexíveis, há altos riscos para a saúde dos repórteres.
Outra questão relevante a ser destacada é que a “bomba-relógio” das jornadas excessivas começa a produzir seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do jornalismo, em uma categoria em que 45% trabalham além de 8h diárias. Contudo, avaliamos que seus sintomas estão apenas começando a aparecer, considerando a crise do modelo (empresa) de jornalismo tradicional – que tem gerado redução de postos de trabalho, aumento de jornada e precarização do exercício profissional. (PONTES; LIMA, 2019, p. 15).
A hegemonia de processos tecnológicos que cruzam a profissão, tanto na atividade laboral quanto na disseminação do produto jornalístico, adiciona novas e graves esferas de alienação humana no capitalismo manipulatório que se desenha desde a segunda metade do século passado. Ainda que não constitua a totalidade das formas de expressão jornalística, o futuro predominantemente delineado para o jornalista é de trabalhador informal precário, flexível, desregulamentado, gerido por ambientes tecnológicos informacionais e cada vez mais alheio à autonomia de seu trabalho e ao controle sobre os processos de circulação de seu produto, a notícia.
Em síntese, as transformações que afetam a classe trabalhadora na contemporaneidade relacionam-se com o contexto profissional jornalístico, consequência da sua raiz orgânica com o sistema de metabolismo social imperante. Portanto, torna-se muito difícil desvencilhar-se dessas amarras sem questionar as bases econômicas e materiais da alienação. “As possibilidades de realizações limitadas, isto é, de escapar de possibilidades de estranhamento que se limitam ao plano individual é, em princípio, bem mais restrita no capitalismo” (LUKÁCS, 2013, p. 754). Os jornalistas cada dia mais absorvem os estranhamentos decorrentes do alto grau de proletarização que, via plataformas informacionais e corrosão de direitos conquistados, adentra em suas esferas de atuação, limitando-os em seu papel socialmente constituído (bem como suas alternativas diante desses ataques).
Como vimos, nos últimos anos, o jornalismo enquanto prática e como indústria de produção de notícias ficou nas mãos das gigantes de tecnologia. Elas tornaram-se a esfera de circulação de informações privilegiadas e o comportamento do público passou a ser direcionado pela sua intermediação. A distribuição de notícias ficou a cargo dessas plataformas, que obscurecem os mecanismos algorítmicos de busca com ajuda da economia da atenção. Assumindo o transporte dos pacotes noticiosos, a ascensão desses conglomerados originados no Vale do Silício produziu uma perda do valor de mercado do jornalismo. Com a mudança no paradigma da imprensa, os jornalistas se tornaram o alvo fácil de um conjunto de reestruturações, demissões e rearranjos, o que fragilizou essa categoria de profissionais, agora próximos de um trabalhador de informação flexível.
Mas com a possibilidade de se ampliarem os produtores, aspecto contraditório do monopólio das redes sociotécnicas, muitos jornalistas passaram a buscar alternativas fora do espectro da imprensa convencional, no sentido de uma produção mais autônoma, autoral e comprometida politicamente com pautas progressistas. Então o que poderia ser um passo importante no avanço contra os estranhamentos incrustados no sistema sociometabólico de reprodução do capital, todavia, passa a ser capturado pelas regras desconhecidas do complexo das plataformas e suas estratégias de valorização na mineração de dados.
Por um lado, as empresas de comunicação reorganizam o seu chão de fábrica por meio das redações integradas e via gestão do trabalho por ferramentas tecnológicas próprias ou hegemônicas (WhatssApp, Google Meet etc.), proletarizando cada dia mais os profissionais, o que precariza o trabalho vivo e consolida a reificação. Em outra ponta, as iniciativas de produção jornalística independente, alternativa e com outras perspectivas, por dificuldades financeiras e de outros recursos, não têm espaço de construção capaz de mudar o quadro de dependência com as TICs, mas se esforçam em expandir seus conteúdos nas franjas do sistema. A alienação dos jornalistas, como fenômeno genérico, faz-se regra também onde a exceção poderia apresentar saltos na reorganização de saídas anticapitalistas. O estranhamento com a atividade produtiva permanece uma constante.
O mundo do trabalho ganha novos contornos que refazem os desafios da luta de classes. A particularidade do jornalismo, conforme foi explicitado neste texto, participa das tendências gerais do movimento de imbricação tecnológica na produção e reprodução da vida. O trabalhador jornalista ilustra bem o processo de alienação enquanto conflito entre o desenvolvimento das capacidades humanas pelas forças produtivas e a conservação (ou o esfacelamento) da personalidade humana (LUKÁCS, 2013). O fato de ser produtor de conhecimento relevante para a vida social paradoxalmente coloca esse profissional em uma posição extremamente importante para os desafios políticos das classes subalternas. Nesse sentido, processos de fortalecimento da consciência necessária de que mudanças estruturais são urgentes podem tornar-se pauta para um jornalismo crítico-emancipatório.
A Aufhebung (suprassunção), no sentido exposto por Mészáros (2016), da autoalienação do trabalho pressupõe um conjunto de operações que colocam a instituição de um novo motor de produção social, emancipatória e igualitária, na ordem do dia. O debate sobre a construção de um novo modelo tecnológico informacional capaz de potencializar os indivíduos também merece destaque, bem como o controle social dos mecanismos produtivos pelos trabalhadores livremente associados. O jornalista pode contribuir com esse desafio em dois movimentos distintos, mas interconectados: por meio da sua emancipação enquanto sujeito histórico (parte da luta conjunta com outros trabalhadores) e como produtor de conteúdos capazes de alimentar a compreensão da realidade, algo fundamental para a superação da barbárie social materializada pelo capital.
Referências:
AMORIM, Henrique e MODA, Felipe Bruner. Trabalho por aplicativo: gerenciamento algorítmico e condições de trabalho dos motoristas da Uber. Revista Fronteiras – estudos midiáticos, v. 22, n.1, jan/abr, 2020.
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviço na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
BOLAÑO, César. Economia política da internet, mediação e jornalismo: para a crítica da comunicação e da tecnologia. Revista Eptic, v. 20, n. 3, 2018.
CASILLI, Antonio. Da classe virtual aos trabalhadores do clique: a transformação do trabalho em serviço na era das plataformas digitais. MATRIZes, v. 14, n. 1, p. 13-21, 2020.
DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo, Editora Boitempo, 2016.
DEAN, Jodi. Communicative Capitalism: circulation and the foreclosure of politics. Cultural Politics, v. 1, n. 1, 2005.
FIGARO, Roseli. As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista. São Paulo: Atlas, 2013.
FIGUEIREDO, Carlos. Jornalismo Manufatureiro e Jornalismo Flexível: Controle e Subsunção do Trabalho Jornalístico ao Capital. Memorias do XIV Congreso9* de la Asociasión Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, 2018.
FUCHS, Christian. Karl Marx in the Age of Big Data Capitalism. In: Chandler, D. and Fuchs, C. (eds.). (2019). Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data. London: University of Westminster Press, 2019.
HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.
LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001,
MÉSZÁROS, István. A Teoria da Alienação em Marx. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.
MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
NEVEAU, Érik. As Notícias sem Jornalistas: uma ameaça real ou uma história de terror? Brazilian Journalism Research, v.6, n.1, 2010.
PONTES, Felipe S., & LIMA, Samuel P. Impactos do mercado jornalístico na vida de seus trabalhadores: um estudo sobre indicadores de saúde dos jornalistas brasileiros. Revista FAMECOS, 26(2), 2019.
RAMONET, Ignácio. A explosão do jornalismo: das mídias de massas à massa de mídias. São Paulo: Publisher Brasil, 2012.
RANIERI, Jesus. A câmara escura: alienação e estranhamento em Marx. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001.
SCHOLZ, Trebor. Cooperativismo de plataforma: contestando a economia do compartilhamento corporativa. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburo, Editora Elefante, Autonomia Literária, 2016.
SOUZA, Rafael Bellan Rodrigues de. A dialética da crise do jornalismo: o sociometabolismo do capital e seus limites estruturais. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. [online]. vol.41, n.2. 2018.
SRNICEK, Nick. Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.
ZUBOFF, Soshana. Big Other: capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização de informação. In: In: Bruno, F., Cardoso, B., Kanashiro, M., Guilhon, L., Melgaço, L. (orgs.) Tecnopolíticas da vigilância: Perspectivas da margem. São Paulo, Brasil: Boitempo, 2018.
MAIS:
> O trecho que se segue é o posfácio de Jornalismo, trabalho e marxismo, de Rafael Bellan, publicado pela Editora Edufes. A obra completa da obra pode ser consultada aqui (https://edufes.ufes.br/items/show/738 ).
> O autor foi entrevistado pelo SACIX Rede de Cultura Digital e Mídia Livre — uma parceria de Outras Palavras e Coletivo Digital. O programa pode ser assistido aqui: https://www.youtube.com/watch?v=P-oEXC7Rf3c&t=3488s
Nota:
1 A situação catastrófica trazida pela pandemia da Covid-19 intensificou a usurpação do tempo livre, o que já aparecia como uma tendência. O home office torna-se o laboratório de novos modelos de gestão do trabalho comandados por TICs, cujo foco é a expropriação intensificada do trabalho vivo (em todos os momentos possíveis).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras