O nós universal diante de impasses identitários
Os riscos são planetários: epidemias, colapso climático, escassez de recursos, crises econômicas globais… Por isso, ideal universalista, tão criticado, não é um obstáculo às lutas emancipatórias, mas sim seu objetivo: a busca de justiça não cabe na cidade, região, país, identidades…
Publicado 21/05/2025 às 19:39 - Atualizado 21/05/2025 às 19:40
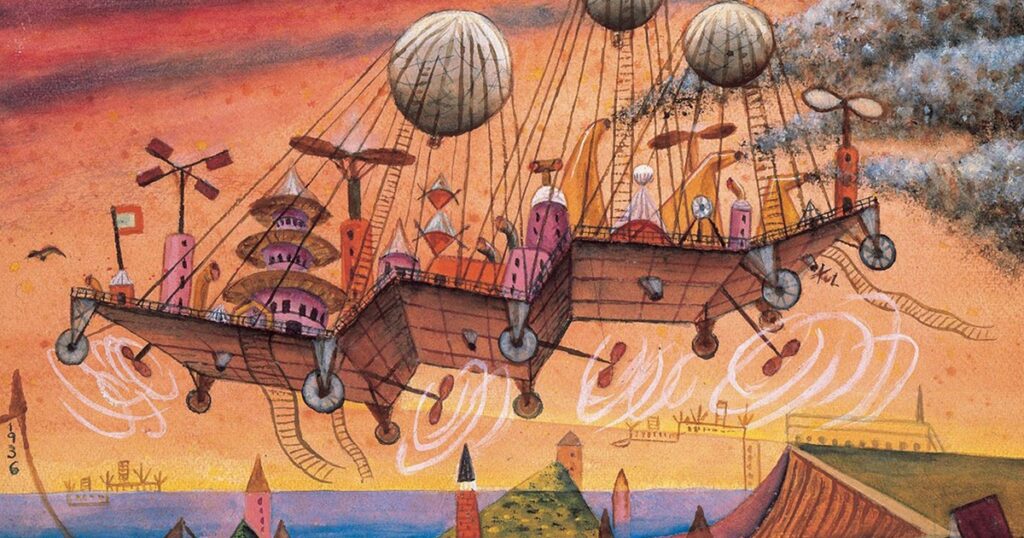
Se o Brasil, um dos países mais desiguais do planeta, é um ponto geográfico ideal para concentrar-se a fim de pensar sobre a injustiça social e as consequências do liberalismo histórico e do neoliberalismo atual para os bolsões da pobreza mundial, a Espanha e a Catalunha são um lugar muito adequado a partir do qual e com o qual se pode refletir sobre o universal e o particular. Dito desta forma, pareceria mais uma questão de razão pura, mas na realidade tem conotações principalmente práticas, éticas e políticas, pois é impossível dialogar sobre diversidade e diferença sem assumir implicitamente aquilo que é comum a todos nós: somos seres humanos de todas as partes do mundo que não temos outra maneira de nos apresentar socialmente senão de forma plural e diversa. E é justamente por isso que, num momento tão delicado a nível internacional, em que a mentalidade excludente da extrema-direita – da qual os partidos políticos são apenas uma mostra – se sente tão confortável, só a defesa da universalidade nos permitirá respeitar as diferenças.
Hegel disse em frase memorável que a filosofia é seu tempo capturado em pensamentos, e talvez seja por isso que não devemos nos alarmar pelo fato de que a filosofia também esteja sujeita a modas. Digo isso porque, como valores, a humanidade e a universalidade tiveram cotação baixa durante as últimas décadas (se é que alguma vez a tiveram alta). Parece que só conseguem entrar em cena depois de alguma calamidade – a Segunda Guerra Mundial –, acalmar as pessoas por algum tempo e logo mais cair na deslembrança. Certamente, elas têm pouco glamour, se por glamour entendemos essa necessidade primária que os indivíduos e os grupos humanos têm de se distinguir dos demais.
Uma necessidade antropológica, a de nos sabermos dentro de um grupo reconhecível e reconhecido, que, até que esteja em perigo, parece que poderíamos ignorar. Não é de surpreender, portanto, que quando um coletivo é discriminado ou perseguido, ele se proteja atacando primeiro os de dentro (traidores) e a continuação os de fora. Até quando teremos que lembrar, porém, que o velho sonho de um Estado, um povo, um território, nunca foi uma realidade e que, se algum dia o fosse, se tornaria um pesadelo? No Brasil, a diversidade indígena contém mais de 300 etnias e mais de 250 línguas. Mas há quem siga pensando que o único idioma que se fala por aqui é o português… Daí a necessidade do diálogo e da política, cuja função consiste em atenuar incansavelmente esta estranha tentação de nos assemelharmos demasiado a nós mesmos, porque de facto cada um é portador de várias culturas, umas herdadas, outras adoptadas voluntariamente, e todas em contínua transformação. O filósofo catalão Xavier Rubert de Ventós refletiu nesse mesmo sentido sobre nossa identidade pós-moderna: “Tenho uma identidade familiar, religiosa, sexual, étnica, nacional e confessional. Um conjunto de pertencimentos ou ‘marcadores’ que podem eventualmente se cruzar, mas nunca chegam a se identificar. […] Meu direito individual é justamente dar voz ou expressar sem hesitação essa encruzilhada, essa identidade complexa que hoje sabemos que não desce de nenhum céu ou de nenhum governo, mas sim que somos nós que a criamos para nós mesmos, com os ingredientes que nos foram dados, cada um à sua maneira. […] Minha obrigação moral, por sua vez, é manter viva a consciência do conjunto de identidades nunca perfeitamente alinhadas que carrego. Afinal, somente essa consciência me permitirá manter uma positiva deferência à diferença e um respeito não condescendente pelas minorias. (É a minoria à qual pertenço como catalão, por exemplo, que, em última análise, me permite compreender e respeitar outras minorias – de sexo, gênero, nação, saúde ou idade – da qual não faço parte.)”
Dir-se-á que o universal não tem poder libertador, apenas efeitos conservadores, que não há luta que possa ser travada em seu nome, porque se trata sempre da libertação de um grupo – classes exploradas, povos oprimidos, mulheres, negros, o coletivo LGBTQIA+, judeus, árabes, ciganos, etc. – contra uma fachada de universalismo. Admitamos a objeção, mas não deixemos de observar com Francis Wolff (Em defesa do universal, Unesp, 2021) que quando as lutas contra a injustiça cometida contra alguns esquecem que seu objetivo é a igualdade e a liberdade para todos, elas estão traindo sua própria causa. O ideal universalista não é um obstáculo às lutas emancipatórias, mas sim seu objetivo, pois, do contrário, o que se perpetua é uma visão do mundo dividida entre vítimas, sempre merecedoras da máxima consideração, e carrascos, condenados ao opróbrio eterno, sem perspectiva de solução. A injustiça não se refere apenas ao oprimido ou ao opressor, mas a todos, a toda a comunidade ética, pois para que a ideia de justiça exista ela não pode ignorar o universal.
No entanto, Elisabeth Roudinesco, historiadora e psicanalista, pensadora pouco suspeita de conservadorismo, assegura em O eu soberano (Zahar, 2022) que hoje os movimentos de emancipação – de raça, de gênero, pós-coloniais, …– parecem ter mudado de rumo. Eles não se perguntam mais como transformar o mundo, mas, reféns de si mesmos, usam a linguagem e os afetos como marcadores identitários para expressar um desejo de visibilidade, seja para afirmar sua indignação, seja para serem reconhecidos. Não se trataria mais de reconstruir uma realidade global onde todos possamos caber, mas sim de uma forma narcisista de se explicar sem distância crítica, destruindo o espaço público necessário ao diálogo e à ação coletiva. Uma pseudopolítica, segundo Roudinesco, que em vez de fazer, desfaz os cidadãos e acaba enfraquecendo o nós democrático universal. As pontas sempre se tocam. De qualquer forma, a diferença com o identitarismo da direita reacionária é que, no caso desta, não se trata de uma deriva, pois sempre atuou da mesma forma, reiterando os mesmos discursos de mitificação do passado, machismo desacomplexado, ódio ao diferente, xenofobia, desprezo pelos direitos humanos e desrespeito pelos do cidadão, racismo e medo da “grande substituição”, com o qual se justifica a rejeição ao acolhimento de migrantes que buscam refúgio da perseguição, da guerra e da fome, muitas vezes arriscando a vida atravessando o mar durante semanas.
Universal, no entanto, não significa uniforme nem cosmopolita. O cosmopolitismo – o autoproclamado cidadão do mundo – é uma ficção amorfa, porque, como Hannah Arendt, refugiada do nazismo desde 1933 e apátrida até 1951, deixou claro, nossos direitos não valem nada se não tivermos um Estado por trás de nós para garanti-los. Com todas as suas deficiências, e à espera de uma alternativa real, o Estado-nação continua sendo a base da solidariedade coletiva – previdência social, pensões, etc. – que se tornaria inviável se não fosse limitada aos residentes do país. Por outro lado, ter consciência do universal significa, em termos simples, que o mundo não acabe para você na sua cidade, na sua região, no seu país… Significa, retomando o fio condutor de Francis Wolff, o reconhecimento de pertencimento a uma humanidade única, fortalecida, hoje mais do que nunca, pelo extraordinário progresso dos meios de comunicação, sobretudo após o surgimento da Internet e das redes sociais que, apesar de todas as falhas, facilitam a autoconsciência de integrar uma humanidade global. Nunca a parte rica da humanidade esteve tão próxima da parte pobre. Nunca soubemos tão bem como agora que estamos todos expostos aos mesmos riscos planetários: epidemias, aquecimento global, desastres nucleares, esgotamento dos recursos naturais, extinção de espécies, crises econômicas globais, etc. E, no entanto, ao mesmo tempo em que é imposta à nossa consciência, a unidade da humanidade vem recuando em representações coletivas em favor de desvios identitários de todos os tipos.
Apesar do 11 de setembro de 2001, que pareceu inaugurar uma nova era, dedicamos o primeiro quarto de século a lutar por questões mais pessoais e herdadas do século XX. Um dos desafios importantes do século XXI é tornar possível um humanismo eficaz que não esqueça que a única maneira que os seres humanos têm de aparecer no espaço público é através das nossas diferenças – físicas, sociais, familiares, geográficas, históricas, linguísticas, culturais,… Cada vez mais definidas por identidades múltiplas e móveis. “As ideias universalistas devem recuperar seu poder mobilizador e crítico: contra a ditadura das emoções e das opiniões, defesa da razão científica; contra o império das identidades, reconstrução de uma ética da igualdade e da reciprocidade” (Wolff). Por isso, é necessária não só uma reforma profunda das Nações Unidas, mas também a pedagogia de uma nova mentalidade individual e coletiva que descanse numa ética da igualdade e numa política das diferenças dentro de um mundo em comum, visto de todos os lados e do qual cada um possa falar livremente, e agir nele, com todos os outros.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

