O certo é autista tomar eletrochoque “suave”?
Eletroconvulsoterapia, proposta pelo ministério da Saúde para tratamento do autismo, não tem eficácia comprovada e está associada à violência manicomial. Brasil tem experiência em tratamentos não invasivos, por que não usá-los?
Publicado 14/01/2022 às 16:44

Título original: A eletroconvulsoterapia sob o olhar da crítica científica
Por Eduardo Guimarães
Em 8 dezembro de 2021, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) abriu uma consulta pública a respeito da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Essa atualização está baseada em relatório clínico de novembro de 2021, em que é recomendada a utilização da eletroconvulsoterapia como terapia alternativa no tratamento da agressividade de pacientes do espectro autista. Aquela consulta pública gerou grande polêmica, sendo amplamente criticada pela comunidade ligada à saúde mental e, principalmente, ao autismo. O principal argumento apontava para a ausência de diretrizes internacionais ou de pesquisas científicas que fundamentassem a utilização da eletroconvulsoterapia para pacientes do espectro autista.
A consulta pública do ano passado não foi a primeira menção do atual governo federal à eletroconvulsoterapia. Em 2019, a Nota Técnica nº 11/2019 do Ministério da Saúde autorizava a compra de aparelhos destinados à aplicação da eletroconvulsoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde para pacientes com transtornos mentais. Depois de receber múltiplas críticas, o Ministério da Saúde informou que a compra daqueles aparelhos ainda estava sob análise e carecia de validação. Mas, afinal, o que é a eletroconvulsoterapia e por que essa terapia vem assumindo importância no debate sobre saúde mental?
A eletroconvulsoterapia, como o próprio nome diz, é uma terapia baseada na estimulação elétrica do cérebro por meio de eletrodos destinada a provocar convulsão no paciente. Para dizer de modo mais claro: a eletroconvulsoterapia é a filha direta do eletrochoque, amplamente representado na literatura e no cinema, como no filme Bicho de sete cabeças (2000), dirigido por Laís Bodanzky e baseado no livro Canto dos malditos, autobiografia de Austregésilo Carrano Bueno. A principal diferença entre essas duas gerações terapêuticas reside no preparo do paciente. Diferentemente do eletrochoque, em que os eletrodos são aplicados diretamente no paciente acordado e consciente, a eletroconvulsoterapia é precedida pela utilização de anestesia e de relaxante muscular. Com esse procedimento, a convulsão pode ser percebida somente por meio dos registros do monitor do eletroencefalograma, e não pelas agitações do corpo do paciente.
De acordo com seus defensores, a eletroconvulsoterapia contribuiria para regular a liberação dos neurotransmissores, função similar à dos antidepressivos, e indicada principalmente aos pacientes com depressão grave ou risco de suicídio e que não respondem positivamente ao tratamento medicamentoso. Também é indicado a pacientes grávidas com depressão. Independentemente dos casos específicos, a eletroconvulsoterapia chega ao debate da saúde mental como recurso alternativo, como terapêutica a que se recorre somente quando todas as outras opções foram testadas e descartadas.
Os defensores dessa prática terapêutica frequentemente recorrem a estudos e pesquisas anteriores a 2010. Provavelmente, isso acontece porque a partir de 2010 foram publicadas revisões, conduzidas por pesquisadores como John Read, Richard Bentall e Irving Kirsch, sobre as pesquisas realizadas até aquele momento sobre o uso e a eficácia da eletroconvulsoterapia. Essas revisões mostram que as pesquisas que se mantinham favoráveis à utilização dessa terapia não eram conclusivas. Um dos argumentos mais interessantes sustentava haver uma eficácia similar entre a eletroconvulsoterapia e o efeito placebo. Dito de outro modo: percebe-se que em alguns casos o paciente melhora, mas não se sabe se essa melhora é causada pela terapia de choque, pela esperança do paciente ou pela sugestão psicológica do médico.
Ainda que a eficácia da eletroconvulsoterapia pudesse ser verificada, seria necessário avaliar seus efeitos colaterais. Existem estudos que apontam que os pacientes sofrem perda de memória e diminuição de sua capacidade cognitiva, mas não existe um consenso se esses efeitos são transitórios, permanecendo por mais ou menos seis meses, ou se podem prolongar-se no tempo. E ainda seria necessário avaliar se esses efeitos foram provocados pela terapia de choque ou pelo próprio adoecimento do paciente.
Se passarmos da discussão sobre a eficácia ou não da eletroconvulsoterapia para uma avaliação histórica e crítica desse método terapêutico, o caldo pode entornar. A eletroconvulsoterapia está baseada em uma perspectiva mais geral em que se busca provocar uma convulsão para tratar um transtorno mental (convulsoterapia). Na década de 1930, Ladislas von Meduna utilizou cânfora e, posteriormente, cardiazol para induzir convulsões em pacientes esquizofrênicos. Em 1938, Ugo Cerletti e Lucio Bini, inspirados pelos matadouros de porcos, em que os animais eram eletrocutados antes de serem abatidos, decidiram provocar convulsões por meio do choque elétrico.
A história da convulsoterapia até os dias de hoje nos faz suspeitar do empirismo barato que parece sustentar essa terapêutica. Inicialmente, aplicação de eletrochoque para tratar a psicose, mais especialmente a esquizofrenia. Posteriormente, com a utilização de anestesia e relaxante muscular, o tratamento está voltado para depressões graves e impermeáveis aos medicamentos. Se as revisões das publicações sobre essa terapia e a análise crítica de seu desenvolvimento histórico não são suficientes para formular uma crítica definitiva, então pelo menos deveríamos nos colocar em uma posição de dúvida a respeito dessa aplicação terapêutica. Nunca é demais lembrar que relatos individuais não são suficientes para validar a eficácia de uma terapia ou tratamento. Evidentemente, há pacientes que reconheceram em si mesmos a remissão de seus sintomas e o surgimento de novas possibilidades de vida – podem-se encontrar diversos relatos desse tipo na internet –, mas não necessariamente esse processo foi o resultado da aplicação da eletroconvulsoterapia. Da mesma forma, as explicações utilizadas para justificar supostas eficácias da eletroconvulsoterapia também precisam ser avaliadas com justeza – já ouvi relatos de profissionais que dizem que essa terapia faz uma “limpeza” no cérebro (de fato, limpa até o bom senso). Sendo assim, todo cuidado e toda prudência são necessários.
Por fim, ainda podemos pensar a respeito do motivo que levou ao retorno dessa terapêutica para o tratamento da saúde mental no Brasil, onde o tratamento de transtornos mentais graves não é uma novidade. Houve experiências desenvolvidas em solo nacional que alcançaram resultados surpreendentes através da produção artística e da interação entre pacientes e animais. Estou me referindo diretamente à psiquiatra brasileira Nise da Silveira (1905-1999), discípula de Carl Jung, que desenvolveu tratamentos inovadores. Se somos capazes de desenvolver experiências terapêuticas eficazes e não invasivas, por que, então, recorremos a técnicas duvidosas importadas de além-mar ou acima da Linha do Equador?
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras
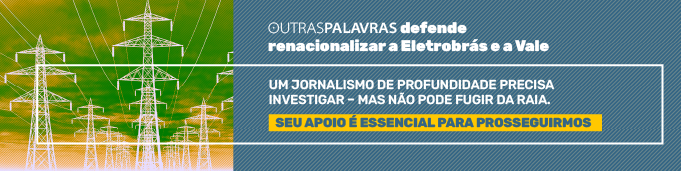

2 comentários para "O certo é autista tomar eletrochoque “suave”?"