As fissuras na fortaleza do Ocidente
Talvez o neoliberalismo, esgotado, esteja se transmutando – como sugerem dois pensadores da tradição negriana. Mas algo é certo: às crises permanentes no Norte, correspondem novos rearranjos políticos, a partir do Sul Global. Os Brics são página central desta transformação
Publicado 18/08/2025 às 16:50

No site Euronomade e traduzido para o português pelo Le Monde Diplomatique Brasil, foi publicado um artigo importante, elaborado por Sandro Mezzadra e Sandro Chignola. O texto fala-nos duma mudança que impõe uma nova leitura da fase atual na história do capitalismo.
Os dois autores avançam com a tese de que as transformações ocorridas ao longo das últimas duas décadas já não nos permitem reconhecer no termo neoliberalismo o significante que descreve as tendências e as tensões que atravessam o “sistema-mundo”. Muitos são os componentes que, na sua análise, revelam um afastamento dos princípios que fundaram o pensamento dos teóricos do neoliberalismo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como das políticas que se desdobraram nas duas margens do Atlântico nos anos 70 e 80.
Não obstante, e para não jogar fora o bebê com a água suja, os autores afirmam a permanência de elementos que constituem, desde o início, uns dos alicerces do neoliberalismo. É o caso da relevância do “capital humano”, descrita de forma incomparável por Foucault em Nascimento da Biopolítica. Esse componente, para Mezzadra e Chignola, continua ao cerne dos sistemas de organização econômica e social dos vivos em muitas partes do mundo, “apoiando a difusão da forma empresarial nas relações sociais”. Da mesma forma — realçam os autores — “as políticas urbanas e as políticas educacionais” desenvolvidas pelo neoliberalismo continuam a representar o padrão de referência em muitas regiões do mundo.
Tomando os “regimes de guerra” como eixo do processo de valorização do capital, no qual as inovações infraestruturais e tecnológicas ligadas às plataformas e à IA tornam-se centrais, os pontos salientados em apoio àquela tese são:
- “O rearranjo contraditório e violento de poderes e processos de valorização”, que há no uso de tarifas aduaneiras promulgadas por Trump o elemento mais claro;
- “O entrelaçamento sem precedentes de poderes políticos e econômicos em estruturas de comando oligárquicas”, favorecido pelo desenvolvimento de “grandes plataformas de infraestruturas”;
- “As tensões que atravessam o sistema monetário e, em particular, à posição do dólar como moeda de reserva e meio de pagamento no comércio internacional”. Uma posição questionada pelo surgimento de tendências ao desprendimento do dólar e dos seus sistemas de governo dos tráfegos comerciais globais por parte de alguns países não ocidentais, como no caso dos BRICS+.
Os três pontos põem questões importantes, que levam os autores a reiterar um conceito já apresentado em outras circunstâncias, e não apenas por eles. A crise — financeira, bélica, ambiental, sanitária, entre outras — como elemento permanente da fase atual do capitalismo. A crise não é entendida como estado de exceção, mas, sim, como normalidade e, neste sentido, como âmbito de evidência dos elementos que marcam uma ruptura com o passado.
Tendo em conta as questões levantadas e o seu entrelaçamento com a natureza e função da crise, a questão que se pretende discutir nestas notas é, principalmente, mas não unicamente, a seguinte:
Que declinações assume a crise, quando observada a partir daquela parte do mundo que habitualmente chamamos de “Sul global”, mas que, para ser mais abrangente, se poderia designar como “não-ocidental”?
Não se trata duma pergunta para a qual já se tenha uma resposta, pelo contrário. O que segue, portanto, são apenas reflexões dispersas acerca de alguns elementos que parecem ter uma certa relevância.
Para adquirir a postura epistemológica que permite ler a crise no seu ser imanente, é necessário pôr ao centro da nossa atenção as “práticas” que conduzem à identificação da crise e às formas de lhe fazer face, conforme as condições específicas de cada contexto. Isto significa colocar de lado as teorizações ocidentais — fazer como se não existissem — e deixar emergir o que poderia parecer novo, inusitado, desconcertantes.
Num artigo no Diário de Notícias em março de 2023 — um dos últimos antes de, justamente, cair em desgraça devido a acusações graves relativas ao seu comportamento para com as estudantes — o estudioso Boaventura de Sousa Santos falava do isolamento do Ocidente em relação ao resto do mundo. Segundo um estudo levado a cabo por um instituto da Universidade de Cambridge, a maioria esmagadora da população mundial — numa proporção de seis para um — avaliava negativamente a atuação do Ocidente, em particular dos EUA, no que diz respeito às relações com a China e outros países não-ocidentais, bem como ao apoio prestado à Ucrânia, após a invasão da Rússia.
Na formulação deste juízo, desempenha um papel importante o fato de a maioria dos países interessados pela pesquisa ter sido colonizados durante séculos pelo Ocidente. Imaginemos até onde chegaria aquela proporção se o mesmo rastreio fosse realizado hoje, com um genocídio em curso perpetuado — direta e indiretamente — pelo Ocidente e sob o fardo das tarifas aduaneiras impostas por Trump. Uma medida, essa última, motivada pela defesa e recuperação do sistema produtivo dos EUA, e acompanhada por ameaças e chantagens políticas dirigidas a alguns países, principalmente do Sul Global, como Brasil, Índia e África do Sul. Ações, essas, que querem impor as regras dum domínio unilateral, anacrônico e contestado de múltiplos lados, e recheado de fantasmas colonialistas.
Se as coisas estiverem assim — e tudo indica que estejam mesmo — aquilo que, para o Ocidente, são crises específicas — declinadas ora por um adjetivo, ora por outro — fora daí são lidas como expressões duma única crise: a do padrão ocidental de governo, de desenvolvimento, de convivência, de democracia, da ética, da cultura. Em outras palavras, tudo o que, após o fim formal do colonialismo, tornou-se ferramenta para gerar e reforçar os sistemas de poder do neoliberalismo. A crise refere-se a uma ordem, cujas técnicas — políticas, logísticas, bélicas, culturais — deixam o lugar a outras estratégias num cenário diferente.
Neste novo cenário surgem tendências e “resistências” expressas em propostas e objetivos que, para o Ocidente, não passam de ameaças à sua autoproclamada posição hegemônica na ordem global.
São propostas que — na América Latina, Ásia e África — questionam sistemas monetários, aproveitamento dos recursos naturais, parcerias internacionais, transição energética, regras comerciais.
Para tentar compreender o que isso significa, escolheu-se como ponto de observação a cúpula dos BRICS+, ocorrida em Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho deste ano.
O 2025 é, de fato, o ano da presidência do Brasil no BRICS+. As contradições que atravessam o grupo (dez países hoje, com outros dez tendo apresentado pedido de adesão) levaram ao adiamento da primeira cúpula do grupo para julho. Isto significa que a presidência brasileira, em vez de atuar durante 12 meses, terá apenas o segundo semestre do ano para desenvolver o seu trabalho e apresentar propostas.
Trata-se dum acontecimento bastante importante, tanto pelos pontos que foram discutidos, quanto — ou sobretudo — pelo momento em que ocorreu: seis meses de presidência Trump nos EUA, conotados por rumos alarmantes e duas guerras globais cujo fim ainda não se vislumbra.
Houve um grande eco desta cúpula no Brasil: uma das revistas que mais lhe deu espaço é Outras Palavras, onde se podem encontrar muitos artigos e um dossiê completo sobre os BRICS+, editado pela Rebrip (Rede Brasileira pela Integração dos Povos) e titulado “BRICS+ e o futuro soberano do Sul Global”. É mesmo a partir das contribuições contidas nesses trabalhos que se pretende reconstruir uma primeira — e provisória — resposta ao quesito formulado acima. Isso, porém, tendo o cuidado de não interpretar aquelas contribuições, para não incorrer na tentação de lê-las a partir duma perspectiva ocidental.
Poderia ser útil tomar, como ponto de partida, as palavras que Graciela Rodriguez utilizou para encetar o seu artigo, A crise do Ocidente e o desafio dos BRICS, no Outras Palavras, que é também o prefácio do dito dossiê.
“Em evento recente, no âmbito do G20 no Rio de Janeiro, o professor Ha-Joon Chang, autor do famoso livro Chutando a escada, comentou com surpresa que estava o tempo todo ouvindo os expositores e outras pessoas falando em crise; na crise civilizatória, econômica, climática, alimentar, de saúde, e mais. ‘Se vocês fossem ao Oriente e perguntassem às pessoas sobre a crise, elas diriam: de que crise você está falando?’”
Não é fácil lidar com esta afirmação, nem compreender o que significa e as suas consequências. Surgem logo muitas dúvidas, sobretudo quanto ao nosso hábito de ler tudo — e dificilmente poderia ser de outra forma — a partir da nossa posição ocidental. “Posição ocidental” não significa filo-ocidental, assim como pertencer à tradição judaico-cristã não implica abraçar os seus valores. É um dado de fato, mesmo que sejamos totalmente antagonistas ao modelo dominante no Ocidente. O nosso antagonismo é também “ocidental”: ele “fala-nos” enquanto ocidentais.
O professor Chang — e Rodriguez também — parece defender uma evidência que não deveria surpreender. A crise, como qualquer outro conceito, baseia-se numa estrutura epistemológica contextualizada. Assim como desenvolvimento, fracasso, obscenidade, potência, perversão, etc., a conceitualização de crise nasce num âmbito histórico e cultural que, neste caso, toma as feições do Ocidente. Trata-se da crise no e do próprio Ocidente. A transposição para outros contextos faz com que o nome crise tome um significado — após o processo de descodificação e recodificação — que poderia tornar irreconhecível, ou inaceitável, a sua conceptualização original.
Isso não impede que a palavra crise seja amiúde utilizada nas contribuições contidas no dossiê e nos artigos que tratam da cúpula no Rio para descrever o estado geral das relações entre entidades de diferentes níveis. O que está em discussão é a leitura das causas e consequências da crise, assim como os desígnios em que aqueles países pretendem focar-se para se posicionarestrategicamente no enredo global.
Seria demasiado complicado — e talvez um pouco atrevido — resumir as análises setoriais desenvolvidas pelos autores dos textos sobre os tópicos que a cúpula salientou e como essas análises se articulam com a crise. Mas, não querendo abdicar do objetivo dessas notas, tentemos uma abordagem mais simples.
Antes disso, porém, importa reiterar que não se pretende tomar uma posição sobre o operado e as estratégias dos BRICS+. O que interessa é apenas salientar, sine ira et studio, aqueles temas e medidas que têm um impacto mais acentuado sobre as tensões que atravessam o globo e sobre as linhas de comando que aí se desdobam.
Vale a pena fazer um breve balanço dos termos que recorrem com mais frequência nas intervenções relativas à cúpula do Rio.
Cooperação Sul-Sul, multilateralismo e reforma das instituições locais, governação global e função das organizações supranacionais (com destaque para ONU, OMC, OMS, IMF), soceidade civil e autonomia cultural, transição energética para nova vaga de políticas industriais, Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Arranjo Contingente de Reservas (ACR), soberania econômica e digital, política e energética, sanitária.
Susana Van der Ploeg e Rajnia de Vito Nunes Rodrigues, ao introduzir o seu trabalho “BRICS e a crise global da Saúde” contido no dossiê da Rebrip, escrevem assim:
“O BRICS tem a oportunidade de projetar uma nova ordem global com base na soberania, solidariedade e justiça. Ao priorizar a cooperação entre os países em desenvolvimento, o BRICS pode libertar-se do legado de dependência e oferecer um modelo de desenvolvimento orientado pelo interesse público, e não pelos ditames do mercado, promovendo a autossuficiência econômica, o comércio mais justo e o progresso tecnológico compartilhado”.
Parece-nos que neste trecho cabem todos os temas acima listados. O destaque vai, inevitavelmente, para a soberania.
A soberania, sempre que foi reivindicada pelos países do Sul Global nos anos 70, foi declarada inimiga do modelo de desenvolvimento neoliberal pelos seus teóricos — como recordam Mezzadra e Chignola. A partir do fim do século passado, porém, a soberania tornou-se o estandarde das políticas conservadoras no Ocidente, tendo como alvo as consequências ruins da globalização. No mesmo tempo, e de forma especular, foi associada — e por isso contrastada — pelas esquerdas ocidentais ao nacionalismo, ao racismo, à xenofobia, às reivindicações identitárias e partidárias, que veem nos migrantes a ameaça principal aos “valores ocidentais”.
Bem diferente é a música entoada pela soberania no Sul Global, ou no mundo não-ocidental, já a partir das lutas anticolonialistas e, com várias tonalidades, no período sucessivo à Independência, até hoje. As referências à pátria, ao direito de escolher o próprio caminho político, social e econômico, à reivindicação das raízes culturais antecedentes ao colonialismo, entrecruzam a maioria dos países “tricontinentais”, com formas e objetivos diferentes.
Dito de outra forma, a soberania — assim como “crise” e os outros substantivos mencionados acima — é o produto semântico duma conceitualização enraizada em contextos geopolíticos e históricos definidos. Não deveria surpreender, então, que, nos textos que relatam sobre a cúpula dos BRICS+ em Rio, vem associada à solidariedade e à justiça, assim como à autonomia cultural. Mas, sobretudo, a soberania é apresentada como a condição para um desenvolvimento econômico e energético localmente definido e levado à frente com os parceiros escolhidos, sem condicionamentos — ameaças e chantagens — ocidentais. Em síntese, os países que se referem aos BRICS+, e muitos outros do Sul, concebem a soberania como a condição de possibilidade para alinhar autonomamente valores éticos e objetivos econômicos e financeiros.
Marcelo Leal, no seu artigo África: os países rebeldes já têm apoio dos Brics, apresenta uma situação pouco conhecida. Três países do Sahel, nomeadamente Burkina Faso, Níger e Mali, escolheram um caminho próprio para tomar posição no cenário internacional que os vê, por múltiplas razões, numa posição estratégica. Desprenderam-se dos laços — econômicos, militares, monetários — que os uniam à França como legado da altura colonial e criaram uma estrutura regional — a AES (Aliança dos Estados do Sahel) — para enfrentarem os inúmeros problemas que afetam a região. Os BRICS já ofereceram apoio à nova estrutura, que está encontrando o interesse de outros países da área e, claro, das potências que já estão presentes na África Central. Trata-se da Rússia, com o envio da própria milícia ultra especializada — a África Corps, ex-Grupo Wagner —, e da China, com uma potencialidade de investimentos econômicos incontornáveis. O polícia mau e o polícia bom.
O que esta situação nos mostra é um dado bastante claro. Um crescente número de países do Sul Global já não quer mais ver as caras branquelas dos europeus que os esfomearam e espoliaram ao longo dos últimos cinco séculos e viraram os seus olhos noutra direção.
Também no caso dos três países africanos, o tema central continua a ser a procura de soberania nas escolhas que lhes interessam sob múltiplos aspectos. Para onde isso poderá levar, não é fácil prever.
A crise está localizada no Ocidente: é uma crise do comando capitalista sobre o mundo tal como se configurou desde o fim da União Soviética. Ainda que as bases dessa ordem tenham sido estabelecidas, claramente, há séculos com a imposição do colonialismo europeu sobre o Sul do planeta. Em coerência com essa história, o Ocidente equipa-se hoje com políticas anti-imigração que visam reduzir os direitos da força de trabalho que, por necessidade, os Estados Unidos e a Europa terão de importar de África, da América Latina e da Ásia. A ideia do Ocidente como uma fortaleza sitiada atravessa o hemisfério Norte, desde a fronteira entre os Estados Unidos e o México até o Donbass, onde, há três anos, decorre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
Os acontecimentos dos últimos seis meses indicam, no entanto, também um reajuste interno do poder no Ocidente. A golpes de tarifas alfandegárias, barreiras comerciais e ameaças de sanções, os Estados Unidos do segundo mandato de Trump procuram descarregar pelo menos parte dos seus enormes problemas — desde uma dívida federal insustentável até à perda do primado em todos os setores produtivos, com exceção do da tecnologia digital — sobre os seus dóceis parceiros europeus. Problemas agravados pela crescente presença dos BRICS que, pelo simples fato de existirem e de reivindicarem o seu não alinhamento com o Ocidente, colocam a liderança americana perante uma crise de legitimidade até agora desconhecida. Basta, de fato, dizer que chegou o momento de se encontrar uma alternativa ao dólar como moeda internacional para se expor ao mundo a fragilidade da divisa americana e do comando exercido pelos Estados Unidos sobre a economia e a política mundiais.
O Sul é a zona do planeta onde existem outros pontos de vista e, potencialmente, outras abordagens à situação presente. Não são questões de pouca importância, por exemplo, nem a acusação de genocídio apresentada pela África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, nem a tranquila resistência de Lula perante as ameaças de Trump. Mas o Sul global é algo demasiado vasto para ser reduzido a dois países ou mesmo aos dez que integram o grupo BRICS (mais outros dez candidatos). É necessária uma investigação ao nível das situações locais, uma pesquisa para identificar subjetividades não ocidentais ou antiocidentais. Subjetividades, claro está, capazes de se expressar nos territórios, na esteira do que aprendemos, durante anos, no Rojava e nas comunidades zapatistas.
Subjetividades que podem emergir no que, há treze anos, Robert J.C Young designou como “quarto mundo”. Trata-se dum espaço não linear, nem circunscrito a uma área específica do globo. Atravessando todos os continentes, o quarto mundo é habitado pelos “outros”, os invisíveis, cuja “alteridade” constitui também o alicerce do nosso “eu”, ocidental, branco, heterossexual e cada vez mais envelhecido.
Não existem estruturas supranacionais que possam representar esse mundo e a conflitualidade que potencialmente exprime — nem sequer as que surgem no Sul Global. As lutas nos setores da logística nos ensinam que as “cadeias de abastecimento” — seja qual for a sua natureza — são vulneráveis e podem ser atacadas em múltiplos lugares.
Essa, talvez, seja a única certeza que temos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras
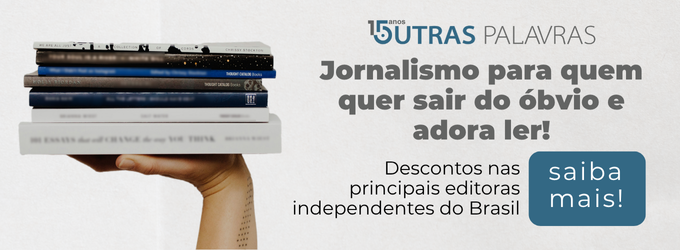
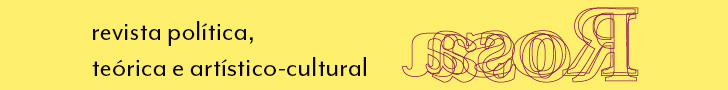
O espírito colonizador e a mentalidade de colonizado, infelizmente , ainda permanece nas respectivas sociedades e governos. Os países em desenvolvimento e ex-colonizados devem se unir e ser resistentes, resilientes e até revolucionários, se for necessário, para mostrar que o mundo mudou e que o império vai passar, já está passando, assim como ocorreu com os chineses; os persas; os mongóis; os britânicos; os romanos; os turcos e outros. Os EUA vão aumentar a temperatura, mas, inevitavelmente, vão ter que se adequar à nova ordem mundial, uma ordem multipolar.