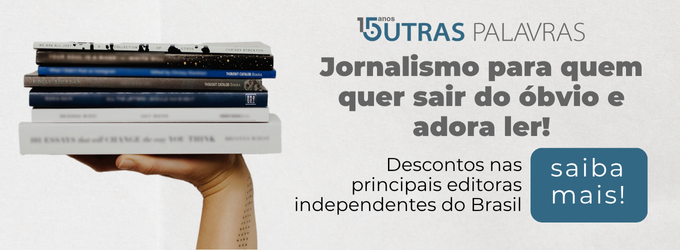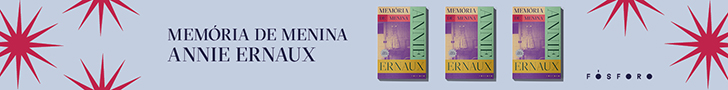Rio: Milícias, chacinas e a guerra de narrativas
Logo após o massacre, “PMs influenciadores” ocuparam as mídias como mediadores da lógica violenta. Nas ruas, manifestações contrárias à ação se chocavam aos elogios à corporação. Algo parece se repetir – que entrelaça o crime, polícias e os “heróis de farda”
Publicado 10/11/2025 às 18:19

Na terça-feira, 5 de novembro, participei de uma manifestação no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, contra a operação policial realizada na Penha e no Complexo do Alemão no último dia 27 de outubro — ação que resultou em 131 mortos, segundo balanços divulgados pela imprensa.
Nos dias seguintes à operação, policiais e ex-policiais ficaram exaustos de conceder entrevistas a podcasts e canais no YouTube. A narrativa imediata foi uma tentativa clara de enquadrar a operação como ato heroico.
Isso surtiu efeito na presença policial ostensiva durante a manifestação na zona sul. Ostensiva não exatamente em quantidade. Atrás dos homens do Choque, com escudos e balaclavas, estava o respaldo simbólico das pesquisas de opinião pública. E isso os tornava gigantes.
Enquanto caminhava nessa zona fronteiriça entre as pessoas que protestavam e os policiais, ouvi elogios e cumprimentos dirigidos aos PMs: transeuntes paravam para dizer que a Polícia do Rio era “a melhor preparada do Brasil”. A cena, diante de uma operação que havia deixado mais de uma centena de mortos, parecia conter algo mais profundo do que o apoio imediato à corporação.
Naquele momento, algumas informações se entrelaçavam e me permitiram compreender que a operação — ou chacina — não pretendia somente combater crime organizado nas favelas, que há décadas atinge proporções brutais. A ação foi também um gesto de poder político e de domínio comunicacional. E ela evidencia uma estrutura — que vem sendo construída ao longo dos últimos anos — e se ergue, neste momento, como um transformer.
No ano passado, entrevistei Leonardo Novo, então vinculado à Superintendência da Secretaria Estadual da Polícia Militar, que afirmou: vivemos uma guerra bélica, jurídica e também comunicacional.
É nessa terceira dimensão — a comunicacional — que algo novo parece se desenhar. Logo após a operação, “influenciadores policiais” passaram a ocupar os espaços da mídia e das redes sociais, explicando a ação da polícia.
Figuras como Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE e coautor de Tropa de Elite, tornaram-se mediadores dessa lógica militarizada. Canais como Flow Podcast, Inteligência Ltda., Pânico Jovem Pan, Revista Oeste, CNN e Metrópoles exploraram a autoridade simbólica da versão real associada ao personagem da ficção. Era como se o Capitão Nascimento dialogasse diretamente com os anseios de uma população que sofre cotidianamente extorsões diversas — do gás à internet, da moradia aos serviços básicos.
Nessas entrevistas, ele e outras figuras aproveitaram para atacar jornalistas e acusar defensores de direitos humanos por não conhecer a realidade das favelas, ou mesmo “fechar os olhos”, “passar pano” ou mesmo apoiar criminosos.
Estava claro que a disputa por legitimidade se dava menos nas ruas e mais na guerra de narrativas.
De fato, uma boa parte da sociedade não conhece as favelas — diferentemente da polícia, que nelas atua há décadas.
Em 2023, participei de um debate na EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) com jornalistas, pesquisadores, promotores e defensores públicos que acompanham o tema da segurança há mais de duas décadas. A mesa se dividia entre os que viam no tráfico e os que viam na milícia o principal câncer do Estado. Mas todos foram unânimes em reconhecer uma realidade: O controle territorial é tão absoluto que não conseguimos atuar.
Uma defensora pública relatou receber cerca de 50 pedidos de ajuda diariamente de moradores extorquidos por milicianos ou traficantes. E foi peremptória ao concluir: “não podemos fazer nada.” A narrativa era corroborada por uma funcionária da Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), que me contou, em outro momento, que a maioria das reclamações recebidas envolve perda de imóveis e extorsões. Durante o evento na EMERJ, já se observava a retomada de áreas de milícias pelo Comando Vermelho — um cenário de reorganização violenta das forças locais.
Nesse ponto é difícil discordar da polícia: o Estado perdeu o controle sobre amplas parcelas do território. O que chama a atenção, no entanto, é que a corporação policial parece construir uma autonomia inédita.
Acompanhando podcasts e canais de YouTube feitos por ex-policiais ou policiais — como o Fala Guerreiro e o Fala Glauber — observei que alguns desses “influenciadores da PM”, em determinados momentos, cobraram uma atuação mais severa de Castro, mais alinhada com o pensamento da polícia. Vale lembrar que Castro é conhecido na cidade por sua relação com setores ligados à milícia. O tom desses programas parecia sugerir uma autonomia maior da polícia, que se distanciava ao mesmo tempo em que criticava o Estado — não para recusá-lo, até porque ela é o braço do Estado em ação —, mas para negociar com ele e se instituir enquanto poder paralelo. A operação da Penha pode ter sido uma demonstração dessa nova fase.
O que a narrativa policial tenta apagar é que o crime se estruturou no Rio com a conivência de setores da própria polícia. Na entrevista que me concedeu, Leonardo Novo evitou usar o termo “milícia”, sob a justificativa de que hoje ela e o tráfico “fazem as mesmas coisas”: exploram serviços básicos e vendem drogas. Mas omitir é apagar as ramificações que o termo guarda — a relação da PM com o crime. A atuação de Ronnie Lessa, Adriano da Nóbrega, entre outros, não nos deixa esquecer.
O cinema explorou a corrupção policial com precisão. Em Tropa de Elite 1 e 2, José Padilha mostrou a violência policial em sua dimensão mais crua — espancamentos, tortura com sacos plásticos, ameaças de estupro com cabos de vassoura, execuções sumárias e os “arregos” diários, o caixa dois da segurança pública. Padilha pesquisou a fundo a corrupção policial e política no Brasil para retratá-la em seus filmes. O tema foi evidenciado em Ônibus 174, Tropa de Elite 1 e 2 e na série O Mecanismo.
Casos recentes reforçam essa zona cinzenta entre poder policial e crime organizado. Em 2022, a juíza Tula Corrêa de Mello e seu marido, o policial do CORE Marquini, foram fotografados em uma festa de fim de ano — ou de Natal — na casa de Marcelo Cupim, chefe da contravenção na Zona Norte. Cupim mantinha fortes ligações com milicianos como Marquinhos Catrini. Questionada pelo jornal Extra, a juíza respondeu:
“Meu filho e a filha dele estudaram no mesmo colégio. Não costumo pedir a FAC das pessoas que conheço.”
Cupim foi preso em 2023, após ter ficado foragido desde o ano anterior. A justificativa da juíza soa frágil diante do cargo do marido: o CORE, tropa de elite da Polícia Civil, é reconhecido pelo rigor técnico e pela atuação em investigações complexas. Seu símbolo é o falcão — “o animal que tudo vê” — lema que sugere inteligência, liderança e vigilância. Marquini, segundo colegas, não era um policial qualquer, mas uma referência dentro da corporação.
Nessa tentativa de reescrever parte de sua história recente, esses mesmos “influencers policiais” também transformam jornalistas em alvos de desinformação. A narrativa de que a imprensa “defende bandidos” ou “não noticia o terror imposto por facções criminosas” ignora que Tim Lopes morreu investigando o tráfico; que Caco Barcellos escreveu Abusado e Rota 66; que Bruno Paes Manso, Rafael Soares e Vera Araújo documentaram o avanço das milícias e o assassinato de Marielle Franco; e que repórteres do O Dia foram torturados em 2008 por milicianos — episódio que originou a CPI das Milícias.
Seria mais coerente que as críticas fossem dirigidas às empresas de comunicação, não aos jornalistas que, muitas vezes sob risco de vida, persistem em narrar o que o poder tenta silenciar. A maioria deles não enriquece com isso. Continuam escrevendo por convicção — e por compreender que a imprensa é um dos pilares da democracia, que, por mais imperfeita que seja, ainda é o melhor jogo possível.
Outro dado importante neste momento é a ausência de transparência da Secretaria Estadual da Polícia Militar (SEPM) do Rio de Janeiro. Descobri, no ano passado, conversando com a juíza titular do II Tribunal do Júri, que não temos dados sobre o número de policiais militares que vão a júri popular — como réus ou como vítimas. De setembro do ano passado a dezembro, pedi, via Lei de Acesso à Informação (LAI), esses dados junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e à SEPM. O TJRJ respondeu que o sistema não registra as partes pela profissão, mesmo se tratando de um agente do Estado. E a SEPM disse não ter esses números. Seria o mesmo que confessar que o Estado não tem controle algum sobre a atuação de seus agentes — o que claramente não é verdade.
A Lei de Acesso à Informação (LAI) — Lei nº 12.527/2011 — é um dos pilares da transparência pública no Brasil. Ela concretiza o direito constitucional de acesso à informação, previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que garante a qualquer cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou particular.
Independentemente disso, pesquisas recentes (Quest) mostram que mais de 60% da população apoia ações de extermínio como solução final para o crime — talvez cansada do terror cotidiano. O que constitui um paradoxo.
Contudo, mais de 40% reivindicam como solução o acesso a políticas públicas e direitos básicos — saneamento, moradia, saúde — direitos que começaram a ser estruturados nas primeiras gestões de Lula, mas nunca se consolidaram como política de Estado, especialmente no Rio de Janeiro.
Talvez o verdadeiro enfrentamento à violência não se dê por meio das armas, mas pela afirmação de políticas de distribuição de renda capazes de reconstruir o tecido social. Porque o que está em disputa, no fundo, não é apenas o território, mas a própria ideia de que a vida seja possível — e sustentável.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras