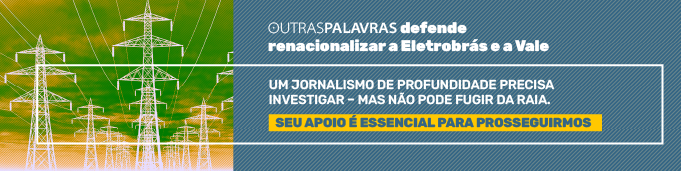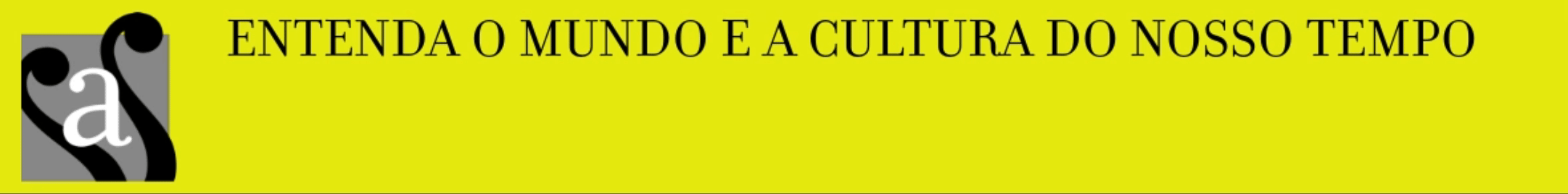Como se oculta o racismo ambiental
Desastres “naturais” no RJ acendem o debate sobre impactos ambientais em áreas periféricas. Porém, órgãos nacionais furtam-se a relacionar riscos com o apartheid social. Seria a lógica de pacto de branquitude ressoando nas políticas públicas?
Publicado 29/01/2024 às 14:06

A mais recente tragédia deflagrada por eventos climáticos extremos, que ocasionou inundações e deslizamentos na região metropolitana do Rio de Janeiro, resultou em 12 mortes e outras duas pessoas desaparecidas, além de bairros inteiros alagados, casas destruídas, linhas de ônibus e estações de trens e metrô paralisadas. Os locais mais atingidos foram bairros da Zona Norte da capital e municípios da Baixada Fluminense.
Em comparação com os demais municípios da região metropolitana, as áreas afetadas são as que apresentam menores rendimentos mensais e a maior proporção de pessoas negras, principalmente mulheres negras, como mostra o Mapa da Desigualdade do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Casa Fluminense. O evento trouxe à tona o debate sobre racismo ambiental, amplificado pelo pronunciamento da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.
O conceito de racismo ambiental foi cunhado na década de 1980 por Benjamin Franklin Chavis Jr., químico, reverendo e liderança do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, ao denunciar a segregação espacial e racial no sul do país, que se tornou uma “zona de sacrifício” de despejo de lixo tóxico em bairros majoritariamente negros. Segundo o pesquisador e ambientalista estadunidense Robert Bullard, o racismo ambiental se refere a qualquer política ou prática que afete ou prejudique de maneira diferente (intencional ou não) indivíduos, grupos ou comunidades com base em raça ou cor.
Em diversos países, a população negra vem debatendo há mais de século sobre as consequências sociais da escravidão. Um dos desdobramentos do racismo estrutural e institucional no Brasil é a Lei de Terras de 1850, a partir da qual a aquisição de lotes, antes pertencentes à Coroa, passou a ser feita por meio de compra e venda, e não pela posse advinda da ocupação. Assim, recém “libertas” em 1888 após 300 anos de exploração, sem acesso a recursos econômicos, a população negra encontrou inúmeras dificuldades na aquisição de propriedades para sua integração e reprodução social.
Com a promulgação da Lei de Terras, as desigualdades espaciais, econômicas e fundiárias são sustentadas e ratificadas pelas desigualdades étnico-raciais. O avanço da urbanização intensificou a criticidade desse cenário, e o retrato que hoje se apresenta ainda é o de uma exclusão territorial baseada em raça e classe social. O racismo ambiental é, portanto, um reflexo dessa interrelação. Desse modo, como uma reatualização das práticas coloniais exploratórias, o que resta à população marginalizada nas cidades são as áreas de risco a desastres, ambientalmente frágeis e carentes de equipamentos públicos.
Ainda que muitos afirmem que os processos naturais perigosos (como inundações, deslizamentos e secas) atingem toda a população exposta, independentemente da classe social ou até mesmo da cor, está claro que os desastres não afetam a todos da mesma maneira. O estudo Injustiça socioambiental e racismo ambiental, desenvolvido em 2022 pelo Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Instituto Pólis), analisou três capitais brasileiras – Belém (PA), Recife (PE) e São Paulo (SP) – fortemente acometidas por desastres deflagrados por fenômenos naturais. A partir dos dados levantados, é possível observar como os impactos ambientais se concentram em territórios periféricos, regiões com maior presença de pessoas não-brancas e com menos acesso a recursos e serviços urbanos e ambientais básicos.
Apesar de os dados estarem defasados, visto que foi tomada como fonte a base de dados geográficos do Censo Nacional de 2010 (o censo disponível à época), o estudo traz um panorama muito condizente com a realidade atual e corrobora a afirmação de que o racismo ambiental está inscrito espacialmente nas cidades brasileiras e nas áreas de risco. Em Belém, com 64% da população autodeclarada negra, 75% das pessoas em áreas de risco eram negras, segundo o estudo. Em Recife, enquanto 55% da população total era negra, nas áreas de risco a inundações essa proporção era de 59%, e nas áreas de risco a deslizamentos, 68% eram negros. Já em São Paulo, com 37% da população autodeclarada negra, nas áreas de risco esse índice era de 55%. A proporção de negros é resultante do somatório de pretos e pardos, variáveis levantadas pelo Censo Nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esta constatação de uma segregação espacial que é, também, racial se repete no cenário internacional – ainda que haja poucos dados disponíveis levantados pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR). Como denunciado pela arquiteta urbanista e pesquisadora Raquel Rolnik durante seu mandato como relatora da ONU-Habitat – narrado no livro Guerra dos Lugares – A colonização da terra e da moradia na era das finanças–, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, as pessoas mais afetadas pelo furacão Katrina foram mulheres negras, homens negros e, em seguida, mulheres brancas. Isto demonstra como o marcador racial é tão revelador das desigualdades quanto o de gênero.
Mesmo que haja um esforço de determinados grupos, militantes, movimentos sociais e pesquisadores em discutir o impacto diferencial dos desastres, atravessado pelo racismo, observa-se, muitas vezes, um esvaziamento do conceito.
Em 2020, o hoje ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida concedeu uma entrevista ao Programa Roda Viva em um momento que escancarou como epidemias e pandemias, como a da covid – que, cabe ressaltar, têm conexões intrínsecas com a degradação ambiental –, trazem impactos ainda mais graves às periferias, regiões onde habitam pessoas não-brancas em maioria. Nesta entrevista, é impossível esquecer o esforço metodológico e o didatismo de um exímio professor como Silvio Almeida em explicar a inseparabilidade entre racismo, capitalismo e a própria gênese do Estado moderno.
O Estado-nação é racista, e isso é observado de maneira inteligível e juridicamente ratificada pela Lei de Terras de 1850, instituída 38 anos antes da lei que determinou a abolição do trabalho escravo no Brasil, a Lei Áurea. Com isso, legisla-se sobre a própria segregação racial que é, ao mesmo tempo, espacial – como exposto aqui no estudo realizado pelo Instituto Pólis.
Nesse sentido, negar e desconsiderar o papel da colonização, da escravidão e da espoliação de determinados corpos, justificadas pela racialização, é desconsiderar que a sociedade brasileira carrega o peso de uma reparação histórica que ainda não se consolidou – nem material nem simbolicamente. Dessa maneira, é preciso reconhecer o papel desse mesmo Estado e de suas instituições na reprodução do racismo.
Racismo institucional e o pacto narcísico da branquitude
Desenvolvido pela Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), o guia de gestão de riscos para gestores locais intitulado Como construir cidades mais resilientes, que versa sobre os benefícios de um processo de planejamento estratégico para a resiliência climática, menciona sobre a aplicação dos “princípios de igualdade de gênero e inclusão”. O guia também comenta sobre a urbanização sustentável como “um processo que promove uma abordagem integrada, sensível ao gênero e em prol dos pobres para os pilares sociais, econômicos e ambientais da sustentabilidade”. Apesar de a perspectiva de gênero ser apresentada no documento, ainda que de modo pouco significativo e que diz respeito a uma equidade abstrata – “gênero” aparece cinco vezes ao longo das 98 páginas do documento –, a interseccionalidade com a questão racial é ausente.
Por sua vez, o Manual de Planejamento para Resiliência Urbana a Desastres elaborado pelo Banco Mundial elenca a questão do gênero dentro das categorias de vulnerabilidade a desastres. No entanto, sem considerar a questão racial. O mesmo pode ser observado em relação ao Marco de Sendai, resultado da III Conferência Mundial sobre Redução de Riscos e Desastres em 2015 – a última assembleia mundial focada no tema. É possível notar como o gênero é tratado nesses documentos e políticas institucionais como uma categoria monolítica, como se a mulher fosse uma classe homogênea e universal – e, como se sabe, o universal é o lugar branquitude.
O cenário de omissão se repete nos instrumentos e políticas públicas para gestão e redução do risco de desastres no Brasil. Desenvolvida numa parceria entre o IBGE e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – localizado institucionalmente no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações –, a Base Territorial Estatística de Risco (BATER) é uma ferramenta que permite a associação entre os resultados do censo demográfico e do mapeamento das áreas de risco. Para fazer a associação entre os dados censitários e as áreas de risco, e assim gerar informações sobre as populações nelas residentes, foi necessário compatibilizar as geometrias das fontes de dados devido às diferenças entre a natureza dessas informações geográficas. A BATER possibilitou essa associação e, por meio dela, torna-se possível estimar a população em risco e caracterizar suas condições de vulnerabilidade.
Ainda que haja insuficiências nessa metodologia para que a BATER seja utilizada como um instrumento eficiente de gestão de riscos e desastres pelo poder público municipal – problemas esses relacionados, entre outras coisas, à escala de análise –, o desenvolvimento de uma base de dados nacional e pública que leva em conta os parâmetros sociais da população exposta ao risco de desastres é um grande avanço. Todavia, cabe aqui destacar o seu papel na reprodução do que se entende como racismo institucional, e que contribui para que não sejam adotadas políticas públicas ambientais antirracistas.
Dentre os dados levantados nacionalmente pelo Censo, a BATER elenca diversos parâmetros das populações expostas ao risco baseado na categorização de variáveis. São elencadas 135 variáveis da base de dados do IBGE por total de domicílios e 183 por total de moradores. São disponibilizadas na BATER as seguintes variáveis indicadoras de vulnerabilidade a desastres: escolaridade, idade, rendimento per capita, sexo dos responsáveis pelo domicílio (visto que o IBGE não classifica por gênero), abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, acesso à energia elétrica, condição de ocupação do domicílio (se alugado, cedido, quitado etc.), tipo de domicílio (casa, apartamento, vila, condomínio etc.), bem como o cruzamento entre essas variáveis – o que dá, por fim, uma categorização de 135 variáveis nas amostras por domicílios e 183 nas amostras por moradores.
Cientificamente, o risco a desastres é considerado como o resultado da interseção entre a suscetibilidade de determinada área ao fenômeno geológico (inundação, deslizamento, seca), a exposição dos elementos e pessoas ao evento e a vulnerabilidade da população exposta. No entanto, apesar de os parâmetros que compõem a BATER terem sido elencados a partir de um referencial bibliográfico de classificação da vulnerabilidade, a variável raça não é sequer considerada.
Desse modo, sabendo que a população negra se encontra em situação de maior vulnerabilidade social, econômica, ambiental e habitacional se comparada à população branca, há que se questionar o porquê da não racialização dessas variáveis. Houve uma escolha de não se categorizar racialmente a setorização de risco na BATER.
Embora o próprio Censo, levantamento que alimenta a BATER, conte com dados raciais em sua base, a escolha deliberada em não os utilizar demonstra aquilo que a pesquisadora Cida Bento, em sua tese de doutorado intitulada Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público, conceitualiza como “pacto narcísico da branquitude”. Para Cida Bento, doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o pacto narcísico da branquitude está presente em uma cumplicidade não verbalizada entre pessoas brancas e que pode ser expressa em políticas públicas sem comprometimento com uma transformação social antirracista.
Essa prática de silenciamento do racismo pelas instituições em nível nacional acompanha a agenda global para redução de riscos, como observado nos documentos anteriormente mencionados do Banco Mundial e da UNISDR – ambos os organismos pertencentes ao Sistema ONU. Ainda que a pauta da igualdade de gênero seja abordada não somente nos debates sobre redução do risco de desastres, mas também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, nota-se como a pauta da igualdade racial é suprimida, minimizada, quando não ignorada.
É necessário, portanto, colocar em debate que isso a que nomeio “desracialização institucional do gênero” – e das próprias questões econômicas – faz parte do pacto narcísico da branquitude que molda as instituições. Ainda que haja o reconhecimento de que, quando nas mesmas condições socioeconômicas, as mulheres se encontram em situação de maior vulnerabilidade que os homens aos desastres socionaturais, não se considera o dispositivo racial.
Essa desracialização do gênero diz respeito não a indivíduos, mas a um conjunto de práticas que respondem por instituições que se inserem no bojo de uma estrutura racista – sejam os órgãos que elaboraram a metodologia, sejam as universidades e sua produção científica utilizada como referencial teórico. Por isso, as concepções do racismo institucional e estrutural, propostos por Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural, são centrais para se compreender a dinâmica do racismo ambiental como mais uma de suas expressões.
A transmissão secular de privilégios entre os brancos atravessa gerações e mantém as relações de dominação. Portanto, é urgente incidir nas políticas e discursos racistas perpetuados pelas instituições e que se evidenciam pelo silenciamento diante dessas práticas. Justamente por isso, a discussão sobre o racismo ambiental e sua relação com os desastres socionaturais deve ser uma pauta transversal a todos os Ministérios, seus órgãos e secretarias, e não uma agenda exclusiva do Ministério da Igualdade Racial. A luta antirracista perde em amplitude quando restrita àqueles espaços que muitos brancos veem, de maneira equivocada, como aglutinadores de “pautas identitárias” – como se o ser branco não fosse também uma identidade, e, ainda, hegemônica.
Por fim, é preciso que a branquitude (lugar de onde falo) entenda de uma vez por todas a sua responsabilidade em um país social e ambientalmente desigual, bem como o seu papel na perpetuação do racismo. Seja na produção científica, na produção de políticas públicas ou na produção capitalista do espaço, segregada e racista em si mesma. As instituições, acadêmicas ou governamentais, também devem responder por isso.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras